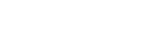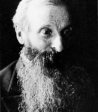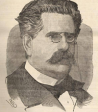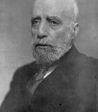Adolfo Coelho, por João Leal
Adolfo Coelho
Promotor e interveniente das célebres Conferências
do Casino, historiador da literatura, introdutor em Portugal dos estudos
linguísticos e da pedagogia, Francisco Adolfo Coelho (1847-1919) foi sobretudo
- a par de Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso, Leite de Vasconcelos e Rocha
Peixoto - uma das figuras decisivas na constituição e desenvolvimento inicial
da etnografia e da antropologia em Portugal, no decurso do período que se
estende dos anos 70/80 do século XIX até às primeiras décadas do século XX.
De acordo com as linhas gerais desse período,
a obra de Coelho começou por privilegiar o estudo da literatura e das tradições
populares. Na área da literatura popular, Adolfo Coelho organizou nomeadamente
a primeira recolha sistemática de contos populares portugueses (Os Contos
Populares Portugueses, 1879) assim como as primeiras recolhas de literatura
e tradições infantis (Jogos e Rimas Infantis, 1883). Na área das
tradições populares, além de inúmeros outros estudos avulsos, Coelho foi o
autor dos Materiais para o Estudo das Festas, Crenças e Costumes Populares
Portugueses (1880) - publicados na Revista de Etnologia e Glotologia por
ele fundada e dirigida - e que constituem uma das mais importantes recolhas de
tradições populares da antropologia portuguesa oitocentista. A este interesse
inicial pela literatura e pelas tradições populares, Adolfo Coelho acrescentou,
posteriormente aos anos 80 do século XIX, um interesse mais alargado por outros
domínios da cultura popular portuguesa. Esse processo de alargamento temático
da sua pesquisa é testemunhado antes do mais pelos programas de estudos
etnográficos e antropológicos de que foi o autor, com particular destaque para
aquele que foi publicado sob o título Exposição Etnográfica Portuguesa (1896).
Mas encontrou também eco num conjunto de investigações concretas, entre as
quais se salientam Os Ciganos de Portugal (1892), diversos estudos sobre
cultura material (A Caprificação, 1896, Alfaia Agrícola Portuguesa,
1901), e, sobretudo, os ensaios consagrados à análise, a partir de um ponto de
vista antropológico, de questões de natureza pedagógica (Os Elementos
Tradicionais da Educação, 1883, A Pedagogia do Povo Português,
1898 e Cultura e Analfabetismo, 1916).
Caracterizada por uma importante abertura
temática, a obra de Adolfo Coelho pode também ser vista como um lugar onde se
cruzam de forma simultaneamente eclética e rigorosa os diferentes modelos
teóricos que, na época, se encontravam à disposição dos estudiosos da cultura
popular. Nas áreas da literatura e das tradições populares, as referências
teóricas usadas por Coelho vão do difusionismo pré-evolucionista de Theodor
Benfey à mitologia comparada de Max Müller e ao evolucionismo de Tylor e Lang.
Na sua restante produção antropológica, é possível detetar, a par de uma
importante influência evolucionista, uma certa abertura relativamente ao
difusionismo alemão e, mesmo, em relação à Escola Sociológica Francesa de
Durkheim e Mauss.
Resultando de um esforço multifacetado e
irrequieto para enraizar em Portugal uma tradição de estudos antropológicos
atenta aos desenvolvimentos que a disciplina conhece internacionalmente entre
os anos 70 do século XX e o início do século XX, a obra de Adolfo Coelho deve
também ser vista como um lugar onde ganha corpo uma reflexão sobre Portugal e
sobre a cultura popular portuguesa marcada por um dos grandes temas
estruturantes do pensamento português oitocentista: o tema da decadência e da
regeneração nacionais. A opção de Coelho por esse tema remonta à sua participação
nas Conferências do Casino. Mas tem também expressão na sua obra
antropológica, onde é possível encontrar uma permanente oscilação entre duas
formas de encarar a cultura popular portuguesa. Esta ora é vista como um fator
de regeneração suscetível de contrariar a decadência do país, ora é vista como
um domínio ele próprio afetado pelo irreversível declínio da nacionalidade.
Pela vontade de saber que nela se expressa,
pelo espírito inovador e irrequietismo intelectual que a atravessam, pelo seu
comprometimento com as grandes questões do seu tempo, a obra etnográfica e
antropológica de Adolfo Coelho deve pois ser vista como um dos "lugares de
memória" da antropologia e da cultura portuguesas.
BIBLIOGRAFIA
1. Obras Etnográficas e Antropológicas
de Adolfo Coelho
1873, "Romances Galliciennes", Romania, II, 259-260.
1874, "Romances Sacros. Orações e
Ensalmos Populares do Minho", Romania, III, 263-278.
1875a, "Belfegor", Cenáculo,
I, 65-80.
1875b, "Os Elementos Tradicionais da
Literatura. Os Contos", Revista Ocidental, II, 329-346; 425-444.
1875c, Recensão Crítica a «Antichi Usi e
Tradizioni Popolari Siciliane nella Festa di S. Giovanni Battista» de Giuseppe
Pitré, Bibliografia Crítica de História e Literatura, I, 302-304.
1875d, Recensão Crítica a «Os Contos Populares
Sicilianos» de Giuseppe Pitré, Cenáculo, 193-200.
1878a, "Materiais para o Estudo da Origem
e Transmissão dos Contos Populares", O Positivismo, I, 74-83.
1878b, "A Morte e o Inverno", Renascença,
I, 10.
1878c, "Notas Mitológicas", Renascença,
I, 47-48.
1879a, Contos Populares Portugueses,
Lisboa, F. Plantier [reeditados em 1985, Lisboa, Publicações Dom Quixote].
1879b, "Romances Populares e Rimas
Infantis Portuguesas", Zeitschrift für Romanische Philologie, III,
61-72; 193-199.
1880a, "Esboço de Um Programa de Estudos
de Etnologia Peninsular", Revisla de Etnologia e Glotologia, I,
1-4.
1880b, "Estudos para a História dos
Contos Tradicionais", Revista de Etnologia e Glotologia, I,
108-144.
1880c, "Materiais para o Estudo das
Festas, Crenças c Costumes Populares Portugueses", Revista de Etnologia
e Glotologia, I, 5-34; 49-108; 145-207.
1880d, "Variedades", Revista de
Etnologia e Glotologia, I, 207-208.
1880e, "Variedades. Rimas Infantis",
Revista de Etnologia e Glolologia, I, 48.
1881a, "Etnografia Portuguesa. Costumes e
Crenças Populares", Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 2ª série,
n.º 6, 403-433, nos. 7 e 8, 633-668.
1881b, "As Lendas da Serra da
Estrela", Diário de Noticias de 21/9, 1.
1881c, "Notas Mitológicas. O Tangromangro
e os Turanianos", Renascença, I, 165-176.
1882a, "Algumas Palavras sobre a Nossa
Vida Nacional", Jornal do Comércio de 11/11, 1.
1882b, Contos Nacionais para Crianças,
Porto, Livraria Universal de Magalhães & Moniz.
1882c, "O Estudo das Tradições Populares
na Itália", Jornal do Comércio de 29/9, 1.
1882d, "O Estudo das Tradições Populares
na Espanha", Jornal do Comércio de 27/10, 2.
1882e, "O Estudo das Tradições Populares
em França", Jornal do Comércio de 8/12, 1-2.
1882f, "Etnografia" [Recensão Crítica a
«Contribuições para Uma Mitologia Popular Portuguesa», fasc. I-VI; «Tradições
Populares Portuguesas», fasc. VII-XII; «Mitografia Portuguesa»; «Ensaios
Críticos», fasc. I-III e «Portuguese Folk-tales» de Z. Consiglieri Pedroso]. Jornal
do Comércio de 22/12, 1-2.
1882g, Recensão Crítica a «Tradições Populares
de Portugal» e ao «Anuário para o Estudo das Tradições Populares Portuguesas»
de José Leite de Vasconcelos, Jornal do Comércio de 28/9, 1-2.
1883a, "Ditados Tópicos de
Portugal", Anuário para o Estudo das Tradições Populares Portuguesas,
I, 47-49.
1883b, Os Elementos Tradicionais da
Educação. Estudo Pedagógico, Porto, Livraria Universal de Magalhães &
Moniz.
1883c, "Etnologia. As Superstições
Portuguesas", Revista Científica, I, 512-528; 561-578.
1883d, Jogos e Rimas Infantis, Porto,
Livraria Universal de Magalhães & Moniz.
1883e, "Os Jogos e as Rimas Infantis de
Portugal", Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 4.ª Série,
n.º 12, 567-595.
1883f, "A Oliveira de Guimarães", Anuário
para o Estudo das Tradições Populares Portuguesas, I, 17-18.
1883g, Recensão Crítica a «Il Vespro nelle
Tradizioni Popolari della Sicilia» de Giuseppe Pitré, Anuário para o Estudo
das Tradições Populares Portuguesas, I, 91-92.
1884, "Les Ciganos. A propos de la
Communication de M. P. Bataillard «Les Gitanos d’Espagne et les Ciganos de
Portugal»", Congrés International d’Anthropologie et d’Archéologie
Pré-Historique. Compte-rendu de la Neuviéme Session à Lisbonne 1880, Lisboa,
Academia das Ciências, 667-681.
1885a, "A Filha Que Amamenta o Pai",
Revista do Minho, I, 73.
1885b, "As Maravilhas do Velho", Revista
do Minho, I, 61-62.
1885c, "O Médico Aprendiz (Facécia
Popular)", Revista do Minho, I, 21.
1885d, Tales of Old Lusitania, from
Folklore of Portugal [trad. de Henriqueta Monteiro], London, Ywan
Sonnenschein.
1885e, "Tradições Relativas às Sereias e
Outros Mitos Similares", Archivio per lo Studio delle Tradizioni
Popolari, IV, 325-360.
1887a, "Os Ciganos de Portugal", Revista
Lusitana,I, 3-20.
1887b, "Notas e Paralelos Folclóricos",
Revista Lusitana, I, 166-174; 246-259; 320-331.
1890, Esboço de Um Programa para o Estudo
Antropológico, Patológico e Demográfico do Povo Português. Secção de Ciências
Étnicas da Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisboa, Tip. do Comércio de
Portugal.
1892, Os Ciganos de Portugal. Com Um Estudo
sobre o Calão. Memória Destinada à X Sessão do Congresso Internacional
dos Orientalistas, Lisboa, 1982, Lisboa, Imprensa Nacional.
1895, "Tradições Populares Portuguesas. O
Quebranto", Revista de Ciências Naturais e Sociais, III, 117-124;
169-185.
1896a, Portugal e Ilhas Adjacentes.
Centenário do Descobrimento da Índia. Trabalho Apresentado à Exposição
Etnográfica Portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional.
1896b, "Tradições Populares Portuguesas.
A Caprificação", Revista de Ciências Naturais e Sociais, IV,
113-128.
1898, "A Pedagogia do Povo
Português", Portugalia, I, 57-78; 201-226; 475-496.
1900, "De Algumas Tradições de Espanha e
Portugal A Propósito da Estantigua", Revue Hispanique, VII,
390-453.
1901, "Alfaia Agrícola Portuguesa.
Exposição da Tapada da Ajuda em 1898", Portugalia, I, 633-649.
1910a, "A Cultura Mental do
Analfabetismo", Boletim da Assistência Nacional aos Tuberculosos,
v, 1-19.
1910b, "Atraso da Cultura em Não Analfabetos",
Boletim da Assistência Nacional aos Tuberculosos, v, 49-75.
1912, "O Estudo das Tradições Populares
nos Países Românicos", Revista Lusitana, xv, 1-70.
1913, "Tomás Pires como
Folclorista", António Tomás Pires (l850-1913), Elvas, Comissão
Central de Homenagem a A. Tomás Pires, 3-6.
1916, Cultura e Analfabetismo, Porto,
Renascença Portuguesa.
1918, João Pateta [ilustrações de Alice
Rey Colaço), Lisboa, Tip. Eduardo Ferreira.
1993a, Festas, Costumes e Outros Materiais
para uma Etnologia de Portugal (Obra Etnográfica, Vol. I) [organização e
prefácio de João Leal], Lisboa, Publicações Dom Quixote.
1993b, Cultura Popular e Educação (Obra
Etnográfica, Vol. II) [organização e prefácio de João Leal], Lisboa,
Publicações Dom Quixote.
2. Estudos sobre Adolfo Coelho e
História da Antropologia Portuguesa
Branco, Jorge Freitas, 1986, "Cultura
como Ciência? Da Consolidação do Discurso Antropológico à Institucionalização
da Disciplina", Ler História, 8, 75-101.
Dias, A. Jorge, 1952, Bosquejo Histórico da
Etnografia Portuguesa, Coimbra, Sep. do Supl. Bibl. da Revista Portuguesa
de Filologia.
Fernandes, Rogério, 1973a, "Esboço
Bibliográfico da Obra de F. Adolfo Coelho", Coelho, F. Adolfo, Para a
História da Instrução Popular em Portugal, Lisboa, Instituto Gulbenkian de
Ciência/ Centro de Investigações Pedagógicas, 201-231.
________ , 1973b, As Ideias Pedagógicas de
F. Adolfo Coelho, Lisboa, Instituto Gulbenkian de Ciência/ Centro de
Investigações Pedagógicas.
Gonçalves, Maria José Leote, 1947,
"Contribuição para a Bibliografia de Adolfo Coelho", Biblos, xxiii,
801-834.
Leal, João, 1993, "Prefácio",
Coelho, Adolfo, Festas, Costumes e Outros Materiais para uma Etnologia de
Portugal (Obra Etnográfica, Vol. I), Lisboa, Publicações Dom Quixote,
13-36.
________ , 1993, "Prefácio", Coelho,
Adolfo, Cultura Popular e Educação (Obra Etnográfica, Vol. II), Lisboa,
Publicações Dom Quixote, 13-23.
________ , 1995, "Imagens Contrastadas do
Povo. Cultura Popular e Identidade Nacional na Antropologia Portuguesa
Oitocentista", Branco, Jorge Freitas e João Leal (eds.), "Retratos do
País. Actas do Colóquio", Revista Lusitana, n.s., 13/14, 125-144.
Perez, Rosa Maria, 1995, "Prefácio",
Coelho, Adolfo, Os Ciganos de Portugal. Com Um Estudo sobre o Calão,
Lisboa, Publicações Dom Quixote, 11-19.
Pina Cabral, João, 1991, "A Antropologia em Portugal Hoje",
Os Contextos da Antropologia, Lisboa, Difel, 11-41.

Almeida Garrett, por Maria Helena Santana
Almeida Garrett
João Batista da Silva Leitão [mais tarde de
Almeida Garrett], nasceu no Porto, em 1799. Aí passou a primeira infância, num
caloroso ambiente burguês que lhe deixaria gratas recordações. Aos 10 anos
parte com a família para os Açores, onde inicia a sua formação literária, sob a
tutela do tio Frei Alexandre da Sagrada Família, bispo de Angra.
Em 1816 ingressa na Universidade de Coimbra,
para seguir estudos de Leis. A vivência académica seria determinante na sua
iniciação política e filosófica. Ainda estudante, participa no movimento
conspirativo que conduziria à revolução de 1820. Paralelamente despontava,
irreverente, a vocação literária: no ano seguinte surgia o seu primeiro livro, O
Retrato de Vénus, um ousado poema que lhe mereceu um processo em tribunal.
No período conturbado que se seguiu, o trajeto
pessoal do escritor (já casado com uma menina elegante, Luísa Midosi)
entrelaça-se com a história política do Liberalismo. A revolução foi um breve
momento de entusiasmo liberal, logo desfeito pela chegada ao poder da fação
conservadora, que apoiava o Infante D. Miguel. Garrett foi obrigado a deixar o
País (entre 1823-26), situação que se repetiria pouco tempo depois (1828-31),
na sequência da abdicação de D. Pedro. No entanto, o escritor encontra na
circunstância penosa do exílio uma oportunidade intelectualmente vantajosa. A
permanência em França e Inglaterra permitiu-lhe conhecer o movimento cultural
europeu, na sua dimensão artística e ideológica. A publicação (ainda em Paris)
dos poemas Camões e Dona Branca – os primeiros textos românticos
portugueses – constitui o resultado mais simbólico e expressivo dessa
experiência.
O regresso a Portugal, em 1832, integrando a
expedição liberal comandada por D. Pedro, constituiu um momento heroico para o
«poeta-soldado», que se incorpora no Batalhão Académico; Garrett foi chamado a
participar nas reformas legislativas do novo regime, mas pouco depois afastado
do poder, sob pretexto de missões diplomáticas no estrangeiro. Voltará à
cena política em 1836, no contexto da «revolução de setembro», pela mão de Passos
Manuel: faz parte das Cortes Constituintes e ajuda a redigir a Constituição de
1838. Além de deputado, desempenha também um papel relevante no programa de
educação cultural setembrista, designadamente na renovação da dramaturgia
nacional: empenha-se na criação da Inspeção Geral dos Teatros, do Conservatório
de Arte Dramática e do futuro Teatro Nacional; no mesmo espírito funda O
Entreato – Jornal de Teatros e leva à cena, com grande êxito, a peça Um
Auto de Gil Vicente.
Durante os anos 40, sob o regime autoritário
de Costa Cabral, Garrett destaca-se na oposição; no entanto, o entusiasmo
e o fervor militante vão-se exaurindo, perante a instabilidade política, o
materialismo triunfante e o próprio desvirtuamento do ideal liberal.
Descontente com o devir da revolução, afasta-se da vida pública em 1847. Desse
desencanto patriótico dão significativo testemunho algumas obras publicadas
neste período, o mais fecundo da criação literária garrettiana (O Alfageme
de Santarém, Frei Luís de Sousa, Viagens na Minha Terra e O Arco
de Sant’Ana, por exemplo).
Em 1851 regressa ao Parlamento, já sob a
acalmia política da Regeneração. Recebe nesta derradeira fase da vida alguns
gestos oficiais de consagração: é feito visconde, em 1851 e nomeado Par do
Reino, no ano seguinte; chega ainda a ocupar um cargo ministerial (Negócios
Estrangeiros), de que seria demitido pouco tempo depois.
Morreu em 9 de dezembro de 1854, depois de uma
vida sentimental romanticamente atribulada: um casamento juvenil mal sucedido,
com Luísa Midosi; a morte precoce da segunda companheira, Adelaide Pastor, que
lhe deixa uma filha ilegítima; e por fim uma paixão adúltera, com a Viscondessa
da Luz, celebrada em versos escandalosos.
Amante de prazeres mundanos, galante e
apaixonado, foi sempre um conspícuo ator do palco social romântico, sabendo
reverter em seu favor a imagem de dandy cosmopolita que sempre cultivou.
No auge de uma carreira brilhante e de uma vida intensamente fruída, Almeida
Garrett podia justamente orgulhar-se da sua eclética presença na cultura
portuguesa de Oitocentos; de ser (palavras suas) «… um verdadeiro homem do
mundo, que tem vivido nas cortes com os príncipes, no campo com os homens de
guerra, no gabinete com os diplomáticos e homens de Estado, no parlamento, nos
tribunais, nas academias, com todas as notabilidades de muitos países – e nos
salões enfim com as mulheres e com os frívolos do mundo, com as elegâncias e
com as fatuidades do século.»
A Obra (sinopse)
Ancorada no tempo histórico do Liberalismo, a
obra literária garrettiana não pode conceber-se alheada do contexto político e
cultural que a motivou. Da mesma circunstância decorre a orientação
‘iluminista’ e eticamente empenhada que desde início o seu trajeto literário
revestiu, por entender que «o poeta é também cidadão».
- A poesia lírica e narrativa dominaria a
primeira fase da sua carreira, ainda oscilante entre a lição do neoclassicismo
convencional e a nova corrente romântica, de inspiração nacionalista. Depois do
controverso Retrato de Vénus (1821) publica, no exílio, os poemas Camões (1825) e Dona Branca (1826) - textos fundadores do
Romantismo português – a que seguiria a coletânea Lírica de João Mínimo (1829). Começou também nesta fase o trabalho de recolha e preparação dos textos
do cancioneiro tradicional português, fonte inspiradora dos poemas narrativos Bernal
Francês e Adozinda (1828). Só posteriormente viriam a lume os três
primeiros volumes do Romanceiro (1843; 1851), ainda hoje em parte
inédito.
- A par da produção literária, o jornalismo
ocupa neste período um lugar importante na sua escrita. Garrett cedo se
apercebeu do imenso poder democratizador da Imprensa nas sociedades modernas
(enquanto formadora da opinião) e saberia tirar excelente partido desse veículo
privilegiado de socialização do público burguês. Já em 1822 lançara um pequeno
jornal mundano – O Toucador (destinado às senhoras). No final dos anos
20 dirigiu dois periódicos de referência, O Português e O Cronista.
Mais tarde fundaria O Português Constitucional (1836) e o jornal teatral
O Entreato (1837). Datam também dos tempos do exílio dois importantes
ensaios: Da Educação (1829), um tratado de filosofia pedagógica dedicado
à futura rainha D. Maria II; e Portugal na Balança da Europa (1830), uma
notável reflexão de índole histórico-política.
A fase da maturidade (década de 40, sobretudo)
seria particularmete fecunda, do ponto de vista literário. Surgem nesta altura
as obras maiores do Autor, abrangendo, com notável versatilidade, a lírica, a
narrativa e o drama.
- Garrett atribuía ao Teatro uma alta função
civilizadora, e empenhou-se intensamente na sua renovação. Queria uma produção
nacional de qualidade, suscetível de elevar o gosto e a cultura do público. A
vocação dramatúrgica, revelada na juventude (as tragédias Catão, Lucrécia e Mérope), conhece a partir de 1838 um novo élan, com o êxito de Um
Auto de Gil Vicente. Seguir-se-ia um conjunto de peças que modelizam, em
diferentes géneros, a sua eclética veia teatral: o drama histórico – O
Alfageme de Santarém, Frei Luís de Sousa, D. Filipa de Vilhena – e a comédia – Falar verdade a mentir, Profecias do Bandarra, Um
Noivado no Dafundo, entre outras. Frei Luís de Sousa (1844) é
reconhecidamente a que melhor realiza o seu ideal de sobriedade artística:
combinando o pathos da tragédia clássica e a atualidade vivencial do
drama familiar, permanece ainda hoje um texto modelar da literatura dramática
nacional.
- A poesia lírica, embora continue em certos
aspetos datada, conhece também uma renovada inspiração. Das duas coletâneas
poéticas desta fase – Flores sem Fruto (1845) e Folhas Caídas (1853), a última é sem dúvida a mais interessante, e onde mais livremente se
expande o individualismo romântico. Aos temas mais convencionais – a divisão
interior, a dialética mundo/espírito, o apelo de um idealismo transcendente (O
Amor, A Perfeição, Deus, como absolutos da inquieta alma poética) –,
acrescenta-se uma nova e ousada expressão do amor, epitomizada no famoso verso
«Não te amo, quero-te!».
- Apesar de escassa, a obra romanesca de
Garrett tem um rasgo inconfundível de originalidade. Viagens na Minha Terra (1843/1846) pode considerar-se a primeira narrativa moderna portuguesa:
utilizando um estilo desenvolto e informal, em diálogo permanente com o leitor,
o autor realiza, à maneira de Stern, uma obra-prima de ironia intelectual; sob
o pretexto de uma crónica de viagem (que também é), oferece-nos uma ampla e
lúcida representação do tempo histórico e social do Liberalismo. Idêntica
estrutura digressiva e aparentemente desconexa caracteriza o romance histórico O
Arco de Sant’Ana (1845/ 1851), um texto polémico e repassado de humor, cuja
ação se reporta a uma revolta popular contra o bispo do Porto, no século XIV.
Ficaria inacabado um terceiro romance, Helena, bem como diversos esboços
narrativos deixados inéditos.
Encontra-se ainda dispersa e carecendo de
estudos temáticos uma vasta produção fragmentária, de natureza literária,
ensaística e jornalística (em particular no domínio da crónica política,
cultural e mundana), bem como diversos discursos e textos de circunstância.
Bibliografia ativa
As Obras de Almeida Garrett encontram-se
atualmente disponíveis em várias edições, designadamente as da Editorial
Estampa e do Círculo de Leitores. Está também em curso, na Imprensa Nacional, a
edição crítica das Obras Completas, dirigida por Ofélia Paiva Monteiro. Edições on-line:
- Projeto Vercial (formato pdf): http://web.ipn.pt/literatura//garrettt.htm
- Página web da Biblioteca Nacional (Biblioteca
virtual de autores portugueses): http://purl.pt/index/Geral/aut/PT/21170.html
- Página web da Assembleia da República
(discursos parlamentares): http://debates.parlamento.pt/monarquia.asp
Bibliografia passiva (seletiva)
Almeida Garrett: um romântico, um moderno (Monteiro, Ofélia;
Santana, M. Helena, org.), 2 vols. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
2003.
AMORIM, Gomes de, Garrett. Memórias
Biográficas. 3 vols., Lisboa, Imprensa Nacional, 1881-1883.
BRAGA, Teófilo, Pref. a, Obras Completas de
Almeida Garrett. 2 vols, Porto, Lello & Irmão, 1963.
Camões. Revista de Letras e Culturas Lusófonas, nº 4 (dedicado a
Garrett), Jan.-Março 1999.
Colóquio/Letras, nº 153-154 (dedicado
a Garrett), Julho-Dez. 1999.
DIAS, Augusto da Costa, «Estilística e
Dialéctica», pref. a Viagens na Minha Terra, 2ª ed., Lisboa, Estampa,
1983.
Id., Fontes Inéditas do Romanceiro
Português. Os Papelinhos de Garrett. Sintra, Câmara Municipal de Sintra,
1988.
FRANÇA, José-Augusto, «Garrett ou a ilusão
desejada», in O Romantismo em Portugal. Estudo de Factos Socioculturais. 2ª
ed., Lisboa, Livros Horizonte, 1993.
LAWTON, R.A., Almeida Garrett. L’Intime
Contrainte. Paris, Didier, 1966.
Leituras. Revista da Biblioteca Nacional, nº 4 (dedicado a
Garrett), 1999.
LIMA, Henrique Ferreira, Inventário do
Espólio Literário de A. Garrett, Coimbra, 1948.
MACHADO, Fernando, Almeida Garrett e a
Introdução do Pensamento Educacional de Rousseau em Portugal, Porto, ASA,
1993.
MONTEIRO, Ofélia Paiva, A Formação de
Almeida Garrett. Experiência e Criação. 2 vols., Coimbra, Centro de Estudos
Românicos, 1971.
Id., «Algumas reflexões sobre a novelística de
Garrett», in Colóquio/Letras, nº 30, Março 1976, pp. 13-29.
Id., «’Ostinato rigore’: a Edição Crítica das
Obras de Almeida Garrett (Propósitos e Questões)», in Crítica Textual e
Edições Críticas. Coimbra, Centro de Literatura Portuguesa, 2005.
Id., O Essencial sobre Almeida Garrett,
Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2001.
RAITT,
Lia Noémia Correia, Garrett and the English Muse. London, Tamesis Books,
1983.
REIS, Carlos; PIRES, M. Natividade, «A.
Garrett e a fundação do Romantismo Português», in História Crítica da
Literatura Portuguesa, Vol. V, Lisboa, Editorial Verbo, 1993.
ROCHA, Andrée Crabbé, O Teatro de Garrett.
Coimbra, Coimbra Editora, 1954.
SARAIVA, António José, «A evolução do teatro
de Garrett», «A expressão lírica do amor nas Folhas Caídas»,«Garrett e o
Romantismo», in Para a História da Cultura em Portugal, vol. II, Lisboa,
Publ. Europa-América, 3ª ed, 1972.
SANTOS, Maria de Lurdes Lima dos, Intelectuais
Portugueses na 1ª metade de Oitocentos. Lisboa,
Presença, 1988.

António Nobre, por Paula Morão
António Nobre
A obra de António Nobre (1867-1900) está
muito marcada pelas paisagens que conheceu, quer se trate do Douro interior e
do litoral a norte do Porto, que conheceu na infância e na juventude, quer de
Coimbra, onde começou estudos de Direito que prosseguiria a partir de 1890 na
Sorbonne, em Paris. Diplomado em 1893, concorreu para um posto
consular; não chegou a ocupá-lo por se encontrar já em luta com a tuberculose,
que o levou à dolorosa peregrinação dos últimos anos de vida, entre sanatórios
na Suíça, a Madeira, os arredores de Lisboa, a casa da família no Seixo e a do
irmão Augusto na Foz (Porto), onde viria a falecer com trinta anos apenas.
Estas circunstâncias não nos importam pelo seu
teor biográfico, que tem aliás conduzido a leituras erróneas (nomeadamente, ler
o Só à luz da doença, a qual só se viria a manifestar depois de
publicada a 1ª edição do livro); estes factos interessam-nos, sim, por abrirem
pistas para a atenção que a sua poesia concede ao real, descrito com minúcia e
afeto, mesmo se à distância da memória e do sentimento de exílio, em todos os
seus livros: Só (1892 e 1898), os póstumos Primeiros versos –
1882-1889 e Despedidas (além de abundante epistolário). O escasso
número de volumes da obra não exclui que ela constitua um marco de referência
da Literatura Portuguesa (à semelhança de outros autores de obra quase única,
como são Cesário Verde e Camilo Pessanha).
Trata-se, de facto, em especial no caso de Só,
de uma obra emblemática em si mesma e do fim-de-século português, combinando a
herança romântica com a estética do Decadentismo e do Simbolismo, que o poeta
bem conhecia (como aliás a geração coimbrã a que pertence): a sobreposição
desses modelos, o seu universo pessoal e o seu talento de poeta fazem nascer
uma voz original, tecendo o sábio trabalho sobre os tipos de verso e de estrofe
mais diversos, sobre o ritmo e formas poéticas clássicas como o soneto ou
outras, com destaque para o poema longo e de construção dialógica (por exemplo,
em “António” ou “Os figos pretos”). Do ponto de vista técnico, trata-se
de uma poesia que parece muito próxima da oralidade, mas tal é desmontado quer
por referências temáticas de requintada estesia, quer pelo uso de versos como o
alexandrino e o decassílabo, a par de outras medidas, combinando com mestria
ritmos sofisticados, ao modo simbolista, mas sem criar a opacidade que se pode
ler em poetas seus contemporâneos (v.g. Eugénio de Castro), antes mantendo uma
cadência cantabile, que qualquer leitor consegue acompanhar - o que não
será alheio ao sucesso atestado pelas múltiplas reedições.
Estes processos enquadram a construção de um
sujeito dramatizado (especialmente visível no jogo de vozes em certos poemas)
que se apresenta como narcísico e dândi, mas que, sob a máscara da ironia,
esconde o pessimismo e o dolorismo de uma descrença individual que retrata a
sua época. No centro desse mundo está um eu forte, escorado na memória
das paisagens e das gentes que foram cenário dos tempos felizes, muito vívidos
mas sem possibilidade de retorno; os poemas tentam combater essa deceção
procedendo ao inventário dos bens passados (lugares, figuras, nomes,
circunstâncias), tentando, pela presentificação e pela hipotipose, ancoradas
numa memória fotográfica, combater a desaparição de tudo isso no abismo da
lembrança. Assim, o sujeito lírico sobrepõe a voz presente com os ecos do
passado - o seu, pessoal ou mesmo familiar, e o dos tempos ancestrais, que o
fundam como indivíduo e como Lusíada, epítome dos feitos heroicos da História
nacional.
Só, António Nobre
O eu cinde-se entre o adulto, António,
e Anto, sua face ora infantil, ora dândi, representando-se como herói e
protagonista mas também como outro, distante de si, numa antecipação do eu fragmentado que os poetas modernistas viriam a trabalhar mais fundamente. O
sujeito assume a carga simbólica de ser um avatar do povo português, o que virá
a prolongar-se no protagonista do poema inacabado “O Desejado“ (in Despedidas):
Anrique, nome arcaizante, corporiza uma variação sobre o mito sebástico, pondo
o mito em ruínas ao espelho do Portugal do fim de oitocentos. Herói derrotado,
António é, no Só, o Princípe fadado para ser “poeta e desgraçado”,
narciso marcado pela memória decetiva de tudo o que foi e não volta mais, só
face a si mesmo e à sua excecional condição de visionário. Uma leitura cuidada
do Só mostra bem que a pretensa ingenuidade visível a uma
primeira leitura é um logro: além do que no plano técnico atrás se
assinalou, para isso contribui muito o labor poético visível no confronto entre
as duas edições feitas em vida de António Nobre, em 1892 e em 1898, não
deixando dúvidas a muito detalhada elaboração que sustenta esta poética e o seu
universo de motivos, de símbolos e de mitos. De estrutura muito mais complexa
que a da editio princeps, a 2ª edição (1898), edifica perfeitamente o
perfil mítico da personagem António / Anto na leitura sequencial dos poemas: o
prólogo “Memória” narra o nascimento mítico-simbólico do eu, seguindo-se-lhe
três secções que desenvolvem a sua história em torno da paisagem rural, paraíso
da inocência, e da Lua, astro especular da melancolia do sujeito; depois vêm as
elegias e os sonetos, desenvolvendo ramificações dos poemas precedentes; enfim,
o livro fecha com o longo poema, em duas secções, intitulado “Males de Anto”, fazendo
a primeira delas a recoleção dos elementos essenciais do universo do eu (no passado feliz e no agora da agonia), sendo a segunda um diálogo
paradramático (em pastiche do Hamlet, de Shakespeare) que conduz, em
clave de aparência risonha, ao seio maternal e anterianamente divino da Morte.
Muito ousada para a época, a sua obra foi lida
por alguns como nacionalista e tradicionalista, mas essas leituras estão hoje
bastante relativizadas, valorizando a crítica mais recente aspetos como aqueles
que acima se repertoriam. Não se trata de uma obra solipsista e ensimesmada,
antes de representar um universo interior e um Portugal que epitomizam o
sujeito finissecular e que expressam uma crise de valores que em breve,
historicamente, há de trazer mudanças de vulto. E é sobretudo, como já se
esboçou atrás, uma das pedras de toque na gestação do sujeito moderno: a
memória não permite recuperar o que se perdeu, os heróis parecem condenados à
derrota, e Narciso tornou-se uma figura decetiva; em lugar dessa felicidade perdida,
o poeta visionário ergue a forma possível de resistência à ruína – a edificação
da Obra, assegurando a permanência do seu nome e a do país que com tanta
subtileza soube retratar.
Bibliografia
Obras de António Nobre:
. Só, 1ª ed. - Paris, Léon Vanier Editeur, 1892;
2ª ed., revista e aumentada: Lisboa, Guillard, Aillaud e Cª, 1898.
Outras edições: Só, reprodução tipográfica da 2ª edição (1898), prefácio e edição de Paula Morão, Porto,
Caixotim, 2000.; Só, prefácio de Agustina Bessa Luís, Porto, Livraria
Civilização, 1983 (reimp.1999).
. Despedidas (1895 - 1899), 1ª ed: Porto, 1902;
Porto, Lello e Irmãos - Biblioteca de Iniciação Literária,
1985.
. Primeiros versos (1882 - 1889), 1ª ed. 1921; Porto,
Lello e Irmão - Biblioteca de Iniciação Literária, 1984.
. Correspondência, 2ª ed. ampliada e revista, organização, introdução e notas de Guilherme de Castilho, Lisboa,
Imprensa Nacional /Casa da Moeda, 1982.
. Alicerces, seguido de Livro de Apontamentos, leitura, prefácio e
notas de Mário Cláudio, Lisboa, Imprensa Nacional /Casa da Moeda, 1983. *
. Correspondência com Cândida Ramos, leitura, prefácio e
notas de Mário Cláudio, Porto, Biblioteca Pública Municipal do Porto, 1982. *
* republicados em: Mário Cláudio. Páginas
nobrianas, Porto, Edições Caixotim, 2004.
Bibliografia passiva essencial:
. António Nobre em contexto, Actas do
Colóquio realizado a 13 e 14 de Dezembro de 2000, Biblioteca Nacional e
Departamento de Literaturas Românicas da Faculdade de Letras de Lisboa,
organização de Paula Morão, Lisboa, Colibri, 2001.
. BUESCU, Helena Carvalhão. Chiaroscuro -
Modernidade e literatura, Porto, Campo das Letras, 2001; «Motivos do
sujeito frágil na lírica portuguesa (entre Simbolismo e Modernismo)» -
pp.188-204, «Metrópolis, ou uma visita ao Sr. Scrooge (a poesia de António
Nobre)» - pp.204-216, «Diferença do campo, diferença da cidade: Cesário Verde e
António Nobre» - pp.216-226.
. CASTILHO, Guilherme de. Vida e obra de
António Nobre, 3ª ed. revista e ampliada, Lisboa, Bertrand, 1980.
. CINTRA, Luís Filipe Lindley. O ritmo
na poesia de António Nobre, edição e prefácio de Paula Morão, Lisboa,
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2002.
. CLÁUDIO, Mário.
a. António
Nobre – 1867-1900 – Fotobiografia, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2001.
b. Páginas
nobrianas, Porto, Edições Caixotim, 2004.
. Colóquio - Letras, nº 127 / 128 -
«Memória de António Nobre», 1993.
. MORÃO, Paula.
a. O Só
de António Nobre – Uma leitura do nome, Lisboa, Caminho, 1991.
b. «António Nobre», in Dicionário de
Literatura Portuguesa, org. e dir. de A. M. Machado, Lisboa, Presença,
1996.
c. «António Nobre», in Dicionário do
Romantismo Literário Português, coord. de Helena Carvalhão Buescu, Lisboa,
Caminho, 1997.
d. Retratos com sombra – António Nobre e os
seus contemporâneos, Porto, Edições Caixotim, 2004.
. PEREIRA, José Carlos Seabra.
a. História crítica da Literatura
Portuguesa – vol VII - Do Fim-de-Século ao Modernismo, Lisboa, Verbo, 1995;
cap. 4 - «António Nobre e o mito lusitanista», pp. 175 - 91.
a. «Nobre
(António Pereira)»,
in Biblos – Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portuguesa,
volume 3, Lisboa, Verbo, 1999.
b. António
Nobre – Projecto e destino, Porto, Edições Caixotim, 2000.
c. O
essencial sobre António Nobre, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
2001.

Eça de Queirós, por Carlos Reis
Eça de Queirós
Tendo nascido na Póvoa do Varzim (25 de novembro de 1845), Eça de Queirós desenvolveu a sua vida literária entre meados
dos anos 60 e 1900, quando, a 16 de agosto, morreu em Paris. Nesse lapso
temporal, Eça marcou a cena literária portuguesa com uma produção literária de
alta qualidade, alguma dela deixada inédita à data da sua morte.
Formado na Coimbra romântica e boémia dos anos
60, o jovem Eça acolhe o ascendente de Antero de Quental como líder de uma
geração de intelectuais abertos ao influxo de correntes estéticas e ideológicas
que se projetam na vida literária desses anos e das décadas seguintes: social
ismo, realismo, naturalismo, etc. (cf. "Um Génio que era um Santo",
in Notas Contemporâneas). Logo depois, em Lisboa e em Évora, Eça de
Queirós conhece a experiência do jornalismo (n’O Distrito de Évora, na Gazeta
de Portugal, onde colabora com folhetins postumamente editados em livro, em
1903, com o título Prosas Bárbaras). A invenção (com Antero e Batalha Reis)
da figura de Carlos Fradique Mendes, bem como a composição d'O Mistério da
Estrada de Sintra (publicado em cartas, em 1870, no Diário de Notícias,
de parceria com Ramalho Ortigão) prolongam ainda o tom e a temática romântica
que caracterizam este Eça em tempo de aprendizagem literária. As Conferências
do Casino (em 1871 e de novo sob o impulso motivador de Antero) representam, na
vida literária de Eça de Queirós e da sua geração, um momento decisivo e de
abertura a novos rumos estéticos e ideológicos: relaciona-se essa abertura com
a análise e com a crítica da vida pública que As Farpas (1871-72, de
novo com Ramalho) haviam iniciado, sob o signo do realismo e já mesmo do
naturalismo emergentes em Portugal.
Eça de Queirós
O facto de ter saído do país, em 1872, quando parte
para o seu primeiro posto consular, em Havana, não impede o romancista de fazer
da crítica à vida pública do seu país um dos grandes vetores da sua obra; a
verdade, porém, é que Eça se vê confrontado com a distância a que se encontra o
espaço português que deveria observar e di-lo numa carta a Ramalho Ortigão, a 8
de abril de 1878: “Convenci-me de que um artista não pode trabalhar longe do
meio em que está a sua matéria artística”. As Cenas Portuguesas (ou Cenas
da Vida Portuguesa) em que
Eça então trabalhava acabariam por abortar, enquanto projeto
de ampla crónica de costumes, envolvendo um conjunto harmonioso de narrativas.
Apesar disso, o escritor consagra o fundamental da sua atividade literária,
entre meados dos anos 70 e meados dos anos 80, à escrita, publicação e revisão
de romances de índole realista e naturalista: O Crime do Padre Amaro (com
três versões, muito distintas entre si, em 1875, 1876 e 1880), O Primo
Basílio (1878) e, de certa forma ainda, A Relíquia (1887) e Os
Maias (1888), este último um romance em que eclecticamente se fundem temas
e valores de feição diversa. Depois disso, Eça privilegia áreas temáticas e
opções narrativas nalguns casos claramente afastadas das exigências do realismo
e do naturalismo: a novela O Mandarim (1880) fora um primeiro passo
nesse sentido, tal como o serão depois, em registos peculiares, A
Correspondência de Fradique Mendes (1900), A Ilustre Casa de Ramires (1900)
e A Cidade e as Serras (1901), romance que, tal como os dois títulos
anteriores, deve considerar-se semi-póstumo. Por publicar ficam tentativas em
estado diverso de elaboração: A Capital, O Conde Abranhos, Alves
& Cª. e A Tragédia da Rua das Flores, este último um projeto
claramente abandonado pelo escritor.
No seu conjunto, a obra queirosiana exibe
formas e temas muito distintos, pode dizer-se até que em constante (ainda que
lenta) mutação. Essa mutação traduz não apenas um sentido agudo de insatisfação
estética (patente também no facto de o escritor ter submetido muitos dos seus
textos a profundos trabalhos de reescrita), mas também uma grande capacidade
para intuir e até antecipar o sentido da evolução literária que no seu tempo
Eça testemunhou e viveu.
Eça de Queirós
Enquanto intérprete do realismo e do
naturalismo, Eça tratou de cultivar um tipo de romance consideravelmente
minudente, no que toca aos espaços representados e às personagens
caracterizadas; entre estas, avultam os tipos sociais, emblematicamente
remetendo para aspetos fundamentais da vida pública portuguesa, na segunda
metade do século XIX. À medida que as referências realistas e naturalistas se
vão diluindo, é a representação da vida psicológica das suas personagens que
começa a estar em causa: a articulação de pontos de vista individuais, bem como
o tratamento do tempo narrativo constituem domínios de investimento técnico que
o romancista trabalhou com invulgar perícia; por outro lado, as histórias
relatadas diversificam-se e dão lugar a diferentes estratégias narrativas:
narradores de feição testemunhal (n'O Mandarim, n'A Relíquia e n'A
Cidade e as Serras) alternam, então, com formas de representação próximas
do relato biográfico e do testemunho epistolográfico (n'A Correspondência de
Fradique Mendes).
As transformações assinaladas são
indissociáveis de balizas ideológicas e periodológicas que, sem excessiva
rigidez mas com inegável significado epocal, devem ser mencionadas. Deste modo,
enquanto aceita os princípios do realismo e do naturalismo, Eça procura fundar
a representação narrativa na observação dos cenários que privilegia; as personagens
que os povoam (Luísa, Amaro, Amélia) surgem como figuras afetadas por fatores
educativos e hereditários que os romances tratam de pôr em evidência, de forma
normalmente muito crítica. Já, contudo, a terceira versão d'O Crime do Padre
Amaro abre caminho a indagações de natureza histórica e a incursões pelo
simbólico. Em harmonia com estas tendências, Os Maias revelam um
aprofundamento notório dessas indagações: não é possível entender o trajeto
pessoal das personagens mais relevantes sem aludirmos ao devir de uma família
que, ao longo do século XIX, testemunha, em várias gerações, os acontecimentos
históricos, políticos e culturais que decisivamente marcam a vida pública
portuguesa. Para além disso, o protagonista do romance vive o destino trágico
que, pela via do incesto, conduz a família à extinção. O que permite remeter
esse destino, de novo pelo eixo das ponderações simbólico-históricas, para o
plano das vivências coletivas; essas vivências envolvem a geração de Eça e,
mais alargadamente, o Portugal decadente do fim do séc. XIX, que é aquele que
Carlos da Maia observa em Lisboa, quando por algum tempo regressa, em 1887. Por
fim, este Eça é o mesmo que recupera a figura de Carlos Fradique Mendes,
fazendo dele não apenas uma manifestação de dandismo, mas também a voz autónoma
que valoriza o genuíno e os costumes pitorescamente portugueses, ao mesmo tempo
que refuta (a exemplo do que se lerá n’A Cidade e as Serras) os excessos
da civilização moderna e finissecular.
Eça de Queirós
O romance A Ilustre Casa de Ramires vem
a ser, por um lado, a cedência de Eça àquilo a que chamara “o latente e culpado
apetite pelo romance histórico” e, por outro lado, uma nova oportunidade para
pensar ficcionalmente a História de Portugal, em tempo de profunda crise
institucional, com alcance nacional (Ultimato inglês, 31 de janeiro, iminência
de bancarrota, etc.) Ao mesmo tempo, Gonçalo, protagonista d'A Ilustre Casa
de Ramires, faz-se novelista de circunstância e, desse modo, projeta no
romance traumas e fantasmas que eram os do próprio Eça (o receio do plágio, as
dificuldades da escrita, a sedução pela Idade Média, etc.).
Refira-se ainda que a produção literária de
Eça de Queirós não se limitou ao romance, mas estendeu-se também ao conto: em
certos contos queirosianos (p. ex.: em Civilização), estão
embrionariamente inscritos temas e ações desenvolvidas em romances. Para além
disso Eça colaborou em diversas publicações periódicas ou de circunstância
(jornais, revistas, almanaques); nalgumas daquelas chegou a manter uma regular
atividade de cronista, na qual se surpreende o observador privilegiado e
atento à vida política internacional, à evolução dos costumes, à atividade
cultural, etc. Foi também por acreditar na capacidade de intervenção destes
seus escritos que Eça projetou, fundou e dirigiu a Revista de Portugal (1889-1892).
Apesar da vida efémera que teve, a Revista de Portugal conseguiu
afirmar-se como uma das mais cultas e elegantes publicações da sua época,
buscando superar, com a ajuda de vozes prestigiadas (além de Eça, Oliveira
Martins, Antero de Quental, Alberto Sampaio, Moniz Barreto, Teófilo Braga, Luís
de Magalhães, Rodrigues de Freitas, etc.), o clima de vencidismo a que o
escritor também chegou a aderir.
Bibliografia ativa: O Mistério da
Estrada de Sintra (Lisboa, 1870); O Primo Basílio (Porto-Braga,
1878); O Crime do Padre Amaro (Porto-Braga, 1880); O Mandarim (Porto,
1880); A Relíquia (Porto, 1887); Os Maias (Porto, 1888); Uma
Campanha Alegre (Lisboa, 1890-91); A Correspondência de Fradique Mendes (Porto,
1900); A Ilustre Casa de Ramires (Porto, 1900); A Cidade e as Serras (Porto,
1901); Contos (Porto, 1902); Prosas Bárbaras (Porto, 1903); Cartas
de Inglaterra (Porto, 1905); Ecos de Paris (Porto, 1905); Cartas
Familiares e Bilhetes de Paris (Porto, 1907); Notas Contemporâneas (Porto,
1909); Últimas Páginas (Porto, 1912); A Capital (Porto, 1925); O
Conde d'Abranhos (Porto, 1925), Alves & Cia. (Porto, 1925); O
Egipto (Porto, 1926); A Tragédia da Rua das Flores (Lisboa, 1980). A
edição crítica das obras de Eça de Queirós está a ser publicada pela Imprensa
Nacional-Casa da Moeda desde 1992.
Bibliografia passiva: M. Sacramento, Eça
de Queirós - uma estética da ironia, 2ª ed., Lisboa, Imp. Nacional-Casa da
Moeda, 2002; E. Guerra da Cal, Língua e estilo de Eça de Queiroz, 4ª
ed., Coimbra, Almedina, 1981; A. Machado da Rosa, Eça, discípulo de
Machado?, 2ª ed., Lisboa, Ed. Presença, 1979;
A. Coleman, Eça de Queirós and European Realism, New York-London, New
York Univ. Press,
1980; J. Gaspar Simões, Vida e obra de Eça de Queirós, 3ª ed., Amadora,
Bertrand, 1980; A. José Sarai va, As ideias de Eça de Queiroz, Lisboa,
Gradiva, 2000; Carlos Reis, Estatuto e perspectivas do narrador na ficção de
Eça de Queirós, 3ª ed., Coimbra, Almedina, 1984; id. e M. do Rosário
Milheiro, A construção da narrativa queirosiana, Lisboa, Imp.
Nacional-Casa da Moeda, 1989; id., O Essencial sobre Eça de Queirós, 2ª
ed., Lisboa, Imp. Nacional-Casa da Moeda, 2005; Lucette Petit, Le champ du
signe dans le roman queirosien, Paris, F. C. Gulbenkian, 1987; I. Pires de
Lima, As máscaras do desengano. Para uma abordagem sociológica de "Os
Maias" de Eça de Queirós, Lisboa, Caminho, 1987; Alan Freeland, O
leitor e a verdade oculta. Ensaio sobre Os Maias, Lisboa, Imp. Nac.-Casa da
Moeda, 1989; A. Campos Matos (coord.), Dicionário de Eça de Queiroz, 2ª
ed. e suplemento, Lisboa, Caminho, 1992-2000; Fagundes Duarte, A fábrica dos
textos, Lisboa, Cosmos, 1993; Carlos Reis (coord.), Eça de Queirós.
1845-1900 [documento electrónico: http://purl.pt/93], Lisboa, Bib. Nacional,
2000.
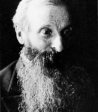
Guerra Junqueiro, por Elisabeta Mariotto
Abílio Manuel Guerra Junqueiro(1850-1923)
Abílio Manuel Guerra Junqueiro nasceu em Freixo de Espada à Cinta a 17 de setembro de 1850. Fez os estudos os preparatórios no Liceu de Bragança e frequentou o curso de Teologia da Universidade de Coimbra durante dois anos. Compreendendo que não tinha vocação para a vida religiosa, transferiu-se para o curso de Direito daquela universidade, concluindo-o em 1873. Ainda durante o curso de Direito, começou a manifestar notável talento poético, sendo considerado um dos nomes mais promissores da nova geração de poetas portugueses da época. Em 1868, publicou o opúsculo O Aristarco Português e a obra Baptismo de Amor. Sendo antimonárquico, manifestou as suas ideias republicanas em 1873, publicando o poemeto À Hespanha Livre, em que celebrou a proclamação da república espanhola. Em 1874, publicou A Morte de D. João, obra que obteve um enorme sucesso, recebendo apreciações críticas de escritores de grande renome como Camilo Castelo Branco e Joaquim Pedro de Oliveira Martins. Em Coimbra, começou a sua carreira literária promissora como redator do jornal literário A Folha. Transferindo-se posteriormente para Lisboa, foi colaborador de jornais políticos e artísticos, como o jornal A Lanterna Mágica. Entrou para o funcionalismo público e tornou-se secretário-geral do governador civil dos distritos de Angra do Heroísmo e de Viana do Castelo. Em 1878, foi eleito deputado pelo círculo de Macedo de Cavaleiros, nunca deixando de se dedicar, entretanto, à literatura. Publicou, em 1879, a obra A musa em Férias, que reúne grande parte das suas poesias. Faleceu em Lisboa a 7 de julho de 1923.
Guerra Junqueiro teve um papel extremamente importante no cenário cultural de Portugal. Foi classificado o "Victor Hugo português" devido à sua importância e foi considerado, por muitos, o maior poeta social português do século XIX. Recebeu o reconhecimento de escritores contemporâneos importantes, como Eça de Queirós, que o considerou "o grande poeta da Península", como Sampaio Bruno, que viu nele o maior poeta da contemporaneidade, e como Teixeira de Pascoais, que o classificou "um poeta genial". Fernando Pessoa também manifestou a sua admiração por Guerra Junqueiro, classificando Pátria uma obra "superior aos Lusíadas". Da mesma forma, Miguel de Unamuno, escritor espanhol, também considerou-o "um dos maiores poetas do mundo".
A sua obra poética aborda temas sociais que refletem o panorama da sociedade portuguesa dos finais do século XIX e do início do século XX. O anticlericalismo e o ataque à burguesia corrupta são temas marcantes da obra de Guerra Junqueiro, que apresenta um profundo descontentamento com a decadência de Portugal e com postura do rei Dom Carlos e de toda a dinastia Bragança face ao destino do país. Considerava que Portugal estava entregue a uma monarquia que indiferente ao desenvolvimento do país, e desprovida de moral, porquanto entregue aos interesses ingleses. Junqueiro considerava, portanto, que o país havia entrado numa decadência moral e que só poderia se reerguer quando conseguisse redefinir a sua própria identidade, através da revolução moral.
Guerra Junqueiro foi militante do Partido Progressista durante o período monárquico e colaborou ativamente com a República após a sua instauração, em 1910. Obteve reconhecimento dos seus serviços em prol do ideal Republicano, sendo nomeado Ministro Plenipotenciário da República Portuguesa na Suíça, função que ocupou até 1914.
Manifestou a sua oposição à monarquia em poemas como Finis Patriae, Canção do Ódio e Pátria, instigando nos seus leitores um sentimento de descrédito em relação ao sistema de governo em vigor. Uma das maiores críticas de Junqueiro à monarquia deveu-se à cedência do rei Dom Carlos ao Ultimato Inglês, que resultou, em 1890, no fim do projeto colonial português do Mapa Cor-de-Rosa. Este projeto visava os territórios da costa de Angola à costa Moçambicana.
Guerra Junqueiro marcou, inegavelmente, o cenário da cultura e da literatura portuguesas. Foi reverenciado por vários escritores de renome e continua a ser considerado uma figura de extrema importância no panorama português. Além de grande escritor, foi uma personagem politicamente ativa na instauração da república portuguesa. Obteve reconhecimento não só a nível nacional, mas também internacional, tendo ultrapassado fronteiras e influenciado pensadores de todo o mundo.
Bibliografia ativa
• Amaral, M. (2000-2012). Guerra Junqueiro. In: Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico. Edição eletrónica: http://www.arqnet.pt/dicionario/guerrajunqueiro.html
• Calafate, P. (2006). Portugal como problema – Século XIX: A decadência. Lisboa : Fundação Luso-Americana.
• Pereira, H. M. S. (2008). Guerra Junqueiro. In: Revisitar e Descobrir Guerra Junqueiro. Universidade Católica Portuguesa do Porto. Edição eletrônica: http://artes.ucp.pt/guerrajunqueiro/revisitardescobrir.html
Bibliografia passiva
• Junqueiro, G. (1874). A Morte De D. João. Porto : Livraria More.
• Junqueiro, G. (1875). Contos para a Infância.
• Junqueiro, G. (1879). A Musa Em Férias. Lisboa : Typographia Universal.
• Junqueiro, G. (1885). A velhice do padre eterno. Porto : Livraria Minerva.
• Junqueiro, G. (1890). Finis Patriae. Porto : Empreza Litteraria e Typographica-Editora.
• Junqueiro, G. (1892). Os Simples. Porto : Typographia Occidental.
• Junqueiro, G. (1903). Oração Ao Pão. Porto : Livraria Chardron.
• Junqueiro, G. (1915). Pátria. Porto : Livraria Chardron.
• Junqueiro, G. (1920). Poesias Dispersas. Porto : Livraria Chardron.
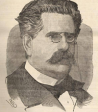
João de Andrade Corvo, por Elisabeta Mariotto
João de Andrade Corvo(1824-1890)
João de Andrade Corvo nasceu em Torres Novas, a 30 de janeiro de 1824. Dez anos depois, transferiu-se com a família para Lisboa, realizando os seus estudos na capital portuguesa. Foi um homem de múltiplos interesses. Frequentou os cursos de Matemática e Ciências Naturais, Engenharia e Medicina e desempenhou as funções de agrónomo, professor, escritor e político. Como agrónomo, desenvolveu vários estudos sobre a agricultura e foi professor do Instituto Agrícola e da Escola Politécnica de Lisboa. Publicou, na Coleção Biblioteca de Agricultura e Ciências, algumas obras dedicadas ao ensino agrícola. Desenvolveu desde cedo o gosto pela poesia, publicando poesias e artigos em vários jornais e revistas da época. Foi um dos fundadores da Sociedade Escolástica Diplomática, a que pertenceram Mendes Leal, Tomaz de Carvalho, Luiz Augusto Palmeirim, entre outros. Escreveu notáveis romances, como Um ano na Corte (1850-1851), a sua obra mais popular, e Sentimentalismo (1871). Também foi autor de textos dramáticos históricos, como Um Conto ao Serão (1852), O Astrólogo (1859) e O Aliciador (1859), peças às quais o público respondia com entusiasmo. Como político, iniciou sua carreira, em 1865, como deputado, assumindo, no ano seguinte, o cargo de ministro das obras públicas até 1868, contribuindo para o desenvolvimento da rede ferroviária nacional. Em 1869, foi enviado para Madrid para exercer o cargo de Ministro de Portugal, permanecendo um ano na capital espanhola. Foi ministro dos negócios estrangeiros de Portugal, entre 1871 e 1878, durante o governo de Fontes Pereira de Melo. Faleceu a 16 de fevereiro de 1890.
Andrade Corvo foi um homem que se dedicou ao desenvolvimento de Portugal. Acreditava que o crescimento do país dependia do investimento no ensino, considerando que a civilização, a liberdade, o progresso e a indústria do país estariam diretamente ligados ao nível de instrução do seu povo. Além disso, acreditava que Portugal tinha forças e oportunidades suficientes para se reerguer enquanto potência e, para tanto, deveria dedicar-se ao trabalho, à ciência, à educação moral e à correta administração pública. Só assim o país conseguiria o respeito que outros Estados de pequeno porte como a Dinamarca, a Bélgica e a Holanda haviam conquistado.
Enquanto ministro dos negócios estrangeiros, lançou, em 1877, um conjunto de iniciativas de exploração destinadas a conhecer a zona que separava Angola de Moçambique. Dez anos mais tarde, durante o mandato do ministro dos negócios estrangeiros Henrique de Barros Gomes, lançou-se o projeto que ficou conhecido como "Mapa cor-de-rosa". Neste projeto, Portugal manifestava a sua pretensão a unificar os territórios de Angola e Moçambique numa vasta faixa que ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. No entanto, isto provocaria uma crise nas relações diplomáticas de Portugal com o Reino Unido, pois ambos manifestavam o interesse em dominar a mesma região. O objetivo inglês era construir uma ferrovia que atravessaria todo o continente africano, ligando o Cairo à Cidade do Cabo.
Andrade Corvo foi um homem à frente do seu tempo. Anteviu os perigos dos ideais germânicos, fundados sobre a identidade de raça e o desejo de supressão dos pequenos estados para a formação de um grande império. Considerava que as teorias antropológicas que vigoravam no século XIX e que dividiam a humanidade em distintas raças eram uma fantasia perigosa e que tinham sido inventadas para justificar as violências e o desejo de dominação dos grandes impérios. Acreditava que não existia fundamento na separação da humanidade em raças, constituídas por nacionalidades específicas, pois os Estados Unidos representavam o exemplo oposto de que uma nação erguida pela convergência de povos poderia se edificar e atingir um alto nível de desenvolvimento capaz de conquistar o respeito das outras nações desenvolvidas. Desta forma, Andrade Corvo considerava que a única garantia de superação das ameaças que enfrentavam as pequenas e médias nações europeias, no confronto das ambições imperiais germânicas, seria a criação de uma instituição que regulasse o direito internacional e a autonomia das nações. Além disso, também esteve envolvido em projetos de desenvolvimento das colónias portuguesas, na criação de infra-estruturas nas colónias e no processo de abolição da escravatura.
João de Andrade Corvo é considerado, por muitos, o pai da diplomacia portuguesa moderna. Revelou, durante toda a sua vida, uma capacidade única de analisar os principais desafios políticos e as estratégias que Portugal deveria adotar para se reerguer como potência e conquistar o respeito perante o mundo.
Bibliografia ativa
• Lemos, R. S. (2007). João de Andrade Corvo: ficha bio-bibliográfica. Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Edição Eletrónica: http://www.fd.unl.pt/ConteudosAreasDetalhe_DT.asp?I=1&ID=1736
• Calafate, P. (2006). Guerra Junqueiro. In: Portugal como problema – Século XIX: A decadência. Lisboa : Fundação Luso-Americana.
• Calafate, P. (2009). O Pensamento Político e Geoestratégico de João de Andrade Corvo. Revista Estudos Filosóficos. Vol. 3 (67-75).
Bibliografia passiva
• CORVO, J. A. (1854) - Memória sobre a mangra : ou doença das vinhas nas ilhas da Madeira e Porto Santo. Lisboa : Typ. da Academia Real das Sciencias.
• CORVO, J. A. (1868) - A questão do caminho de ferro de sueste. Lisboa : Typographia Portugueza.
• CORVO, J. A. (1863) - Um ano na corte. Porto : Em casa da viuva Moré.
• CORVO, J. A. (1866) - A instruçäo publica : discurso pronunciado nas sessöes de 9, 10 e 11 de Abril de 1866. Lisboa : Typ. da Sociedade Typ. Franco-Portugueza.
• CORVO, J. A. (1870) – Perigos. Lisboa : Typ. Universal.
• CORVO, J. A. (1871) - O sentimentalismo. Coimbra : Imprensa da Universidade.
• CORVO, J. A. (1874) - Aboliçäo da emigraçäo de chinas contratados em Macau : relatório e documentos apresentados às cortes na sessäo legislativa de 1874. Lisboa : Imprensa Nacional.
• CORVO, J. A. (1875) - Agricultura : relatório sobre a Exposiçäo Universal de Paris. Lisboa : Imprensa Nacional.
• CORVO, J. A. (1881) - Da água para as regas. Lisboa : Empreza Commercial e Industrial Agrícola.
• CORVO, J. A. (1881) - Economia política para todos. Lisboa : Empreza Commercial e Industrial Agricola.
• CORVO, J. A. (1883) - Os motores na indústria e na agricultura Lisboa : Empreza Commercial e Industrial Agricola, 1883.- 158 p. : il. ; 16 cm.
• CORVO, J. A. (1883-1887) - Estudos sobre as províncias ultramarinas. Lisboa : Typografia Real das Sciencias.

Lopes de Mendonça, por Carlos Leone
Lopes de Mendonça
Lopes de Mendonça (1826-1865) foi um homem do
seu tempo, naquele sentido pleno em que moldou esse tempo tanto quanto ele o
moldou a si. A sua notoriedade literária chegou cedo e disso mesmo dá conta Memórias,
surgido em 1855 mas com uma história crítica que o próprio livro reflete. E
descreve, no Prólogo, ao dar conta da opção crítica que presidiu ao livro:
trata-se não de uma segunda edição de Ensaios de Crítica e Literatura (1849) mas sim de uma reedição desse primeiro trabalho, «aumentando-o,
corrigindo-o, transformando-o, e procurando pô-lo a par deste género de
publicações nos outros países.» (p. VII/VIII). Ao optar por esse trabalho de
reescrita segundo padrões não paroquiais (europeus, como ficará claro),
preterindo a simples segunda edição dos anteriores Ensaios (depois de a
primeiro ter sido praticamente esgotada em nove meses), volume que reunira
capítulos soltos de crítica publicados no jornal A Revolução de Setembro,
Lopes de Mendonça optou por uma crítica modelada segundo a norma moderna,
descendente da cultura iluminista já pós-revolucionária. Essa opção fez das
suas Memórias o primeiro trabalho consequente de crítica literária em Portugal. Não se
trata de aderir sem reservas ao seu estilo, aos seus juízos ou às suas
conceções teóricas, apenas de reconhecer nesta obra (e não na anterior, como o
próprio autor admitia) o primeiro trabalho de crítica literária moderna
realizado em Portugal com uma dimensão capaz de o fazer resistir ao seu tempo.
Apesar de tentar ombrear com os modelos
críticos do pós-romantismo europeu, no qual as doutrinas materialistas
começavam a adquirir uma influência teórica pouco depois confirmada com o
Positivismo, a família natural da crítica de Lopes de Mendonça é a que
encontramos no Addison do Spectator, no Shaftesbury de Characteristics
of Men, Manners, Opinions, Times, no Montesquieu de Lettres Persannes,
no Diderot dos Salons: a crítica literária como crítica social, assente
na mundaneidade dos modernos e da sua filosofia anti-Escolástica. Muito
anterior à crítica especializada, que só depois de o Romantismo ter diminuído a
cultura das Luzes e de o Positivismo instaurar a ambição científica em todos os
domínios veio a ser possível, a crítica literária iluminista é um assunto
social, de sociedade, não de uma arte ou sequer «de Arte». Longe de se
descaracterizar pela repetida incursão politica ou de se desqualificar pelas
opiniões pessoais insuficientemente fundamentadas (na crítica de poesia, em
particular), a atividade crítica de Lopes de Mendonça ganha nisso mesmo a sua
personalidade. Não enquanto crítica especializada ou, romanticamente,
portuguesa, mas enquanto discurso crítico moderno, a par do género dessas
publicações noutros países europeus. Diferencia-o dos seus antecessores a sua
(falhada) ambição sistematizadora, que o leva a refazer o seu próprio trabalho
segundo padrões universais, rompendo com a norma localmente instituída e que,
antes e depois dele, modula o polemismo português típico. Contra esse polemismo
estéril, a tentativa de cientifização da crítica não chega a resultar, mas é
próxima da que se tentava pela Europa moderna desde há muito.
Vale a pena prestar atenção a quanto do que
vultos maiores da crítica do século XX português (António Sérgio, Eduardo
Lourenço), colhendo-as na geração de 70, mantêm de observações de Lopes de
Mendonça como as que se encontram no final das secções II e III da Introdução.
Sem estranheza, portanto, aqui encontramos já
formatada uma história crítica da literatura moderna em Portugal: a última
Arcádia; a Nova Literatura personificada em Garrett (não só a geração romântica
mas também a geração seguinte, incluindo jornalismo e teatro); os
contemporâneos do dia (1855). E já se vê formado o cânone das Letras
portuguesas segundo o critério emancipatório das Luzes: Bocage e Filinto
Elísio, culminando em
Almeida Garrett e Herculano, aos quais se juntam António de
Oliveira Marreca e, a alguma distância, Andrade Corvo. Que Castilho esteja
quase ausente é sinal de agudeza crítica quanto ao destino do
“ultrarromantismo”.
A investidura da crítica numa função social
positiva, propondo um cânone cultural que cabe ao país cultivar e desenvolver, merece
nota: «cultural», dizemos, no sentido amplo, pois inclui a arte poética e, além
dela, a prosa não apenas de ficção mas também de investigação e,
inclusivamente, de ação política; em resumo, o primado da comunicação entre os
criados e os seus públicos. «Cultural», ainda, na perspetiva anteriormente
subordinada à anterior, especificamente moderna: concatenando as sucessivas
gerações e correntes literárias e sociais entre si. «Cultural», por fim, ao
unificar essa comunidade de experiências e de épocas em função da referência à
vida europeia, sem que a valorização dos autores nacionais careça do depreciar
do estrangeiro.
Foi esse espírito que o animou desde a sua
precoce estreia literária (Cenas da vida contemporânea, publicado com
apenas dezassete anos) até à loucura que o vitimou nos anos imediatamente
anteriores à sua morte, quando já era sócio efetivo da Academia das Ciências
(desde 1855), catedrático de Literatura Moderna no Curso Superior de Letras
(desde 1860). A sua obra crítica, a que o salva do esquecimento, será em breve
republicada pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda, que também tem no prelo O Essencial sobre Crítica Literária em Portugal, de nossa autoria, onde o
seu trabalho é enquadrado historicamente. Entre a literatura disponível, consulte-se
«Mendonça António Pedro Lopes de», por Jacinto do Prado Coelho, em Prado Coelho, J.,
dir., Dicionário de Literatura, vol. II, pp.631/2, Mário Figueirinhas
Editor, Porto, 1997 (4ª ed.).

Oliveira Martins, por Sérgio Campos Matos
Oliveira Martins
Historiador, economista, antropólogo, crítico
social e político, a sua ação e os seus trabalhos suscitaram controvérsia e
tiveram considerável influência, não apenas em historiadores, críticos e
literatos do seu tempo e do século XX, mas na própria vida política portuguesa
contemporânea.
Desde 1867, Oliveira Martins experimentou
diversos géneros de divulgação cultural: romance e drama históricos, ensaios de
reflexão histórica e política e doutrinária. Mas essas tentativas, de valor
desigual, não alcançaram grande sucesso. Em 1879, dá-se uma inflexão no seu
percurso intelectual, com o início da publicação da Biblioteca das Ciências
Sociais, de sua exclusiva autoria. Embora alheia a intenções doutrinárias e ao
espírito de sistema dominante na época (positivismo, determinismos vários), não
deixaria de, pontualmente, exprimir estas tendências. Pelo largo fôlego e
diversidade de matérias que pretendia abarcar - história peninsular, história
nacional e ultramarina, história de Roma, antropologia, mitos religiosos,
demografia, temas de economia e finanças, etc. - a coleção constituiu um
projeto sem precedentes no meio cultural português da Regeneração, com o
objetivo de generalizar todo um conjunto de saberes entre um público alargado.
O empreendimento editorial ficaria marcado pelo autodidatismo de Oliveira
Martins, uma curiosidade científica sem limites e um bem evidente pendor
interdisciplinar e globalizante. Esse autodidatismo é afinal indissociável do
próprio percurso biográfico e profissional do historiador.
Na verdade, devido à morte do seu pai, Martins
não chegara a concluir o curso liceal e cedo se dedicou à atividade
profissional como empregado em duas casas comerciais (1858-70). Exerceu depois
funções de administrador de uma mina, na Andaluzia (Santa Eufémia, 1870-74). De
novo em Portugal, dirigiu a construção da linha ferroviária do Porto à Póvoa e
Famalicão e foi administrador da respetiva Companhia ferroviária. Entretanto
era eleito presidente da Sociedade de Geografia Comercial do Porto (1880) e
depois nomeado diretor do Museu Industrial e Comercial do Porto (1884). Exerceu
ainda as funções de administrador da Régie dos Tabacos (desde 1888), da
Companhia de Moçambique (1888-90) e fez parte da comissão executiva da
Exposição Industrial Portuguesa (1888).
Em 1885, Oliveira Martins aprofundava a sua
prática de redator da imprensa periódica com a fundação d'A Província (1885)
e depois, já em Lisboa, d'O Repórter (1888). Para além destas
experiências profissionais tão diversas e na sequência de várias candidaturas a
deputado (1878-83), convicto da necessidade de reformar profundamente a vida
política nacional, aderia ao Partido Progressista (1885), partido em que
dinamizaria a chamada Vida Nova. Era eleito deputado (sucessivamente, de 1886 a 1894) e, em 1899,
nomeado Ministro da Fazenda no ministério de José Dias Ferreira. Desempenharia
este cargo apenas por quatro meses, devido a divergências com o chefe do
governo.
Na sua extensa obra podem distinguir-se as
seguintes fases:
1867-1871: estreia, em múltiplos géneros
(romance histórico, drama, crónica, crítica literária, artística, social e
política); é uma fase sincrética de experimentação de ideias e primeiros
tentâmes críticos.
1872-78: ensaio de temática histórica (1872 e
1878); crítica social e política; textos de doutrina e reflexão sobre o
socialismo (1872-73); crónica de atualidade, de incidência diversa (Revista
Ocidental, 1875); desenvolve-se e alarga-se, em termos de problemática, a
anterior experimentação, centrando-se agora em três grandes áreas, a história e
o pensamento social e político e os estudos sobre finanças. De apologista de
uma república social e federalista, na sequência do malogro da República em
Espanha, depressa passa a crítico sagaz do republicanismo (1873-74) e teórico
do socialismo catedrático.
1879-1885: publicação da Biblioteca das
Ciências Sociais, de temática muito variada, em que à aprendizagem do seu autor
corresponde, de imediato, a apresentação pública dos resultados dessa
autoformação. Define-se um vasto projeto de divulgação cultural e científica.
Aprofunda-se e estrutura-se a visão da história de Portugal e abrem-se novos
campos à sua curiosidade científica: geografia, arqueologia, antropologia,
sociologia, psicologia coletiva, economia.
1885-1894: crónica política na imprensa
periódica, ensaísmo histórico (por exemplo, Portugal nos Mares), biografias
históricas e crónicas de viagem (respeitantes a Inglaterra e Espanha).
Corresponde, em parte, à fase de mais intensa atividade política (1885-1892),
ao abandono da Biblioteca das Ciências Sociais e à conceção de um plano de
biografias históricas (desde 1889), concentrando-se o seu interesse no período
áureo da história nacional (dos finais do séc. XIV ao séc. XVI) e nas suas
personalidades representativas (Os filhos de D. João I, Nuno Álvares Pereira,
D. João II). Esse tempo forte encerrava, a seu ver, as melhores experiências
políticas e éticas para o presente.
Oliveira Martins
Quer no plano historiográfico quer no plano
político-ideológico, Oliveira Martins ocupa um lugar singular no panorama
cultural e político português da segunda metade do séc. XIX, que sempre resiste
a quaisquer etiquetas que se lhe aponham. Teórico do socialismo de inspiração
proudhoniana, evoluindo depois no sentido do reconhecimento da relevância da
autoridade e da razão de Estado? Mentor do grupo dos Vencidos da Vida, no final
do decénio de 1880? Historiador romântico, cultor de uma história narrativa,
dramática, de expressão artística? Historiador metafísico, pessimista, filósofo
da história? Divulgador de uma antropologia de cariz evolucionista e
darwinista? Poderá admitir-se tudo isso, sem dúvida. Mas também é verdade que
não deixou de manifestar uma intencionalidade científica (veja-se, por exemplo
a História da Civilização Ibérica, 1879), teorética, de integração de
uma pluralidade de métodos e saberes (geografia, antropologia, economia,
ciência política, psicologia, história) numa leitura global da evolução
histórica nacional e da própria humanidade.
Como também evidenciou, sobretudo nas
biografias históricas do final da vida, a par de indiscutíveis qualidades
literárias e ensaísticas, empenho na pesquisa e utilização de fontes, nas quais
procura escorar as suas obras. Sem esquecer a preocupação em rever aturadamente
os seus trabalhos e pontos de vista anteriores: lembrem-se as sucessivas
reestruturações a que submeteu o plano da Biblioteca das Ciências Sociais, a
revisão da História de Portugal, tendo em conta diversas críticas que
lhe haviam sido dirigidos, a reelaboração de Os Lusíadas. Ensaio
sobre Camões e a sua obra (versão original, 1872) em 1891, ou as diversas
propostas de periodização do percurso histórico nacional que sucessivamente
adotou. Todavia, as qualidades do prosador de largos dotes artísticos
sobrepõem-se, por vezes, às exigências do rigor histórico.
No plano político, não deixa de ser
sintomático o modo tão díspar como a sua intervenção na sociedade portuguesa
foi julgada pelos seus contemporâneos. É um facto que aceitou o apoio de
regeneradores numa candidatura independente a deputado (1878). Tal como
aceitaria ser candidato oficial pelo Partido dos Operários Socialistas de
Portugal às eleições de 1879, ou ainda integrar uma lista republicana candidato
às eleições municipais de 1883, no Porto. São conhecidas as suas intenções
reformadoras quando aderiu ao Partido Progressista (1885). Percurso muito
criticado e discutido, deve contudo compreender-se tendo em conta a apreciação
que Oliveira Martins fazia da vida política nacional e das suas insuficiências
no ponto de vista da relação entre os políticos e a sociedade civil e sobretudo
das limitações da opinião pública. Bem como nunca perdendo de vista o quadro do
seu projeto reformista, independente e suprapartidário, não prescindindo,
todavia, do concurso dos partidos políticos, e tendo em conta a subalternização
da questão formal do regime (atitude que partilhava com Antero de Quental). A
multiplicidade de pontos de vista que sempre aflora em tão diversa reflexão
teórica complexifica extremamente a compreensão do seu legado.
Ainda hoje a obra de Oliveira Martins suscita
interpretações e juízos tão desencontrados como há um século atrás - sobretudo
no que respeita à sua historiografia e ao pensamento social e político que
deixou. O que permanece indiscutível é a indelével presença do seu espírito
crítico entre nós, a fina lucidez da sua compreensão dos problemas portugueses.
Bibliografia Ativa
(selecionada)
Febo Moniz, Lisboa, Empresa Lusitana Ed. s.d. (1867);Os Lusíadas. Ensaio sobre Camões e a sua obra, em relação à sociedade portuguesa e ao movimento da Renascença, Porto, Imprensa Portuguesa Ed., 1872.;Teoria do socialismo (pref. de António Sérgio), Lisboa, 1952 (1.ª ed., 1872);Portugal e o Socialismo (pref. de António Sérgio), 2.ª ed., Lisboa, 1953 (1873);A circulação fiduciária. Memória apresentada à Academia Real das Ciências de Lisboa, Lisboa, PAMP, 1923 (1878);História da civilização ibérica, 8.ª ed., Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 1946 (1.ª ed., 1879);História de Portugal. Edição crítica (introd. de Isabel de Faria e Albuquerque e pref. de Martim de Albuquerque), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, s.d. [1988];Portugal Contemporâneo, 3 vols., Lisboa, Guimarães Editores,, 1953 (1.ª ed., 1881);O Brasil e as colónias portuguesas, 5.ª ed., Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 1920 (1.ª ed., 1880);Elementos de Antropologia, 7.ª ed., Lisboa, Guimarães Editores, 1954 (1880);As raças humanas e a civilização primitiva, 4.ª ed., 2 vols., Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 1921 (1881);Sistema dos mitos religiosos (pref. de José Marinho), 4.ª ed., Lisboa, 1986 (1882);Quadro das instituições primitivas, 3.ª ed., Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 1909 (1883);O Regime das riquezas, 3.ª ed., Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 1917 (1883);Tábuas de cronologia e geografia histórica, Lisboa, Livraria de António Maria Pereira Ed., s. d. ( 1.ª ed., 1884);Política e economia nacional, 2.ª ed., Lisboa, Guimarães Editores, 1954 ( 1.ª ed, 1885);História da República Romana, 4.ª ed., 2 vols, Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 1927 (1885);Camões, Os Lusíadas e a Renascença em Portugal, 4.ª ed., Lisboa, Guimarães Ed., 1986 (texto correspondente ao da 2.ª ed., 1891);Portugal nos Mares, Lisboa, Guimarães Editores, 1994 (1889 e 1924);Os filhos de D. João I, 2 vols., Lisboa, Guimarães Editores, 1983 (1.ª ed., 1891);A vida de Nun'Álvares, 9.ª ed., Lisboa, Guimarães Editores, 1984 (1.ª ed., 1893);A Inglaterra de hoje, Lisboa, Guimarães Editores, 1951 (1893);Cartas peninsulares, Lisboa, Liv. António M.Pereira, 1895;O Príncipe Perfeito (pref. de H. Barros Gomes), 6.ª ed., Lisboa, Guimarães Editores, 1984;Dispersos (sel., pref. e notas de António Sérgio), 2 vols, Lisboa, Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, 1924;Correspondência de J.P. de Oliveira Martins, (pref. e anotada por F.A. de Oliveira Martins, Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 1926;Perfis (pref. de Luís de Magalhães), Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 1930;Páginas desconhecidas (Introd., coorden. e notas de Lopes de Oliveira), Lisboa, Seara Nova, 1948;Literatura e filosofia (pref. de Cabral do Nascimento), Lisboa, Guimarães Editores, 1955;O Jornal, Lisboa, Guimarães Editores, 1960;Política e história, 2 vols., Lisboa, Guimarães Editores, 1957; Fomento rural e emigração, 3.ª ed., Lisboa, Guimarães Editores, 1994.
Bibliografia Passiva
Cadernos do Noroeste. Actas do Colóquio Oliveira Martins, Instituto
de Ciências Sociais, Universidade do Minho, vol.7, n.º 1, 1994;
Pedro CALAFATE (introd. e selecção de textos),
Oliveira Martins, Lisboa, Ed. Verbo, 1990;
Fernando CATROGA, "História e ciências
sociais em Oliveira
Martins", in História da História em Portugal sécs.
XIX-XX, Lisboa, Círculo de Leitores, 1996, pp. 117-159;
Fidelino de FIGUEIREDO, História d'um "Vencido
da Vida", Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 1930;
Paulo FRANCHETTI, "No centenário da morte
de Oliveira Martins", J.M. Eça de Queiroz, J.P. Oliveira Martins, Correspondência, São Paulo, UNICAMP, 1995;
V. Magalhães GODINHO, Ensaios III.
Sobre teoria da história e historiografia, Lisboa, Sá da Costa, 1971;
Manuel Viegas GUERREIRO, Temas de
antropologia em
Oliveira Martins, Lisboa, ICLP, 1986;
Amadeu Carvalho HOMEM, "Oliveira
Martins", História de Portugal (dir. de João Medina), vol. IX,
Lisboa, Ediclube, 1993, pp.145-148;
Inventário do espólio de
Oliveira Martins (org. de Maria José
Marinho e A. Braz de Oliveira; cronol. de Carlos Maurício), Lisboa, 1995;
Joaquim Pedro de Oliveira Martins. In Memoriam, s.l.,
n.d.(1902);
Eduardo LOURENÇO, "Lembrança de Oliveira
Martins - história e mito", Oliveira Martins e os críticos da História
de Portugal, Lisboa, IBNL, 1995;
Álvaro M. MCHADO, Les romantismos au Portugal.
Modeles etrangers et orientations nationales, Paris, FCG, 1986;
Guilherme de Oliveira MARTINS, Oliveira
Martins. Uma biografia (pref. de Eduardo Lourenço), Lisboa, s.d.;
Sérgio Campos MATOS, "Na génese da teoria
do herói em Oliveira
Martins", Estudos em homenagem a Jorge Borges de
Macedo, Lisboa, INIC, 1992, pp. 475-504;
Id., Historiografia e memória nacional no Portugal do século XIX (1846-1898), Lisboa, Ed. Colibri 1998;
Carlos C. MAURÍCIO, A imagem humana.
O caso de Oliveira Martins, 1867-1955, Lisboa, ISCTE, 1995 (dactil.);
João MEDINA, As Conferências do Casino e o
socialismo em Portugal, Lisboa, Pub. D. Quixote, 1984;
Augusto Santos SILVA, Oliveira Martins e o socialismo, Porto,
Afrontamento, 1987;
Id., Palavras para um país, Lisboa,
Celta, 1997;
Albert SILBERT, "Oliveira Martins et
l'Histoire", Regards sur la génération portugaise de 1870, Paris,
FCG, 1970;
Abdoolkarim A. VAKIL, "Caliban na
Biblioteca: Oliveira Martins, ciências sociais, cidadania e colonialismo",
Estudos Portugueses e Africanos, n.º 25/26, 1995, pp.109-127;
"Leituras de Oliveira Martins. História,
ciências sociais e modernidade económica" (1995), Actas do Congresso
Internacional Oliveira Martins: literatura, história e política (no
prelo).
Obras Traduzidas em Espanhol
História de la Civilización Ibérica (trad. Luciano Taxonera), Madrid, 1894 (há várias outras edições, de 1926, 1946, etc.; há
também duas edições pub. em
Buenos Aires, com revisão e prólogo de Xavier Bóveda, 1944 e
1951 e uma sob o título de La Civilización Ibérica, México,
Ed. Intercontinental, 1944);
Los Hijos de D. Juan I. pincepes, guerreiros y navegadores fundadores de un imperio, Buenos Aires, Ed. Atalaya, 1946;
Navegaciones y Drescobrimentos de los portugueses anteriores al viaje de Colon, Madrid, 1892 (há trad. francesa
de Alexandre Boutroue, Paris, 1893).
Obras Traduzidas em Inglês
The History of Iberian Civilization (trad. de Aubrey Bell e pref. de S. Madariaga), Londres, Oxford University Press, 1930;
The Golden Age of Prince Henry the Navigator (trad.
de Os filhos de D. João I com anotações de Johnston Abraham and W. E.
Reynolds, Londres, Chapman and Hall, 1914;
The England of Today (trad. de C.J. Wildey),
Londres, G. Allen, 1896.
Iconografia
Duas fotos reproduzidos em Guilherme de
Oliveira MARTINS, Oliveira Martins. Uma biografia (pref. de Eduardo
Lourenço), Lisboa, s.d, junto à p.208 e uma terceira reproduzido em António José Saraiva,
História ilustrada das grandes literaturas. Literatura portuguesa, Lisboa,
Ed. Estúdios Côr, 1966, p.240
Trechos Significativos de Algumas Obras
História de Portugal. Edição crítica (introd.
de Isabel de Faria e Albuquerque e pref. de Martim de Albuquerque), Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, s.d. [1988];
"Advertência, vol. I, pp.VII-VIII
(concepção de história: "A história é sobretudo uma lição moral (...)
facto incontestável na vida das sociedades", 1.32, p. VIII);
Idem, vol.II, p.262 (sobre D. João VI:
"Representante quase póstumo.... filha do Barbadão")
História da Civilização Ibérica, 8.ª ed.,
Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 1946 (1.ª ed., 1879): livro IV, cap. 11
pp.221-222 ( o misticismo espanhol: "A força criadora da natureza produziu
espontaneamente um fenómeno singular na Europa (...) Marrocos e a
Espanha"; o futuro dos povos peninsulares: Livro Quinto, cap. III,
pp.327-328: "Nós acreditamos firme e diremos até piamente (...) a Espanha
do passado");
Portugal contemporâneo, vol. 3, Lisboa,
Guimarães Ed., 1953, Livro VI, cap-IV- Conclusões, pp.302-310 (reflexão sobre
Portugal e os seus problemas cerca de 1881: "O que nos interessa a nós
saber(...) Ser-lhe-á dado acordar ainda a tempo?"
História da República Romana, 4.ª ed., vol.II,
Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 1927 (1885), pp.357-359: "Finalmente! As
províncias estavam submetidas (...) acabara de reduzir a pó a força
antiquíssima do Senado."(sobre César).

Alexandre Herculano, por Ana Maria dos Santos Marques
Alexandre Herculano
Nascido em 28 de março de 1810, Alexandre
Herculano estuda Humanidades no colégio dos Oratorianos com vista à matrícula
na Universidade, mas a cegueira do pai força-o a abdicar desse projeto e a
limitar-se a um curso prático de Comércio, estudos de Diplomática (Paleografia)
e de Línguas. Desde muito jovem que a sua vocação para as letras se manifesta:
lê e traduz escritores românticos estrangeiros, como Schiller, Klopstock, ou
Chateaubriand, escreve poesia, conhece Castilho e frequenta os salões da
Marquesa de Alorna.
Em 1831, depois do envolvimento na conspiração
de 21 de agosto contra o regime absolutista de D. Miguel, exila-se primeiro em
Inglaterra e depois em França. Aqui, e mais concretamente na biblioteca
de Rennes, Herculano dedica-se ao estudo e inicia-se em Thierry, Guizot, Victor
Hugo e Lamennais, autores que influenciarão profundamente a sua obra.
Em 1832, chega à ilha Terceira, nos Açores,
integrado na expedição liberal liderada por D. Pedro e responsável pelo cerco
do Porto. Nesta cidade, e depois da vitória liberal, é nomeado, em 1833,
segundo bibliotecário da Biblioteca Pública e procede à sua organização.
Colabora no Repositório Literário (1834-1835) com vários artigos, dos quais se destacam dois que podem ser vistos
como uma primeira teorização portuguesa do Romantismo. O primeiro, “Qual é o
estado da nossa literatura? Qual o trilho que ela hoje deve seguir?”, apresenta
um diagnóstico da literatura portuguesa e avança uma solução para o seu estado
de decadência: o conhecimento das literaturas estrangeiras, principalmente da
alemã, uma das primeiras em que o Romantismo se implantou. No outro texto, “Poesia
– Imitação – Belo - Unidade”, Herculano sublinha a necessidade de a literatura
portuguesa se voltar para as suas origens e traduz uma consciência nacional e
moral que limita a visão da estética romântica europeia, condenando a
“imoralidade” e a “irreligião” que, em sua opinião, Byron representava. Esta
consciência nacional e moral está presente desde o início da sua poesia,
através de um paralelismo estabelecido entre religião e pátria, espécie de
profissão de fé do poeta romântico, que Herculano integrou numa visão liberal
da sociedade, visível, por exemplo, em “A Semana Santa” (1829).
Em 1836, vem a público a primeira série de A
Voz do Profeta (2ª série, 1837), folheto de caráter panfletário contra a
Revolução de setembro, escrito no estilo grandiloquente de Paroles d’un
Croyant de Lamennais. No ano seguinte, funda e dirige O Panorama,
revista literária responsável pela divulgação da estética romântica, na qual
Herculano publica estudos eruditos e as suas primeiras narrativas históricas.
Em 1838, publica A Harpa do Crente,
coleção das poesias mais importantes, reeditada em 1850 com traduções/versões
de Béranger (“O Canto do Cossaco”), Bürger (“O Caçador Feroz”, “Leonor”),
Delavigne (“O Cão do Louvre”), Lamartine (“A Costureira e o Pintassilgo
Morto”) e uma balada fantasmagórica ao gosto inglês (“A Noiva do Sepulcro”). As
poesias desta coletânea apresentam reflexões sobre a morte, Deus, a liberdade,
o contraste entre o inexorável fluir da vida humana e a permanência do
infinito. Normalmente, estas meditações têm por testemunha uma paisagem, que
impõe o sentimento da solidão e da infinitude, e traduz uma marcada oposição
entre a cidade e o campo (por exemplo, “A Arrábida”). Está também presente um
conjunto de poemas que se referem à guerra civil e ao exílio, testemunhos
poéticos da instauração do liberalismo e da saudade do desterrado. Herculano
tenta também dar voz à contemporaneidade através da poesia, à semelhança de
Victor Hugo, atribuindo-lhe uma função pública, doutrinária e intervencionista
e tratando temas de interesse político, social e religioso (“A Semana Santa”,
“A Cruz Mutilada”; “O Mosteiro Deserto”; “A Vitória e a Piedade”, por exemplo).
A nível formal, a poesia de Herculano apresenta uma retórica solene, com
insistência num vocabulário evocativo do “belo horrível”, apocalíptico e
sepulcral, longos eufemismos e alguns recursos clássicos como o hipérbato. A
sua imaginação manifesta-se em paisagens marcadas por tempestades ou ruínas e
na sugestão dos mistérios da religião e da morte. Estes traços predominantes,
com especial relevo para as imagens funéreas de efeito fácil e sem grande
conteúdo conceptual, estarão na base do Ultrarromantismo, e serão também postos
em prática nas narrativas históricas, especialmente em Eurico, o Presbítero.
Em 1839, é nomeado por D. Fernando
bibliotecário-mor das Reais Bibliotecas das Necessidades e da Ajuda. Nesta
altura, entrega-se a um sistemático trabalho de pesquisa, influenciado pelos
historiadores franceses Thierry e Guizot, de que resulta a publicação, em 1842,
na Revista Universal Lisbonense, das “Cartas sobre a História de
Portugal”. Estas constituem o ponto de partida para a História de Portugal,
cujo primeiro volume sai em 1846 (os três seguintes em 1847, 1849 e 1853) e
origina uma acesa polémica com o clero porque nele é posto em causa o “milagre
de Ourique”; os textos desta polémica estão reunidos nos opúsculos Eu e o
Clero e Solemnia Verba, publicados em 1850. É encarregado pela
Academia Real das Ciências de recolher documentos antigos para a coletânea Portugaliae
Monumenta Historica e, por isso, percorre várias regiões do país. Dessas
viagens nasce Cenas de um Ano da Minha Vida e Apontamentos de Viagem (1853-1854).
O contacto direto com a realidade nacional reforça a sua convicção de que o
país necessitava de reformas a vários níveis: educativo, administrativo e
económico.
Em termos políticos, Herculano identifica-se
com a ala esquerda do Partido Cartista. É eleito deputado pelo Porto em 1840,
mas, após ter apresentado um plano de ensino popular que não chega a ser posto
em prática, desilude-se com a atividade parlamentar e abandona o cargo em 1841.
Adere, então, à moderada Constituição de 1838, desaprova a restauração da Carta
por Costa Cabral e dedica-se à literatura e à pesquisa. Mais tarde, depois do
golpe da Regeneração, o escritor abandona a neutralidade política e colabora na
formação do novo governo. No entanto, acaba por se opor ao ministério de
Rodrigo da Fonseca Magalhães e Fontes Pereira de Melo. Funda os jornais O
País (1851) e O Português (1853), onde põe em prática uma intensa
atividade polémica contra o progresso meramente material preconizado pelo
referido ministério. Entre 1854 e 1859, publica os três volumes de História
da Origem e do Estabelecimento da Inquisição em Portugal. É um dos fundadores
do Partido Progressista Histórico, em 1856. No ano seguinte, ataca
vigorosamente a Concordata com a Santa Sé. Participa na redação do primeiro
Código Civil Português (1860-1865), tendo proposto a introdução do casamento
civil a par do religioso, o que originou uma nova polémica com o clero, que se
pode ler no volume Estudos sobre o Casamento Civil (1866), logo colocado
no Index romano. Desiludido com a vida política, retira-se para uma quinta em
Vale de Lobos, arredores de Santarém, em 1867, comprada com o dinheiro ganho
com a publicação dos seus livros. Aí dedica-se à vida agrícola e à produção de
azeite, juntamente com D. Mariana Hermínia Meira, namorada da juventude, com
quem casara em 1866, e que esperara pela realização da sua carreira literária.
Neste seu exílio voluntário, Herculano continua a trabalhar nos Portugaliae
Monumenta Historica, publica o primeiro volume dos Opúsculos (1872),
intervém em polémicas, como a nascida da proibição das Conferências do Casino
(1871) e a respeitante à emigração (1874), reúne os materiais para o quinto
volume da História de Portugal e mantém uma abundante correspondência
com personalidades literárias e políticas. Morre de pneumonia, depois de uma
viagem a Lisboa, em 13 de setembro de 1877.
Poeta, jornalista, político, polemista e
historiador, é todavia como romancista que Herculano será mais lembrado pelas
gerações vindouras. As suas narrativas históricas assinalam o nascimento de um
novo género na literatura portuguesa " o romance histórico ", no qual o autor
pode pôr em prática as qualidades de investigador do passado, principalmente da
Idade Média, e os seus propósitos pedagógicos.
Em 24 de março de 1838, publica n’ O
Panorama a primeira narrativa histórica, O Castelo de Faria, e em novembro Mestre Gil.
Estas e outras composições, publicadas também n’ A Ilustração, foram
reunidas em dois volumes em 1851, sob o título de Lendas e Narrativas.
Os romances O Bobo (vindo a público n’ O Panorama em 1843 e
editado em volume em 1878), Eurico, o Presbítero (1844) e O Monge de
Cister (1848), escritos à semelhança das obras do escocês Walter Scott,
considerado por Herculano como “modelo e desesperação de todos os romancistas”,
alcançaram um sucesso imediato e desencadearam uma onda de imitações que
transformou o romance histórico em moda literária nacional em meados de
oitocentos.
Nestas obras, o romancista cria cenários
lúgubres e de dimensões trágicas, nos quais se movimentam românticos heróis
atormentados por paixões e mulheres-anjo predestinadas para o sofrimento,
sobrepostos a um pano de fundo histórico minuciosamente reconstituído. Eurico,
forçado a abdicar de um amor impossível por Hermengarda, professa e
transforma-se num sacerdote solitário, num poeta inspirado pelo amor e pela
religião, e num “cavaleiro negro” misterioso e heroico, tingido por certas
cores terríveis do romance negro. Dá voz à dor em cenários de imensidão e à luz
da lua, recitando longos poemas marcados por uma grandiloquência solene,
compondo hinos religiosos que ecoam nos templos da Espanha visigótica,
desafiando a superioridade dos adversários para salvar a donzela amada, e,
finalmente, entregando-se à morte num combate desigual, única solução para o
dilema que lhe dilacera a alma: ama Hermengarda, mas não pode trair os votos
que o prendem a Deus. Já Vasco, frade maldito de O Monge de Cister, cujo
sacerdócio não abranda o ódio que o consome, leva o seu desejo de vingança ao
extremo de negar a confissão ao homem que seduzira a irmã inocente. N’ O
Bobo, o protagonista, Egas, vê a amada sacrificar-se para o libertar, mas
perde-a para sempre quando assassina o rival com quem ela deveria casar.
Estes amores desesperados e estas personagens
vítimas de uma fatalidade que as ultrapassa, são colocados em épocas remotas
que o autor empreende retratar. Assim, ganha especial relevo a reconstituição
do ambiente, através da acumulação de descrições de edifícios, monumentos, ou
indumentárias, referências a costumes e práticas, a formas de convivência
social, e até à linguagem, numa tentativa de criar a ilusão de total fidelidade
a uma realidade pretérita. No entanto, e apesar desta rigorosa encenação, nem
sempre Herculano consegue esconder as suas convicções. Por exemplo, a defesa do
município, apresentada em O
Monge de Cister, tem por finalidade convencer os
leitores do século XIX das virtudes desse sistema administrativo, e não pode
ser vista apenas como uma referência ao sistema em uso no fim do século XIV.
Neste, como noutros pontos da sua obra, os caminhos do historiador e do
romancista cruzam-se...
Com O Pároco de Aldeia, publicado n’ O
Panorama em 1844 e em volume em 1851, Herculano cria o romance campesino,
que servirá de modelo a Júlio Dinis, e apresenta como protagonista a figura do
padre bondoso, protetor dos fracos e amado pelas crianças. Nesta obra,
apresenta-se um retrato da vida rural marcado pela serenidade, e cujo ritmo é
estabelecido pelo toque do sino e pelos rituais da igreja. Faz-se, assim, a
apologia da superioridade do Catolicismo face ao Protestantismo, graças aos
rituais e símbolos visíveis que guiam a crença popular e contribuem para a
manutenção da moralidade pública.
Herculano herói do Liberalismo, guardião da
moral e promotor da ideologia romântica nacional, é indubitavelmente, ao lado
de Almeida Garrett, a figura fundadora do Romantismo português e a
personalidade que de forma mais completa o representa.
Bibliografia 1. Obras de Alexandre Herculano
1834 – “Qual é o Estado da Nossa
Literatura?” (Repositório Literário, 1-2)
1835 – “Poesia. Imitação – Belo – Unidade” (Repositório
Literário, 9-11)
1836 – A Voz do Profeta (1ª série)
1837 – A Voz do Profeta (2ª série)
Crónica de El-Rei Sebastião
1838 – A Harpa do Crente
O Fronteiro de África
1840 – Da Escola Politécnica e do Colégio
dos Nobres
1842 – Cartas sobre a História de Portugal (Revista Universal Lisbonense)
Uma Sentença sobre Bens e Reguengos
1843 – O Bobo (n’O Panorama)
1844 – O Pároco de Aldeia
Eurico, o Presbítero
1845 – O Alcaide de Santarém
O Galego (vida, Ditos e Feitos de Lázaro Tomé)
1846 – História de Portugal (1º vol.)
1847 – História de Portugal (2º vol.)
1848 – O Monge de Cister
1849 – História de Portugal (3º vol.)
1850 – Eu e o Clero e Solemnia Verba
Poesias
1851 – Lendas e Narrativas
A Ciência Arábico-académica
1853 – História de Portugal (4º vol.)
1854 – História da Origem e Estabelecimento
da Inquisição em Portugal (1º vol.)
1855 – História da Origem e Estabelecimento
da Inquisição em Portugal (2º vol.)
1857 – Do Estado dos Arquivos Eclesiásticos
do Reino
A Reacção Ultramontana em Portugal
1858 – Do Estado das Classes Servas da
Península
Ao Partido Liberal Português, a Associação Promotora da Educação do Sexo Feminino
1860 – Análise da Sentença Nada no Juízo da
1ª Instância da Vila de Santarém
As Heranças e os Institutos Pios
1866 – Estudos sobre o Casamento Civil
1873 – Opúsculos (tomos I e II)
1875 – Da Existência ou Não do Feudalismo
em Portugal
1876 – Opúsculos (tomo III)
1878 – O Bobo (edição póstuma em
volume). 2. Bibliografia Passiva (sumária)
ABREU, Maria Fernanda de, “Del romance
medieval hacia el cuento romántico: A Dama Pé-de-Cabra de Alexandre
Herculano”, in Homenagem a Ernesto Guerra da Cal, Coimbra, Por Ordem da
Universidade, 1997, pp. 301-315.
AA.VV., Alexandre Herculano. Ciclo de
Conferências Comemorativas do I Centenário da sua Morte. 1877-1977, Porto,
Biblioteca Pública Municipal do Porto, 1979.
BAPTISTA, Jacinto, Alexandre Herculano
Jornalista, Lisboa, Bertrand, 1977.
BEIRANTE, Cândido, Alexandre Herculano. As
Faces do Poliedro, Lisboa, Vega, 1991.
BELCHIOR, Maria de Lourdes, «Herculano
“Trovador do Exílio”», in Os Homens e os Livros II. Séculos XIX e XX,
Lisboa, Verbo, 1980, pp. 201-215.
BERNSTEIN,
Harry, Alexandre Herculano (1810-1877). Portugal's Prime Historian and Historical Novelist, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian/Centro
Cultural Português, 1983.
BUESCU, Helena Carvalhão, “Heróis, romances e
histórias: a propósito do Presbítero Eurico”, in A Lua, a Literatura e o
Mundo, Lisboa, Cosmos, 1995, pp. 125-136.
CARVALHO, J. Barradas de, As Ideias
Políticas e Sociais de Alexandre Herculano, 2ª ed., Lisboa, Seara Nova,
1971.
CHAVES, Castelo Branco, O Romance Histórico
no Romantismo Português, Lisboa, Instituto de Cultura Portuguesa, 1979.
COELHO, Jacinto do Prado, “Herculano Poeta –
Cambiantes e Tensões”, in Colóquio/Letras, 41, Janeiro de 1978, pp.
5-18.
COELHO, Jacinto do Prado, “A outra face de
Herculano”, in Camões e Pessoa, Poetas da Utopia, Lisboa, Publicações
Europa-América, 1989.
EARLE, T. F., “Morte e Imaginação no Eurico de Alexandre Herculano”, in Rui G. Feijó, H. Martins e J. De Pina Cabral
(eds.), A Morte no Portugal Contemporâneo. Aproximações sociológicas,
literárias e históricas, Lisboa, Ed. Querco, 1985.
FERREIRA, Alberto, Perspectiva do
Romantismo Português, 3ª ed., Lisboa/Porto, Litexa Portugal, s/d.
FRANÇA, José-Augusto, “Herculano ou a
consciência no exílio”, in O Romantismo em Portugal. Estudo
de Factos Socioculturais, 3ª ed., Lisboa, Livros Horizonte, 1999, pp.
127-140.
Herculano e a sua Obra, Porto, Fundação Eng.
António de Almeida, 1978.
LOPES, Óscar, “Como Herculano se via e como
nós o vemos”, in Modo de Ler, 2ª ed., Porto, Inova, 1972.
MACEDO, Borges de, Alexandre Herculano,
Polémica e Mensagem, Lisboa, Bertrand, 1980.
MACHADO, Álvaro
Manuel, “Herculano: nationalisme, histoire et religion”, in Les Romantismes
au Portugal. Modèles Étrangers et Orientations Nationales, Paris, Fundação
Calouste Gulbenkian/Centro Cultural Português, 1986.
MARINHO, Maria de Fátima, O Romance
Histórico em Portugal, Porto, Campo das Letras, 1999.
MOURA, Vasco Graça, Herculano Poeta,
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1978.
MOURÃO – FERREIRA, David, “Alexandre Herculano
e a valorização do património cultural português”, in Lâmpadas no Escuro,
Lisboa, Arcádia, 1979.
MURPHY,
Terrance J., “Alexandre Herculano’s essays – parodies of reconstructions of the
portuguese past”, in Revista de Letras, vol. XIV, Assis, 1972, pp.
199-209.
NEMÉSIO, Vitorino, A Mocidade de Herculano
(1810-1832), Amadora, Bertrand, 1978.
NEMÉSIO, Vitorino, “Eurico: história de um
livro”, introdução a Alexandre Herculano, Eurico, o Presbítero, 41ª ed.,
Lisboa, Bertrand, s/d.
PIRES, M. Lucília G., “A expressão do sagrado
n’ A Harpa do Crente de Herculano”, in Linguagem, Linguagens e Ensino,
Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981.
REIS, Carlos, “Herculano e a Ficção
Romântica”, in Construção da Leitura. Ensaios de Metodologia e de Crítica
Literária, Coimbra, I.N.I.C./Centro de Literatura Portuguesa, 1982.
REIS, Carlos e PIRES, Maria da Natividade, História
Crítica da Literatura Portuguesa, 2ª ed., Lisboa, Verbo, vol. V – O
Romantismo, 1999.
SARAIVA, António José, Herculano e o
Liberalismo em Portugal, Amadora, Bertrand, 1977.
SEABRA, José Augusto, “Alexandre Herculano:
uma consciência poética do Romantismo”; “Alexandre Herculano ou a cicatriz do
exílio”, in Poligrafias Poéticas, Porto, Lello & Irmão Editores,
1994, pp. 141-153 e 155-171.
SERRÃO, J. Veríssimo, Herculano e a
Consciência do Liberalismo Português, Amadora, Bertrand, 1977.
TRINDADE, Manuel, “Herculano polemista”, in As
Grandes Polémicas Portuguesas, Lisboa, Verbo, 1967.
TRINDADE, Manuel, O Padre em Herculano,
Lisboa, Verbo, 1965.
VIDEIRA-LOPES, Maria da Graça, “Les Paroles
d’un Croyant de Lamennais et A Voz do Profeta de Herculano”, in Ariane,
2, Lisboa, 1983, pp. 259-269.

Antero de Quental, por Ana Maria Almeida Martins
Antero de Quental
O nome de Antero de Quental (Ponta Delgada,
18/IV/1842 - 11/IX/1891, ib.) tornou-se no símbolo de uma geração (a Geração de
70 ou a Geração de Antero) e é referência obrigatória na poesia, no ensaio
filosófico e literário, no jornalismo, mas também nas lutas pela liberdade de
pensamento e pela justiça social, onde se afirmou como ideólogo destacado.
Oriundo de uma das mais antigas famílias de
colonizadores micaelenses, alinhada nos setores liberais da sociedade, Antero
continuou essa tradição, a exemplo do avô, André da Ponte de Quental,
signatário da Constituição de 1822, e do pai, Fernando de Quental, um dos
"7 500 bravos do Mindelo".
Desembarcado em Lisboa aos 10 anos de idade,
para estudar no colégio de António Feliciano de Castilho, veio a ingressar na
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1859, tornando-se
rapidamente no líder dos estudantes e seu porta-voz, sendo o autor de vários
manifestos contra o conservadorismo intelectual e sócio-político do tempo. Para
esse prestígio contribuíam os poemas e artigos de crítica literária e política
que ia escrevendo para os jornais e revistas coimbrãs: "A influência da
Mulher na civilização", "A ilustração e o operário", "A
indiferença em política", "O sentimento da imortalidade". Os Sonetos
de Antero, o seu primeiro livro de poesia, data de 1860, e em 1865 publica Odes
Modernas, obra por si caracterizada como "a voz da Revolução",
resultante da aliança entre o naturalismo hegeliano e o humanismo radical
francês de Michelet, Renan e Proudhon. É decisiva a importância das Odes
Modernas no panorama literário português, pois a sua edição marca, entre
nós, o advento da poesia moderna e está na origem da nossa maior polémica
literária de sempre (durou cerca de 6 meses, com mais de 40 opúsculos) a
“Questão Coimbra” ou do “Bom Senso e Bom Gosto”, o título da violenta
carta-panfleto de resposta à crítica provocatória feita à Escola de Coimbra por
A.F. Castilho, que personificava o tradicionalismo retrógrado e
ultrarromântico. Manuel Bandeira, o grande poeta brasileiro, escreverá em 1942:
"Costuma apontar-se o Eça como o modernizador da prosa portuguesa. Basta,
porém, a carta "Bom Senso e Bom Gosto" para provar que se houve
reforma da prosa portuguesa, ela já estava evidente no famoso escrito de
Antero".
Após a licenciatura, e atraído pelos ideais
socialistas de Proudhon, sobretudo, pensa alistar-se nos exércitos de
Garibaldi, mas acaba por aprender a arte de tipógrafo, na Imprensa Nacional,
deslocando-se depois a Paris, em 1867, para aí exercer o oficio e
familiarizar-se com os problemas do proletariado que, no nosso país, longe da
industrialização, ainda eram desconhecidos. Durante essa estada, traumatizante
e de curta duração, chegou a frequentar aulas no Collège de France. De regresso
a Lisboa é convidado pelo partido de Pi y Margall, após o triunfo da revolução
republicana em Espanha, para colaborar num jornal democrático e iberista.
Escreve então “Portugal perante a Revolução de Espanha”, onde critica duramente
a centralização política, defendendo que só através de uma federação
republicana democrática se poderia encontrar solução para os males da Península.
Em 1868 viaja para a América do Norte (E.U.A.
e Canadá) e, no regresso, fica a residir com Batalha Reis num andar da Travessa
do Guarda-Mór (atual Rua do Diário de Notícias), o "Cenáculo", como
era conhecido entre os amigos: Oliveira Martins, Eça de Queirós, Manuel de
Arriaga, José Fontana, Ramalho Ortigão, entre outros. Inicia então (1870) uma
intensa atividade política e social. Colabora na fundação de associações
operárias e na introdução, em Portugal, de uma secção da Associação
Internacional dos Trabalhadores; publica folhetos de propaganda. Nas palavras
de Eduardo Lourenço: "Ninguém entre nós pôs mais paixão no propósito de
decifrar e ao mesmo tempo emendar o destino português do que Antero”.
O jornalismo também o atraía, tendo sido um
dos diretores do República - Jornal da Democracia Portuguesa. Em 1872
publicou anonimamente o folheto “O que é a Internacional”, destinado a angariar
fundos para a criação de um novo jornal, O Pensamento Social, que dirige
de parceria com Oliveira Martins.
Todavia, o período mais estimulante da sua
vida pública foi o que culminou com a organização, junto com Batalha Reis, das
Conferências do Casino, que se inauguraram em 22-V-1871, no Casino Lisbonense.
A sua finalidade era a reflexão sobre as condições políticas, religiosas e
económicas da sociedade portuguesa no contexto europeu, porque "não podia
viver e desenvolver-se um povo isolado das grandes preocupações intelectuais do
seu tempo", lia-se no programa, redigido por Antero. A mais célebre das conferências
é a sua: “Causas da decadência dos povos peninsulares”, que foi imediatamente
impressa e se tornou no seu mais conhecido texto em prosa. Para ele, a
decadência das nações peninsulares, tão prósperas nos séculos XV e XVI, era
devida a três causas de diversa natureza: moral, política e económica. A
primeira tinha a ver com a transformação pós-Concílio de Trento do
Cristianismo, "que é sobretudo um sentimento", no Catolicismo,
"que é principalmente uma instituição". Um vive da fé, o outro do
dogmatismo e da disciplina cega, que levou à Inquisição. A segunda, atribuiu-a
ao Absolutismo, tão nefasto para a vida política e social como o Catolicismo
para a Igreja. A terceira causa (sem discutir o caráter heroico das
Descobertas) tinha a ver com as conquistas longínquas que levaram à decadência
económica da Metrópole, com largas camadas da população a abandonar os campos
com o olho nas riquezas da Índia: "Somos uma raça decaída por termos
rejeitado o espírito moderno; regenerar-nos-emos abraçando francamente este
espírito. O seu nome é Revolução [...] Se o Cristianismo foi a revolução do
mundo antigo, a Revolução não é mais do que o Cristianismo do mundo
moderno". Nunca em Portugal se fora tão longe na denúncia das
consequências do poder temporal da Igreja, e por isso as conferências acabaram
por ser proibidas através de portaria real. Da agitação que se seguiu a este
atentado às liberdades, consagradas mas não respeitadas, resultou o queda do
governo que as suprimira.
Mas nunca a ação política impediu Antero de
continuar a vida literária. Em 1872 editam-se Primaveras Românticas - Versos
dos 20 anos e Considerações sobre a Filosofia da História Literária
Portuguesa. Dois anos depois manifesta-se a primeira crise de uma doença
nunca completamente diagnosticada, que o vai impedir de se consagrar
continuadamente a qualquer atividade. Ainda assim, fundou em 1875, com Batalha
Reis, a Revista Ocidental, que visava a aproximação dos povos
peninsulares. Durou apenas seis meses, pois a ideia que presidiu à sua conceção
surgiu adiantada no tempo, embora os laços entre intelectuais das duas nações
se tivessem então estreitado de modo muito significativo.
Como a medicina nacional (Sousa Martins, Curry
Cabral) não conseguisse atinar com o seu mal, decide ir a Paris consultar o
célebre médico Charcot, que lhe receita uma cura num estabelecimento termal dos
arredores de Paris, em 1878 e 1879.
De volta a Lisboa, e sentindo algumas
melhoras, retoma a atividade política e aceita candidatar-se como deputado pelo
Partido Socialista nas eleições gerais de 1879 e 1880, embora não alimentando
esperanças de vir a ser eleito.
No ano seguinte, após ter adotado as filhas do
seu grande amigo de Coimbra, Germano Meireles, falecido em 1878 (Albertina, de
3 anos, e Beatriz, de ano e meio), decide fixar residência em Vila do Conde,
onde irá permanecer 10 anos, os mais calmos e literariamente mais produtivos da
sua vida. É lá que escreve os últimos sonetos, reflexo do espiritualismo que
lhe permitira ultrapassar a crise pessimista: "Voz interior",
"Solemnia Verba", "Na Mão de Deus", entre outros, do último
ciclo dos Sonetos Completos, editados em 1886 e que Unamuno considerou
"um dos mais altos expoentes da poesia universal, que viverão enquanto
viva for a memória das gentes". Para António Sérgio, os Sonetos constituem “o mais alto, luminoso cume a que subiu a poesia no nosso país”,
enquanto José Régio considerará os Sonetos “não só um livro único entre
nós, como um dos mais belos que possa escrever um poeta por igual rodeado de
lucidez crítica e uma imaginação metafísica”. Antero classificou-os como “a
verdadeira poesia do futuro, fora das tendências da literatura sua
contemporânea”.
A nova orientação de pensamento demonstrada
nos últimos poemas e em A
Filosofia da Natureza, dos Naturalistas (1886)
surge exposta de modo inequívoco no ensaio filosófico Tendências Gerais da
Filosofia na Segunda Metade do Século XIX, escrito a pedido do amigo Eça de
Queirós, então diretor da Revista de Portugal e aí publicado nos
primeiros meses de 1890. Neste estudo, o mais importante que legou à cultura
portuguesa, o seu pensamento evoluiu no sentido de um novo espiritualismo,
contra o positivismo e os materialismos da época. Na opinião de Jaime Cortesão,
trata-se de “páginas das mais belas que jamais se escreveram em língua portuguesa”
e que Joaquim de Carvalho definiu como “uma obra onde a beleza moral ofusca a
própria beleza literária”. É também em 1890 que se situa a sua última
intervenção política, após o Ultimatum Inglês, quando o país se levantou contra
a humilhação da Grã-Bretanha. Nesse contexto nasceu no Porto um projeto
nacionalista - A Liga Patriótica do Norte - cujos promotores foram a Vila do
Conde convidá-lo para Presidente. O movimento em breve se extinguiu, devido a
rivalidades partidárias, e com ele a última ilusão de Antero. Surge então o
projeto de se fixar definitivamente em Ponta Delgada,
juntamente com as filhas adotivas, tendo embarcado em 5-VI-1891. As primeiras
cartas aos amigos são otimistas, mas em breve o seu estado de saúde se agrava.
No dia 11 de Setembro, à hora do crepúsculo, após ter comprado um revólver,
arma que usou pela primeira vez, Antero suicida-se, no Largo de São Francisco,
junto ao Convento da Esperança. Havia escrito na carta autobiográfica enviada a
Wilhelm Storck, o tradutor alemão dos Sonetos, em Maio de 1887:
“Morrerei, depois de uma vida moralmente tão agitada e dolorosa, na placidez de
pensamentos tão irmãos das mais íntimas aspirações da alma humana e, como
diziam os antigos, na paz do Senhor - Assim o espero”.
BIBLIOGRAFIA:
AAVV, Anthero de Quental - In Memoriam (edição fac-similada) Lisboa, Ed. Presença / Casa dos Açores, 1994.
BANDEIRA, Manuel, Poesia e Prosa, Rio
de Janeiro, Ed. Aguilar, 1958.
CARREIRO, José Bruno, Antero de Quental -
Subsídios vara a sua biografia, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1981
(22.ª ed.).
CARVALHO, Joaquim de, Estudos cobre a
Cultura Portuguesa ao Século XIX (Anteriana), Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, 1983.
COELHO, Joaquim-Francisco, Microleituras
de Antero, Lisboa, Difel, 1993.
CORTESÃO, Jaime, Glória de Antero,
Lisboa, Seara Nova, 1943.
FERREIRA, Alberto / MARINHO, Maria José , Bom Senso e Bom Gosto, (4
volumes), Lisboa, IN/CM, 1985-1989.
LOURENÇO, Eduardo, A Noite_Intacta -
(I)recuperável Antero, Vila do Conde, Centro de Estudos Anterianos, 2000.
MARINHO, Maria José,
A_Revista Ocidental, 1875: Um projecto da Geraçãode 70,
Revista da Biblioteca Nacional, Série 2, Vol.7 (1), 1992.
MARTINS, Ana Maria Almeida, Introdução,
prefácio e notas a Antero de Quental, Cartas, Volumes I e II, Universidade
dos Açores / Ed. Comunicação, 1989.
Idem, O Essencial sobre Antero de Quental,
Lisboa, IN/CM, 2001 (3.ª ed.).
RÉGIO, José, As mais belas líricas,
Lisboa, Portugália Ed., s.d..
SÉRGIO, António, Ensaios, vol. IV,
Lisboa, Sá da Costa, 1972.
SERRÃO, Joel, "De Pessoa a Antero", Actas
do 2º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Centro de
Estudos Pessoanos, 1985.
UNAMUNO,
Miguel de, Por tierras de Portugal y España, Madrid, Espasa Calpe, s.d..

Basílio Teles, por Carlos Leone
Basílio Teles
Poder-se-ia dizer que se comemoram este ano os
150 anos do nascimento de Basílio Teles (Porto, 1856 – Porto, 1923), um dos pensadores mais originais e
considerados do final do século XIX e início do século XX em Portugal. Contudo,
tal seria uma grosseira sobrestimação das atividades que ocorreram em 2006, e
sem surpresa, pois Basílio Teles há muito é um autor quase esquecido. Com
efeito, os estudos sobre a sua Obra sempre foram raros e muito desiguais, e em
2006 o mais relevante que se fez (a não foi pouco, atendendo ao panorama) foi
um colóquio na Universidade Católica do Porto (em Dezembro) e a publicação num
só volume (também surgido em Dezembro) dos seus ensaios filosóficos (Ensaios
Filosóficos, com prefácio de António Braz Teixeira). A sua atividade
política constante e a diversidade da sua Obra poderiam fazer esperar uma maior
atenção sobre pensador, mas o grau de elaboração dos seus textos provavelmente
intimidam estudiosos, apesar da sua escrita ser verdadeiramente palpitante.
Se a posteridade regista sobretudo o filósofo
(cf. “TELES (Basílio)” na Logos, v. Referências), o facto é que o seu
trabalho dividiu-se entre essa faceta, os assuntos económicos, a atividade de
publicista muito crítico da I República e a atividade política intensa. Depois
de estudos incompletos, primeiro na Academia Politécnica do Porto e, depois, na
Escola Médico-Cirúrgica também na sua cidade, dedicou-se ao ensino não
universitário enquanto desenvolvia atividade política intensa e relevante no
Partido Republicano. Chegou mesmo a ter de se exilar na sequência do seu
envolvimento na tentativa falhada de implantação da República, lançada no
Porto, de 31 de janeiro de 1891. O momento central deste percurso perfaz mesmo
o título de uma obra que publicará mais tarde, Do Ultimatum ao 31 de Janeiro (1905), título sintomático de um sentir republicano altamente patriótico e de
extrema exigência que rapidamente o tornará um dos críticos mais severos da
experiência republicana de 1910 a
1926 (a morte em 1923 poupou-o a ver o termo ditatorial desta, que não o
surpreenderia, decerto). Lendo-o os seus artigos na Imprensa desses anos será
possível, até fácil, esquecer o quanto aquelas críticas eram motivadas pela
imensa esperança num futuro melhor sob a República, procurado logo em 1891
apesar de todas as dificuldades. E, ainda que não alcançada, nunca relativizada
ou reduzida ao “portugalório” que ele tão ostensivamente desprezava.
Da sua Obra, refira-se O Problema Agrícola,
de 1899, Estudos Históricos e Económicos, de 1901, Introdução ao
Problema do Trabalho Nacional, de 1902, e, já a título póstumo, as suas Memórias
Políticas (1969, com longo ensaio introdutório do editor literário, Costa
Dias) e os estudos resgatados ao esquecimento a que o próprio autor os tinha
votado em vida por sua mulher e publicados em 1961 sob o título Figuras
Portuguesas: como escreve, na Nota Prévia, Amorim de Carvalho, “sem
pretender a erudita exaustão biográfica e histórica das figuras tratadas (Pedro
Álvares Cabral, Vasco da Gama, Francisco de Almeida e Fernão de Magalhães),
Basílio Teles procurou fixar-lhes apenas a fisionomia moral até onde elas se
ergueram – se puderam erguer-se – acima do homem vulgar; e, no quadro epocal em
que as quatro figuras se movimentaram, até onde se ergueram, valorizando-se
humanamente, acima do que Basílio Teles considerou com que o acume paroxístico
dum mercantilismo desnacionalizador, que teve como resultado a perda da
independência em 1580. São tratadas pela ordem de tal valorização, culminando
esta em Fernão de Magalhães.” Registe-se o interesse sério em Magalhães,
durante tanto tempo, e ainda à época em que Teles escrevia, desamado pela sua pretensa
traição. Mas aqui não será o local adequado para explorar a leitura da História
Política e Económica de Portugal elaborada por Basílio Teles, para o que seria
necessário integrá-la numa tradição de debate que remonta, pelo menos, a
Herculano.
É todavia forçoso mencionar a complexidade da
sua reflexão filosófica, também ela filiada em percursos anteriores (sobretudo
o de Sampaio Bruno). A sua filosofia organiza-se em torno de dois grandes
temas, a metafísica do mal e a teoria da ciência. Na primeira, dialogando com
Antero de Quental, rejeita a conceção de uma evolução do Universo em sentido
moral e reduz a realidade à imanência, dando a transcendência por
incognoscível. E por motivos racionais, de resto bem próximos da sua
personalidade, é levado ao ateísmo, negando a possibilidade de Deus existir e
permitir o mal. Desta linha de argumentação ética (aqui apenas indicada, como é
evidente), Teles partiu para uma argumentação epistemológica complementar que,
de certo modo, substitui a ciência à religião. Não se trata de Positivismo, na
medida em que mantém um idealismo filosófico que distingue a Filosofia,
enquanto síntese de saberes, dos conhecimentos científicos especializados.
Assim, as noções científicas de Espaço, Matéria e Energia ganhariam o seu
sentido último na noção, esta já filosófica, de Universo. Em rigor, é possível
afirmar que o seu pensamento é em última análise cosmológico. Embora alguns dos
seus estudiosos, como Luís Salgado de Matos, lhe denunciem escassas leituras, o
facto é que a sua cosmologia e o seu significado ateísta são dos sistemas
filosóficos mais consistentes alguma vez elaborados em Portugal, atraindo a
atenção de investigadores até hoje.
Referências:
Braz Teixeira, A., “TELES (Basílio)” in VVAA, Logos
- Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Editorial Verbo, Lisboa, São
Paulo, 1989, vol. 5 (50-2). (Texto revisto e ampliado enquanto prefácio a
Basílio Teles, Ensaios Filosóficos, INCM, Lisboa, 2006.)
Costa Leite, M., e Gaugeon, “No limiar da
relatividade”, Análise, 11, Lisboa, 1989.
Salgado de Matos, Luís, “Basílio Teles”, O
Tempo e o Modo, 36, 1996.

Gomes Leal, por Teresa Soares Correia
Gomes Leal
António Duarte
Gomes Leal nasce em Lisboa em 1848. Filho ilegítimo de um funcionário público,
vive com a mãe e a irmã, a sua principal fonte de inspiração. No ano da morte
de sua irmã, em 1875, publica Claridades do Sul, a sua primeira obra
poética. Quando a mãe morre, converte-se ao catolicismo, o que tem influência
na sua obra. Poeta e jornalista, é escrevente de um notário e publica inúmeros
textos panfletários de denúncia político-social. A sua poesia oscila entre os
três grandes paradigmas literários do final do século XIX: romantismo,
parnasianismo e simbolismo. De 1899
a 1910, compõe e publica quase diariamente. Termina os
seus dias na miséria, primeiramente vivendo da caridade alheia, na rua, e
depois sustentando-se com uma pensão anual do Estado português que lhe foi
conseguida por um grupo de amigos, dos quais se destaca Teixeira de Pascoaes.
Morre em 1921.
Gomes Leal é considerado um precursor do
Modernismo Português, tendo sido referido por Fernando Pessoa como um dos seus
mestres. Este dedica-lhe o soneto Gomes Leal, publicado pela Ática na
edição das Obras Completas de Fernando Pessoa, em 1967.
Apesar de se mover literária e pessoalmente
nos círculos próximos da Geração de 70, não integra o grupo dos “Vencidos da
Vida”, referindo, porém, o apreço que Eça de Queirós e Antero de Quental lhe
dedicam, num comentário feito pelo próprio Gomes Leal na obra “A Morte do Rei
Humberto” (1900), citado por Gomes Monteiro, em O Drama de Gomes
Leal. Com inéditos do Poeta. Gomes Leal tem aliás o cuidado de se
distanciar das correntes estéticas da altura, fazendo-o nomeadamente na Nota a Claridades
do Sul, acrescentada e publicada na segunda edição, em 1901. Na Nota a “A
Morte do Rei Humberto”, Gomes Leal afirma ter publicado antes de Fradique
Mendes na Revolução de Setembro e assevera ter sido contactado por
Antero de Quental para assinar textos daquele pseudónimo, o que recusou. Na
referida Nota, menciona que Cesário Verde tece encómios à poesia de Claridades
do Sul.
Gomes Leal estreou-se aos dezoito anos, em
1866, publicando a poesia “Aquela Morta”, na Gazeta de Portugal. Em
1869, publica o folhetim "Trevas" na Revolução de Setembro.
O cariz interventivo da sua obra é marcado não
só pelos folhetins publicados nos jornais, mas também pela fundação do jornal
satírico O Espectro Juvenal, em 1872, em parceria com Magalhães Lima,
Silva Pinto, Luciano Cordeiro e Guilherme de Azevedo. É também um dos
fundadores do jornal O Século (1881). Aí publica, por exemplo, “A
banalidade nacional irritada” (30 de janeiro de 1881).
Poeta joco-satírico, são deste autor vários
textos que vieram a lume na Revolução de Setembro, dos quais destacamos
“A batalha dos astros” (20 de abril de 1870); “Descrença” (31 de agosto de
1870); “Flor de perdição” (2 de outubro de 1870); “No Calvário” (outubro de
1870). Em 1873, publica “O Tributo de Sangue” e “A Canalha”. Em 1874, um ano
antes da primeira edição de Claridades do Sul, escreve para o Diário
de Notícias (19 de maio) “Duas palavras sobre a poesia moderna”, onde
reflete sobre a utilidade que a poesia deve ter face às atribulações morais do
final do século.
Em 1875 sai a primeira edição de Claridades
do Sul, cuja segunda edição é de 1901. Para celebrar Camões e Bocage,
publica “A Fome de Camões” (1880) e “A Morte de Bocage” (1881). Datam
igualmente de 1881 os panfletos poéticos “A Traição” e “O Herege”, pondo em
causa o trono na pessoa do rei D. Luís, as Instituições burguesas e a Igreja, o
que gerou um verdadeiro escândalo literário e político. Aliás, o primeiro texto
leva-o à prisão do Limoeiro, onde escreve uma carta publicada no número
comemorativo da Tomada da Bastilha de O Século (14/7/1881). A edição do
almanaque O António Maria de 7 de julho de 1881 é dedicada por Bordalo
Pinheiro a Gomes Leal.
Outros poemas da sua autoria são “O Renegado”
(1881), "A Orgia" (1882), “História de Jesus para as criancinhas
lerem” (1883), “O Anti-Cristo” (1884 e 1886), “Fim de Um Mundo” (1899),
“Serenadas de Hilário no Céu” (1900), “A Mulher de Luto” (1902),
"Mefistófeles em Lisboa" (1907) “A Senhora da Melancolia” (1910).
Publica até tarde. Data de março de 1915 o poema “A Dama Branca” que vem a lume
na Águia.
Claridades do Sul, Gomes Leal
Na sua obra poética e panfletária, este poeta
finissecular manifesta apego a entidades históricas e religiosas, numa atitude
por vezes pessimista e acusadora. Todavia, é através desse apelo à História que
procura um sentido para a vida. Este tipo de poesia enquadra-se na estética
parnasiana cujas preocupações, além das de ordem formal e plástica, se
inscrevem na procura da pureza original dos tempos, da História. Como exemplo,
surgem as poesias de Claridades do Sul “Os Santos”; “D. Quixote”; “O
Publicano”; “A Lira de Nero”; “Caim”; “A Lenda das Rosas”; “O Triste Monge” e
“A Senhora de Brabante”. Ainda em Claridades do Sul, muitos dos seus
poemas refletem sentimentos de desalento e aflição relacionados com a temática
da miséria e da pobreza, num tom neoromântico do poema “As Aldeias”,
“Misticismo Humano” e “De Noite”; outros refletem sobre a imagética feminina
romântica, como em “Romantismo”; “Idílio Triste” e “Senhora dos olhos verdes”.
Por outro lado, a dimensão
decadentista-simbolista dessa obra de Gomes Leal leva a que se considere este
poeta como o “verdadeiro precursor do Decadentismo em Portugal”, nas palavras
de Seabra Pereira. “Licantropia” e “Aquela Orgia” são dois poemas que se
inscrevem nessa tendência marcadamente simbolista que assumem algumas
composições deste autor.
A filiação de Gomes Leal em Baudelaire é um dos tópicos mais tratados, porque o poeta português se
inspirou no mestre das correspondências. De facto, Gomes Leal trabalha com
mestria a ideia das “correspondances” do romântico francês nos quatro sonetos
de Claridades do Sul intitulados “O Visionário ou Som e Cor”.
A perspetiva do poeta enquanto ser
incompreendido e infeliz surge em vários textos de Gomes Leal, composições
poéticas em que o sujeito lírico se assume como alguém singularmente distante
do comum dos mortais. Não se distanciando da visão romântica do poeta, Gomes
Leal define-se como um génio inadaptado à sociedade, num misticismo visionário.
Inúmeros são os exemplos desta perspetiva do “poeta proscrito e infeliz”, como
“Soneto dum poeta morto”, “Aquele Sábio”, “El Desdichado” e “Noites de Chuva”
de Claridades do Sul.
Outra característica deste poeta finissecular
prende-se com a preocupação que manifesta em relação aos seus leitores,
nomeadamente na Nota à primeira edição e acrescentada na segunda edição de Claridades
do Sul (1901). Aí debruça-se sobre a tarefa do escritor explicitando que a
este compete “trabalhar a sua ideia, lapidá-la, poli-la, desenvolvê-la,
facetá-la, de maneira que ela seja como um grande elo em que se vão encatenar
um rosário luminoso doutras novas, e que ela saia transformada desse vasto
laboratório intelectual, por um processo misterioso semelhante ao que dá a
Natureza, transformando da lagarta a borboleta, do carvão o diamante, e da
ostra doente a pérola.”
Na poesia de Gomes Leal confluem o Ultra-Romantismo,
o satanismo byroniano, as correspondências baudeleirianas, o Parnasianismo e o
Simbolismo. Há ainda alguns elementos que deixam já adivinhar o Surrealismo.
Respondendo ao Inquérito Literário organizado
por Boavida Portugal (realizado entre setembro e dezembro de 1912 e publicado
em 1915), Gomes Leal afirma: “Em mim há três coisas: o poeta popular e de
combate, nas sátiras e panfletos; o poeta do sonho e do mistério, na Nevrose Nocturna, nas Claridades do Sul, na Lua morta e na Mulher
de Luto; e o poeta místico, na História de Jesus, na Senhora da
Melancolia e no segundo Anti-Cristo.”
No número 2 da ABC – Revista portuguesa (22
de julho de 1920), sob o título “O grande poeta Gomes Leal faz a sua biografia
ao A B C, publica o soneto autobiográfico”, que transcrevemos, antecedido do
seguinte texto:
Gomes Leal, o poeta ilustre, que é uma glória nacional, quis dar ao A B C uma impressão da sua vida, da sua acção, das suas lutas. Em vez duma entrevista foram aos seus versos lapidares que chegaram a explicar como se passou uma infância, uma velhice e como a velhice chegou com as suas dores a focar essa cabeça coroada de louros. Só Gomes Leal poderia definir o que A B C desejava saber: a vida do primeiro poeta português.Outr’ora, outr’ora, em épocas passadas,Tive uma santa Mãe de ideias maneiras,Um recto Pai de barbas prateadas,Tive prédios, jardins, fontes, roseiras.Nos colégios, nas aulas, nas bancadas,Não quebrei bancos, não parti carteiras;Fiz bons exames, contas, taboadas,Mais tarde amei patrícias feiticeiras.Fui amigo do Eça e do Ramalho,João de Deus, mais do excêntrico Fialho,E tive que emigrar para o estrangeiro.Chorei, gemi! Qual Dante nas estradas!E ao regressar, por causas avanças,- fui por três vezes parar ao Limoeiro.
Bibliografia sumária
Ativa:
Foram publicadas em 2000 pela Assírio &
Alvim, com edição de José Carlos Seabra Pereira, as seguintes obras, até
à data esgotadas ou de difícil acesso:
A Fome de Camões e Outros Destinos PoéticosA Mulher de Luto – Processo Ruidoso e SingularClaridades do SulFim de um Mundo – Sátiras ModernasHistória de Jesus (Para as Criancinhas Lerem)Mefistófeles em Lisboa e Outros Humorismos PoéticosO Anti-Cristo – Primeira Parte – Cristo é o MalO Anti-Cristo – Segunda Parte – As Teses Selvagens
Passiva:
Álvaro Manuel Machado, “Gomes Leal, Baudelaire e o Pós-Romantismo Finissecular”, in Intercâmbio,
publicação anual do Instituto de Estudos Franceses da Universidade do Porto,
1992
Álvaro Manuel Machado, Poesia Romântica
Portuguesa, Lisboa, ICALP, 1982
Francisco da Cunha Leão e Alexandre O’Neill, Gomes
Leal, Antologia Poética, Lisboa, Guimarães editores, 1959
Gomes Monteiro, O Drama de Gomes Leal. Com
inéditos do poeta, Lisboa, editora Minerva, s/d
José Carlos Seabra Pereira, Decadentismo e
Simbolismo na Poesia Portuguesa, Coimbra, Centro de Estudos Românticos,
1975
Ladislau Batalha, Gomes leal na Intimidade,
Lisboa, Lisboa Peninsular editora, 1933
Vitorino Nemésio, Destino de Gomes Leal,
Lisboa, Bertrand, s/d

Jaime Batalha Reis, por Maria José
Marinho
Jaime Batalha Reis
Jaime Batalha Reis nasceu em 24 de dezembro de
1847, numa família da burguesa lisboeta, de pai liberal com alguns teres e
haveres, proprietário no Turcifal, onde era um conhecido produtor de vinhos.
Depois de frequentar, em regime de internato, o colégio alemão Roeder,
matriculou-se no Instituto Geral de Agricultura onde, depois de um brilhante
percurso escolar, se formou em agronomia.
Uma noite, prestes a acabar o curso, tendo ido
à redação da Gazeta de Portugal, encontrou Eça de Queirós,
com quem se travou de amizade para a vida inteira. Essa relação ampliou-lhe o
círculo de amigos, e a sua casa, na Travessa do Guarda-Mór, em pleno Bairro Alto, passou a ser o local de
encontro de uma juventude intelectual e boémia, o núcleo do que viria a ser a
“Geração de 70”. Mas
foi principalmente o encontro com Antero de Quental, por volta de 1868, que lhe
veio permitir colmatar algumas fragilidades culturais e desenvolver os
conhecimentos filosóficos.
O brilho da carreira estudantil, durante a
qual arrancara vários prémios, e o interesse dos professores, principalmente
Ferreira Lapa e Andrade Corvo, haviam-lhe alimentado a esperança de ser
convidado para a carreira docente. Mas isso não iria acontecer, pelo menos
nessa altura, talvez pelas opiniões expressas numa dissertação em que defendera
as teorias de Darwin. No entanto os seus conhecimentos profissionais vão a
pouco e pouco permitindo-lhe movimentar-se nessa área, sendo convidado para
integrar júris que avaliavam a qualidade da produção agrícola e fazer preleções
aos agricultores. Especializou-se no estudo da nova moléstia da vinha - a
filoxera - e começou a colaborar em revistas e jornais. Esta atividade, porém,
não o afastava das suas preocupações literárias e artísticas. Foi em 1869 que
Eça, Antero e Batalha Reis inventaram, num delírio criativo, “o poeta satânico”
Carlos Fradique Mendes; e das poesias publicadas uma, “Velhinha”, era da
autoria de Jaime Batalha Reis.
Já por essa altura encontrara o amor da sua vida,
com quem viria a casar, depois de um longo e atribulado namoro. Chamava-se ela
Celeste Cinatti e era filha de um dos mais célebres cenógrafos da época – José
Cinatti. A necessidade de conseguir a estabilidade económica para “noivar” e
casar acicataram-no na procura de emprego, e depois de várias tentativas
infrutíferas – administrador de uma propriedade da Casa de Bragança, deputado,
agrónomo em Viseu, professor no Brasil - resolveu concorrer à carreira
consular. Apesar das esperanças que alimentara, não conseguiu provimento, pois
ficou em terceiro lugar. Voltou por isso a intensificar a sua atividade
profissional.
Entretanto Antero e Batalha Reis, tornados
inseparáveis, tinham ido morar para uma sobreloja em S. Pedro de Alcântara,
lugar que sendo frequentado, na época, pela burguesia lisboeta, se tornara
muito barulhento, incomodando Antero. Mudaram-se e no início de 1871 já estavam
instalados numa casa na Rua dos Prazeres, sítio sossegado, onde passaram a vir
os conviventes habituais – Eça de Queirós, José Fontana, Augusto Fuschini,
Manuel de Arriaga, Oliveira Martins, Augusto Machado, Guerra Junqueiro. Foi
aqui que se gizou o programa das “Conferências Democráticas do Casino
Lisbonense” ou, mais simplesmente, as “Conferências do Casino”. Depois das
intervenções de Antero, Augusto Soromenho, Eça de Queirós e Adolfo Coelho, a
continuação das palestras foi proibida por uma portaria assinada pelo Marquês
de Ávila e Bolama, então presidente do conselho de ministros. Esta interrupção
não permitiu que Jaime Batalha Reis fizesse a sua preleção que versava sobre o
“Socialismo”. A atitude do governo, verberada pela opinião pública, seria
reforçada pela publicação de dois folhetos dirigidos a Ávila e Bolama, um de
Antero de Quental e outro de Jaime Batalha Reis, que começando por afirmar “Eu
sou socialista” terminava dizendo: “O que V. Exª fez obriga-me a descrer ou da
sua ilustração ou da sua probidade. Eu descri da ilustração. Todos os atos da
vida de V.Exª me autorizavam a fazê-lo.”
Em fins de 1871, depois de se haver esfumado a
possibilidade de um consulado itinerante, projeto que não chegou a ser
apresentado na Câmara dos Deputados, Jaime Batalha Reis acabou por ser
convidado para chefe do Serviço Agrícola do Instituto Geral de Agricultura,
cargo administrativo que ocupou em fevereiro de 1872. Não que fosse o lugar
desejado, mas permitia-lhe a entrada para a instituição onde fora um brilhante
aluno e a possibilidade de casamento com Celeste Cinatti, que se realizou em
setembro desse mesmo ano. Logo no outono viria a ser designado para substituir
Andrade Corvo nas cadeiras de Botânica, Economia Rural e Florestal, e
continuando a carreira docente ocupou, muito mais tarde, depois do respetivo
concurso, em 1882, o lugar de lente de Microscopia e Nosologia Vegetal.
O ano de 1874 e parte de 1875 vai ser
preenchido pela elaboração de um projeto também muito caro a Antero de Quental
e Oliveira Martins: a publicação de uma revista que reunisse a colaboração de
intelectuais portugueses e espanhóis. Depois de muitos contratempos, que
Batalha Reis ultrapassou com a habitual tenacidade, o 1º número da Revista
Ocidental saiu em fevereiro 1875, e foi nas suas colunas que Eça de Queirós
publicou a 1ª versão de “O Crime do Padre Amaro”. Além de Eça, nela colaboraram
Batalha Reis, Antero, Oliveira Martins, Adolfo Coelho, Sousa Martins, Maria
Amália Vaz de Carvalho, intelectuais e políticos espanhóis como Pi y Margall,
Fernandez de los Rios, Rafael de Labra, Canovas del Castillo. Porém, as
dificuldades de coordenar a colaboração, e a falta de financiamento, situação
crónica neste tipo de publicações, derrotou o projeto, que não
ultrapassou o mês de julho.
No ano seguinte, em 1876, recebeu a nomeação
para comissário do setor agrícola da Exposição de Filadélfia, que comemorava o
centenário da independência dos Estados Unidos da América. A essa missão a
portaria acrescentava a incumbência de estudar a cultura da vinha, do algodão e
do tabaco. Porém, uma mudança de ministério obrigou-o a um regresso precipitado
sem haver concluído as necessárias pesquisas.
A par da atividade profissional, nunca
descurou o interesse pela cultura portuguesa colaborando em jornais e revistas
com crónicas sobre ópera, pintura e literatura. Nesse âmbito participou na
comissão executiva do centenário de Camões e foi delegado da Sociedade de
Geografia nas comemorações de Calderón de la Barca.
Mas em 1882, quando já era professor
catedrático de Microscopia e Nosologia Vegetal no Instituto Geral de
Agricultura, viu-se finalmente provido na carreira consular, recebendo a
nomeação para 1º cônsul em Newcastle, onde estivera Eça de Queirós que,
entretanto, passara para a cidade de Bristol. Jaime Batalha Reis, abandonando o
percurso docente e a agronomia, partiu em agosto do ano seguinte, com a
família, para o novo posto, mantendo-se na carreira diplomática perto de trinta
anos, até se aposentar em 1921.
A atividade como cônsul em Inglaterra
centrou-se na defesa dos nossos interesses em África, estudando a fundo, para o
bom desempenho dessa função, história e geografia. O reconhecimento, a nível
oficial, do domínio dessa problemática valeu-lhe a nomeação, como perito, para
a Conferência Anti-Esclavagista, que se realizou em Berlim de 1889 a 1891. O seu mérito como diplomata
levou-o a desempenhar missões confidenciais em Berlim e Paris ligadas a dois
problemas cruciais nesta época para Portugal – as negociações com a Inglaterra
sobre África e a situação do nosso crédito na Europa. É no meio desta frenética
atividade que recebe a notícia do suicídio de Antero. O texto que escreveu para
o In Memoriam do seu amigo - “Anos de Lisboa: algumas lembranças” - será
uma peça fundamental para a biografia do poeta e um importante testemunho sobre
a geração a que pertenceu, enviado de Newcastle quatro dias antes da morte do
seu outro amigo Oliveira Martins. Supomos que foi principalmente graças a esse
texto e ao que veio a escrever sobre Eça, prefaciando as Prosas Bárbaras,
que o nome de Jaime Batalha Reis voltou a ser reconhecido como um dos ativos
elementos desta Geração. E no ano em que representava Portugal na Conferência
Internacional para a Proteção da Fauna Africana, com onze dias de
intervalo, morreu-lhe a mulher e o seu companheiro de muitos anos, Eça de
Queirós.
Até à implantação da República continuou a
manter uma intensa atividade. Já fellow da Royal Geographical
Society, apresentou em 1895 uma comunicação “On The Definition of Geography as
a Science [...]” que teve grande repercussão nos meios científicos. Na reunião
da Association Scientifique Internationale d’Agronomie propôs um
estudo sobre o trabalho agrícola e o emprego indígena nos países tropicais,
sendo relator principal. Como ele próprio explicou, não se pretendia
quantificar a mão de obra agrícola, mas estudar as condições da sua existência
e o destino dos trabalhadores agrícolas na colónias e países tropicais.
Depois da implantação da República, Bernardino
Machado chamou-o a Lisboa para participar na remodelação do ministério. Em
julho é enviado como ministro plenipotenciário a S. Petersburgo, onde apresentou
as credenciais a Nicolau II. Mas logo no mês seguinte regressou para
desempenhar comissões em Paris e Londres. No fim do ano de 1813 é enviado de
novo à Rússia como representante de Portugal nas comemorações da dinastia
Romanov, levando consigo duas das filhas, Celeste e Beatriz. Foi assim apanhado
no vórtice da Revolução de 1917 e envolvido nos acontecimentos diplomáticos que
então ocorreram. Só em 1818 conseguiu sair por Murmansk.
Nomeado delegado plenipotenciário à
conferência de Paz em Paris, e a seguir representante de Portugal na comissão
que iria elaborar o Pacto da Sociedade das Nações, multiplicou a sua atividade
pelas comissões a que pertencia, enviando para o respetivo ministro português
numerosos relatórios sobre as matérias aí tratadas. No regresso a Portugal
criou o Secretariado da Sociedade das Nações e lançou as bases da Associação
Portuguesa para a Sociedade das Nações, de que viria a ser vice-presidente.
Só se aposentou em agosto de 1821, depois de
uma cirurgia aos dois olhos. Retirou-se para a Quinta da Viscondessa, no
Turcifal, com as duas filhas solteiras, para se poder dedicar à sua
“filosofia”, que no dizer do amigo Viana da Mota se chamaria Explicação do
Universo. Mas a aterradora visão dos 19 armários da sua sala de trabalho,
repletos de milhares de cartas e rascunhos, tornou-o incapaz de levar a tarefa
a bom porto. Seria a filha Beatriz quem, após a sua morte, em 1935, organizou
pacientemente o Espólio, oferecendo-o depois à Biblioteca Nacional.
Fontes e Bibliografia
Espólio Jaime Batalha Reis (Esp.E4) BN:ALPC.; Cartas
Inéditas de Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Batalha Reis [...] (intr.,
coment. e notas de Beatriz Berrini), Lisboa: Ed. “O Jornal”, 1987; Correspondência
entre Antero de Quental e Jaime Batalha Reis. (int., org. e notas de M.
Staack) Lisboa: Assírio e Alvim, 1982; Costa, Fernando Marques da, "Sobre
um possível Jaime Batalha Reis [...]", Revista da Biblioteca Nacional,
Lisboa, 3 (1-2), 1983; Cunha, Isabel Férin, "Sobre a estante de Jaime Batalha
Reis: o homem e o seu círculo", Revista da Biblioteca Nacional,
Lisboa, S.2, 8 (2) 1993; Eça de Queiroz e Jaime Batalha Reis: cartas e
recordações do seu convívio. ( colig. e apres. por Beatriz C. Batalha Reis)
Porto: Lello & Irmão Ed.,1966; Quental, Antero de, Cartas I e II.
(org., int. e notas de Ana Maria Almeida Martins) Lisboa: Universidade dos
Açores/Ed. Comunicação, 1989.
Espólio Jaime Batalha Reis (Esp.E4) BN:ALPC.; Antero
de Quental: In Memoriam, Lisboa: Presença/Casa dos Açores, 1993, (facsimile);
Batalha Reis na Rússia dos sovietes [...]. (análise crítica, recolha e
notas de J. Palminha da Silva) Porto: Afrontamento, 1984 ; Carreiro, José
Bruno, Antero de Quental, subsídeos para a sua biografia, Lisboa: Ed. do
Inst.de Ponta-Delgada, 1948; Cartas Inéditas de Eça de Queiroz [...] (intr., coment. e notas de Beatriz Berrini), Lisboa: Ed. “O Jornal”,
1987; Correspondência entre Antero de Quental e Jaime Batalha Reis.
(int., org. e notas de M. Staack) Lisboa: Assírio e Alvim, 1982; Correspondência
de J. Batalha Reis para Barbosa Du Bocage. (int., org. e notas de Alice
Godinho Rodrigues) Lisboa: INIC, 1990; Costa, Fernando Marques da, "Sobre
um possível Jaime Batalha Reis [...]", Revista da Biblioteca
Nacional, Lisboa, 3 (1-2), 1983; Cunha, Isabel Férin, "Sobre a estante
de Jaime Batalha Reis: o homem e o seu círculo", Revista da Biblioteca
Nacional, Lisboa, S.2, 8 (2) 1993; Eça de Queiroz e Jaime Batalha Reis:
cartas e recordações do seu convívio. ( colig. e apres. por Beatriz C.
Batalha Reis) Porto: Lello & Irmão Ed.,1966; Garcia, João Carlos,
"Jaime Batalha Reis, geógrafo esquecido", Finisterra, Lisboa,
XX, 49, 1985; Marinho, Maria José,
"A 'Revista Ocidental', 1875: um projecto da Geração de 70", Revista
da Biblioteca Nacional, Lisboa, S.2, 7 (1) 1992; Queiroz, Eça
de, Prosas Bárbaras. Porto: Liv. Chardron, 1903; Quental, Antero de, Cartas
I e II. (org., int. e notas de Ana Maria Almeida Martins) Lisboa:
Universidade dos Açores/Ed. Comunicação, 1989, Reis, Jaime Batalha, Descobrimento
do Brasil Intelectual pelos Portugueses do Século XIX. (org., pref. e notas
de Elza Miné), Lisboa: Publ. D.Quixote, 1987, Exmo Snr. Marques d'Avila e
Bolama, Porto, Tip.Comercial, 1871; Estudos Geográficos e Históricos, Lisboa:
Agência. Geral das Colónias, 1941; Revista Inglesa: crónicas. (org.,
int. e notas de Maria José Marinho),
Lisboa: Publ. D.Quixote/BN, 1988; Rodrigues, Alice Godinho, Jaime Batalha
Reis geógrafo, historiador, político e diplomata, Porto: [s.n.],
1988; Santos, Andrade, Batalha Reis no Turcifal, Torres Vedras:
Tip. A União; Serrão, Joel, O primeiro Fradique Mendes, Lisboa: Liv.
Horizonte, 1985.
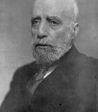
José Leite de Vasconcelos, por Elisabeta Mariotto
José Leite de Vasconcelos(1858-1941)
José Leite de Vasconcelos Pereira nasceu em Ucanha, concelho de Tarouca, a 7 de julho de 1858. Passou a infância e a adolescência no meio rural, onde teve contacto com as tradições e os costumes locais. Aos 18 anos, deixou a Beira para ir viver no Porto, onde exerceu a atividade de docência, num liceu, para ajudar no sustento da sua família. Licenciou-se em Ciências Naturais, em 1881, e em Medicina, pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, em 1886. Durante o curso de Medicina, escreveu uma das suas primeiras obras: Tradições Populares Portuguesas. Na sua tese de licenciatura, intitulada A Evolução da Linguagem, já dava sinais das duas paixões que iriam determinar a sua carreira: a filologia e a arqueologia. Exerceu a profissão de médico durante apenas um ano, assumindo as funções de subdelegado de saúde do Cadaval, distrito de Lisboa. Em 1888, tomou posse na Biblioteca Nacional, onde trabalhou durante 23 anos. Em 1901, doutorou-se em Filologia, com honras, na Universidade de Paris, com a tese Esquisse d'une dialectologie portugaise. Empenhou-se na criação de um museu dedicado ao conhecimento das origens e tradições do povo português, criando o Museu Etnográfico Português (atual Museu Nacional de Arqueologia). Inicialmente, este museu estava instalado numa sala da Direção dos Trabalhos Geológicos, tendo sido transferido, em 1900, para uma ala do Mosteiro dos Jerónimos. Em 1911, foi convidado a lecionar Filologia Clássica na recém-criada Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sendo, assim, obrigado a abandonar a Biblioteca Nacional, mas sem deixar de dirigir o Museu Etnográfico. Na Faculdade de Letras, lecionou também Numismática, Epigrafia e Arqueologia. Reformou-se em 1929, quando começou a dedicar-se, exclusivamente, à escrita. Faleceu em Lisboa, a 17 de maio de 1941, deixando, como legado, obras que compreendem as áreas da etnografia, filologia, arqueologia, numismática e epigrafia.
Leite de Vasconcelos é considerado o fundador da dialetologia portuguesa. Desenvolveu o primeiro estudo sobre o Mirandês, publicado em 1882, sob o título O Dialecto Mirandez, estudo este que foi, posteriormente, aprofundado e publicado numa obra de dois volumes, intitulada Os Estudos de Filologia Mirandesa (1900-1901). Em 1894, publicou a Carta Dialectológica de Portugal Continental, na qual distingue os dialetos portugueses. Em 1901, na sua tese de doutoramento, acrescentou os dialetos insulares (açoriano e madeirense) e os dialetos do "ultramar" (brasileiro e indo-português), além dos dialetos crioulos, o português dos judeus (Amesterdão e Hamburgo) e o Galego. Continuou a desenvolver seus estudos sobre os dialetos portugueses, acrescentando ao Mapa Dialectológico de Portugal Continental (1929) três variedades do dialeto de Trás-os-Montes: Peso da Régua, Alijó e Boticas (Barroso).
Os estudos de Leite de Vasconcelos serviram de inspiração e orientação a vários linguistas, que se dedicaram a continuar o trabalho de investigação e de descrição dos dialetos portugueses. Paiva Boleó publicou, em 1958, juntamente com Maria Helena Santos Silva a obra Mapa de Dialectos e Falares de Portugal Continental, um estudo baseado nas investigações de Leite de Vasconcelos. Lindley Cintra também se dedicou exaustivamente ao estudo sobre os dialetos portugueses. Em 1971, elaborou uma Nova Proposta dos Dialectos Galego-Portugueses, apresentando, anos mais tarde, Estudos de Dialectologia Portuguesa (1984). Em 1992, publicou o Mapa dos Dialectos de Portugal Continental e da Galiza, onde expande a classificação dos dialetos portugueses feita por Vasconcelos, distinguindo os dialetos galegos, os dialetos portugueses setentrionais, os centro-meridionais e os dialetos leonenses. Todos estes estudos foram influenciados pelas investigações de Leite de Vasconcelos, o que nos leva a concluir que a sua obra foi de extrema importância para o desenvolvimento da linguística em Portugal.
Segundo Manuel Heleno (1960), Leite de Vasconcelos dominava as mais variadas fontes de saber que lhe permitiam um poder de se relacionar de forma única com história da cultura portuguesa. Além disso, sua obra caracterizou-se por um profundo sentido nacional devido à aplicação das conquistas da ciência universal ao campo português, tendo todo o seu trabalho aberto novas perspetivas à ciência em Portugal.
Bibliografia ativa:
• Castro, I. (2005). Os Opúsculos de Leite de Vasconcelos. http://cvc.instituto-camoes.pt/bdc/etnologia/opusculos/index.html
• Guimarães, R. D. (2010). José Leite de Vasconcelos e o Percurso da Dialectologia Portuguesa. http://repositorio.utad.pt/handle/10348/1530
• Heleno, M. (1960). José Leite de Vasconcelos: Livro do Centenário (1858-1958). Lisboa: Imprensa Nacional.
Bibliografia passiva:
• Vasconcelos, L. (1882). O Dialecto Mirandês. Revista Lusitana. Lisboa.
• Vasconcelos, L. (1894). Carta Dialectológica de Portugal Continental. Lisboa.
• Vasconcelos, L. (1897). Mapa Dialetológico do Continente Português. Lisboa.
• Vasconcelos, L. (1900-1901). Os Estudos de Filologia Mirandesa. Lisboa.
• Vasconcelos, L. (1901). Esquisse d'une dialectologie portugaise. Paris. Université. (Edição portuguesa: Esquisse d'une dialectologie portugaise. Lisboa. Instituto Nacional de Investigação Científica / Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. 3ª edição. 1987).
• Boleó, P. & Silva. M. H. S. (1958). Mapa de Dialectos e Falares de Portugal Continental. Coimbra: Universidade.
• Cintra, L. (1971). Nova Proposta dos Dialectos Galego-Portugueses. In: Boletim de Filologia XXVI. Lisboa: Centro de Estudos Filológicos.
• Cintra, L. (1984). Estudos de Dialectologia Portuguesa. Lisboa: Sá da Costa.
• Cintra, L. (1992). Mapa dos Dialectos de Portugal Continental e da Galiza. In: Atlas da Língua Portuguesa na História e no Mundo. Lisboa: Comissão para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses. Lisboa: União Latina.

Moniz Barreto, por Carlos Leone
De origem goesa, onde cursou o Liceu e se
familiarizou com a Literatura e a língua inglesas (algo incomum na cultura
portuguesa de então, sobretudo francófona), Moniz Barreto (1863-1899) terá sido
o principal autor entre os que ensaiaram uma via científica na crítica
literária, muito embora a sua morte prematura não lhe tenha permitido alcançar
uma influência sobre o seu tempo, com o qual veio a partilhar uma antipatia a
Inglaterra por força da questão do Ultimato de 1890.
Em Lisboa frequentou desde 1880 o Curso
Superior de Letras, escola onde foi aluno de Teófilo Braga, Jaime Moniz,
Ferreira-Deusdado, Adolfo Coelho, entre outros. Os ensaios que escreverá
evocam-nos várias vezes, quase sempre saudosamente; no entanto não se
distinguiu entre os colegas (o que não significa que estes o desconsiderassem).
Mas a instituição teve influência duradoura no espírito do jovem Moniz Barreto
pelo ambiente positivista instaurado por Teófilo e seus seguidores (mesmo se se
tratava de um positivismo com originalidades pouco comteanas).
Assim, a uma formação juvenil tradicionalista
sucedeu uma imersão na variante local do espírito materialista não dialético
corrente em Portugal à época, com toda a singularidade que isso acarretava e
que decerto terá transparecido aos olhos de Moniz Barreto quando, na década
seguinte, frequentou em Paris vários seminários da Universidade local. Uma
combinação improvável e de árdua conciliação, mais a mais tendo Moniz Barreto
experimentado desde muito cedo as manhas do «Portugal histórico»: sem
oportunidade de desenvolver a atividade científica regular que talvez o
tivesse feito aprimorar o seu genuíno compromisso com o trabalho intelectual,
começou por ser bibliotecário (na Câmara Municipal de Lisboa) e deu início a
uma intensa atividade como crítico e publicista na Imprensa do seu tempo: Jornal
de Comércio, O Repórter e, entre outros, sobretudo a Revista de
Portugal dirigida por Eça, foram tribunas de distinção para o jovem letrado
que assim persistiu na exposição das suas tendências intelectuais sincréticas
mais do que as questionou. O golpe de misericórdia deu-se na forma, ainda hoje
tão usual, de um concurso simulado para admissão ao professorado (nos caso um
lugar de docente de História no Colégio Militar) do qual Moniz Barreto foi
excluído para se proceder a um ajuste direto. Ainda tentou o jornalismo no
Brasil, onde a desilusão chegou rápida, e a partir de 1894 fixou-se em Paris. Aí, as desilusões
anteriores, os problemas de saúde e a escassez de meios de subsistências,
aliadas a um temperamento dado ao isolamento, foram o bastante para o seu
pensamento e o seu estilo não evoluírem. Morreu literalmente consumido em 1899,
consumido por si e pelo país que amava, ignorado pela Pátria de acolhimento.
Tinha sido ‘lançado’ por Eça quando, no
primeiro número da sua Revista de Portugal (1889), publicou “A
Literatura Portuguesa Contemporânea”, trabalho no qual as marcas da ciência em
clave positivista estão já bem patentes. Na década seguinte, até à sua morte,
nunca abdicou dessa cientificidade mas aprofundou-a num sentido cada vez mais
psicologicizante (em especial no seu Oliveira Martins de 1892).
Rapidamente reconhecido como um autor a considerar (Silva Gaio dedicar-lhe-á em
1894 a
integralidade do volume I da sua obra Os Novos), certo é que a sua
restante produção é pontual e dispersa, tendo sido coligida em volume apenas no
século XX em antologias de Vitorino Nemésio (Ensaios de Crítica, 1944) e
de Castelo Branco Chaves (Estudos dispersos, 1963).
A sua ambição científica nunca encontrou um
trabalho que lhe permitisse exprimir-se completamente; quando morreu, em Paris,
tinha-se isolado mesmo dos seus amigos mais próximos, por força de um orgulho
que o levava a rejeitar apoios. Esse temperamento sobressai também nos textos,
ora apaixonantes ora entediantes, mas sempre carregados de convicção, mesmo
quando tenta, sem sucesso, distanciar-se da sua própria condição (Eça, com o
tempo, cansou-se disso mesmo). Fiel ao europeísmo das correntes intelectuais do
seu tempo, Guilherme Moniz Barreto estudou com igual interesse não só autores
portugueses mas também estrangeiros (como Taine, talvez a sua maior influência
teórica), e por isso, hoje, a Imprensa Nacional ultima uma nova edição das suas
obras, refundindo as duas edições anteriores segundo novos critérios.
Sobre Moniz Barreto, cf. Barreto, Guilherme
Moniz» por António Salgado Júnior, em Prado Coelho, J., dir., Dicionário de
Literatura, vol. 1, pp.178, Mário Figueirinhas Editor, Porto, 1997 (4ª ed.)
e o mais recente estudo, de 1989, por António Braz Teixeira, «Barreto (Guilherme
Moniz)» in Enciclopédia Logos, Verbo, Lisboa/São Paulo (reimpr. 1997,
col. 610/611).

Pinheiro Chagas, por Carlos Leone
Pinheiro Chagas
Último nome maior da primeira geração de críticos
literários que Portugal conheceu, Pinheiro Chagas (Lisboa, 1842-1895) foi
também, e mais celebremente, o «fiel inimigo» de Eça de Queirós, o qual o
crismou de «brigadeiro Chagas», reprovando-lhe o seu patrioteirismo agarrado ao
passado. Com efeito, muito do sucesso do trabalho de Chagas junto do público
deveu-se à sua capacidade para – no teatro, na historiografia, na política, na
novela, na poesia – tocar com sucesso as cordas mais patéticas da
sentimentalidade portuguesa do seu tempo. Isso mesmo torna-o uma leitura um
pouco frustrante, hoje, devido ao sucesso posterior do estilo e da atitude de
Eça junto do mundo literário (e da cultura em geral) de Portugal. Mas o seu
trabalho inicial, no jornalismo literário, merece consideração por aí se
encontrar já tudo o que depois viria a celebrizá-lo, mas ainda numa forma muito
primitiva e ingénua (os dois volume de crítica, Ensaios Críticos e Novos
Ensaios Críticos, serão em breve republicados pela INCM).
Pinheiro Chagas viu publicados os seus Ensaios
Críticos (Porto, 1866), ainda muito jovem. Os ensaios aí reunidos tinham
sido escritos e publicados quando tinha pouco mais de vinte e um anos e
reunidos com pouco mais de vinte e três (cf. «Nota» final ao livro). No caso de
Chagas e de tantos outros depois dele, vemos que muita da crítica que deixou
marca foi feita por gente implausivelmente nova, quase sempre com posições
muito diversas: Chagas e os «Vencidos da Vida»; Fidelino e Pessoa; Régio e
Cunhal; Gaspar Simões e Casais Monteiro… Assim se acompanha o que houve vivo e
ativo desde a segunda metade do século XIX até à segunda metade do século XX.
Longe de ser uma exceção, Pinheiro Chagas é apenas um exemplo possível de como
é entre os menos experientes que surgem, tantas vezes, os mais relevantes para
a História da República das Letras. Só desde o momento que essa História, da
Literatura e da Crítica, começou a ser feita sistematicamente dentro da
Universidade, desde meados do século XX, é que se operou a dupla mutação face à
crítica «impressionista» (termo ainda aplicável, aliás, a quase tudo o que um
David Mourão-Ferreira cometeu na crítica, como o próprio admitia) em que Chagas se exercitou nos seus ensaios: a
constituição de um público no sentido moderno do termo, falta tantas vezes
lamentada tanto por Chagas como por outros depois dele (como ainda no caso do Inquérito
Literário de Boavida Portugal, em 1915); e a criação de um establishment
universitário em contacto regular com aquela Europa moderna que a geração
de Chagas e Eça – e mesmo antes dela – tomava por ideal normativo. Sem estas
duas mudanças, e a mudança social que se produziu com elas no último quartel do
século XX, o mundo literário e social de Chagas permaneceria sendo o nosso.
Nesse mundo, a prosa tendia à solenidade e o
número de carateres ainda não era a ultima ratio da escrita, nem mesmo
da jornalística. Quem conhecer as longas aberturas dos textos do início do
século XX sentir-se-á à vontade entre a prosa dos novos de meados do século
XIX, com as suas extensas divagações sobrecarregadas de erudição clássica e
moderna.
Como Chagas explica nas suas «Duas palavras
d’Introducção», Ensaios Críticos reúne alguns dos textos do «primeiro
ano do meu noviciado jornalístico.». Nele, e em tudo o que mais se propunha
fazer, «a missão da crítica era elevadíssima», mesmo se a adulação colhe sempre
mais adeptos, tanto entre os maiores como entre os menores: «Perante a vaidade
todos somos iguais». E a modéstia do aspirante a critico, a homem de letras
naquela aceção que hoje desapareceu, só torna a leitura dos ensaios mais
esmagadora: aquela ideia de cultura já não existe, aquela língua portuguesa já
não existe, aquela Pátria já não existe.
Os Novos Ensaios Críticos não trazem
nada de novo ao leitor, seja nos temas, seja no seu tratamento. Lançado apenas
um ano depois do primeiro volume de ensaios, resulta do sucesso público do seu
predecessor e pretende, sim, juntar ao já conhecido alguns ensaios inéditos,
escritos sem a pressão do quotidiano jornalístico e assim menos sujeitos a
erros e mais propícios à perenidade. Ou assim Pinheiro Chagas pretendia.
Na realidade, retoma e desenvolve os mesmos
temas e autores para reiterar as suas ideias já estabelecidas. Por vezes isso
resulta numa sistematização de argumentos mais clara, como sucede em «As
memórias do Judas», onde o comentário ao romance homónimo serve para fixar uma
relação entre o idealismo em arte e o espiritualismo na vida, por oposição à
degeneração do Romantismo em Arte e sua sequela social, o materialismo. Sendo
escasso, é do mais relevante que se pode encontrar. Novo, com efeito, só o
elogio a Júlio Diniz e a saudação à estreia de Silva Gaio na ficção (Mário).
A posição social como crítico cimentava-se e
já se sente a referência à polémica de Antero com Castilho (leia-se a segunda
secção do ensaio «Thomaz Ribeiro»). Assim também com toda a sua geração. Até
por isso, é apropriado o ensaio final ser sobre o Em Paris, de Ramalho
Ortigão. Neste livro, nem haverá necessidade de qualquer nota final, pois é já
a sociedade ilustrada do final do século XIX português que aqui fala entre si,
sem ilusões quanto ao presente, apenas dúvidas sobre o futuro e discordância a
respeito do passado. Sobre Pinheiro Chagas, cf. «Chagas, Manuel Joaquim
Pinheiro» por Hernâni Cidade, em Prado Coelho,
J., dir., Dicionário de Literatura, vol. 1, pp.178, Mário Figueirinhas
Editor, Porto, 1997 (4ª ed.).