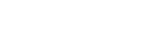José Gomes Ferreira, por Fernando J. B. Martinho
José Gomes Ferreira (1900-1985) nasceu no Porto, em 1900. Publicou em 1918 e 1921, respetivamente, duas coletâneas poéticas, Lírios do Monte e Longe, que mais tarde retirou da sua bibliografia. Só em 1931, depois de ter exercido funções de Cônsul de Portugal em Kristiansund, na Noruega, encontra verdadeiramente a sua voz num poema, “Viver sempre também cansa”, que dá a público na revista presença, nesse mesmo ano. Esse texto, em que Gomes Ferreira reconheceu, no relato que fez da sua aparição, em A Memória das Palavras, de 1965, o seu autêntico nascimento como poeta, vem a abrir, dezassete anos depois, o volume com que, realmente, se estreia, Poesia – I. Entretanto, tinham saído, entre 1941 e 1944, os dez volumes da Col. Novo Cancioneiro, que constituíram a mais visível afirmação do neorrealismo poético, e na qual José Gomes Ferreira, apesar do convite que, para o efeito, recebeu, não veio a figurar. É, no entanto, desses poetas, a alguns dos quais, a partir de certa altura, o ligam fortes laços de amizade, que se sentirá mais próximo, o que, juntamente com a óbvia orientação social da sua lírica, levou a que se enraizasse, na nossa tradição crítica moderna, a ideia de o situar no âmbito do neorrealismo. Mas tal enquadramento periodológico, embora não totalmente desadequado, tem que ter em conta um certo número de fatores que aconselham a introdução de matizes nessa classificação. Em primeiro lugar, a influência que a obra de Raul Brandão teve no grupo de que fazia parte nos anos 20. No primeiro volume das Memórias, deixará registo do que para ele e para os seus companheiros terá significado o autor de Húmus: «Durante meia dúzia de anos, Raul Brandão foi, sem o saber, o mestre secreto da primeira fornada que, após a Revolução Formal do Futurismo, e embora concordante com todas as novidades do Orpheu e revistas subsequentes, se opôs por instinto ao seu conteúdo aristocrático, em busca aflita de outro Sinal.» Os anos passados na Noruega, e a leitura de autores como Ibsen e Knut Hamsun, não terão senão acentuado o pendor expressionista do seu imaginário já muito marcado por Brandão, na origem, como se sabe, do que houve de larvar expressionismo, sem contacto real com o expressionismo literário alemão, em vários autores do nosso Segundo Modernismo. Depois, não deixe de se assinalar que o poema que atesta o seu verdadeiro nascimento como poeta veio a lume numa publicação, a presença, que, nos começos dos anos 30, era indubitavelmente o ponto de convergência de todos os que, em Portugal, estavam empenhados em praticar e em impor uma ideia de arte moderna. De resto, todo o percurso de José Gomes Ferreira a partir do momento epifânico de “Viver sempre também cansa” se vai pautar pela “Revolução Formal” modernista, e não é possível entender a ampla e conturbada liberdade da sua escrita, o inusitado das suas imagens e da sua sucessão no poema ( «aos cachos», como deixou dito num texto de Elétrico, 1956 ), sem ser no quadro das transformações da linguagem poética operadas pelo Modernismo. O poeta fazia, de resto, questão, numa passagem de Imitação dos Dias, de 1966, de se afirmar «sem saudades de qualquer passado», em sintonia perfeita com o seu tempo, na diversidade de correntes que, dentro das várias artes, se orientariam mais para uma conceção alargada do Modernismo, hoje por muitos aceite, que o não restringisse às tendências inovadoras das primeiras décadas de Novecentos: «Coincido integralmente com a minha época de neo-realistas, de surrealistas, de abstractos, de neo-figurativos, de concretistas, de dodecafónicos, de pesquisadores de timbres, de Maiakovski, de Kafka, de Prokofiev, de Malraux, de Cholokov, de Sartre, de Aragon, de Drummond de Andrade – e aqui proclamo a glória de ter nascido na Idade de Aquilino, Afonso Duarte, Vieira da Silva e Lopes Graça, sem saudades de qualquer passado.» Um outro aspeto aproxima José Gomes Ferreira dos «presencistas», a centralidade do eu na sua obra, não apenas nos livros em verso, mas também nos livros em prosa, como já tem sido sublinhado ( cf. Paula Morão, “O poeta andante, um fingidor em prosa”, José Gomes Ferreira – Operário das Palavras, 2000, p. 23 ). O subtítulo escolhido para a edição da sua poesia, a partir da segunda metade dos anos 70, nos três volumes de Poeta Militante, “Viagem do Século Vinte em Mim”, remete também para a importância da experiência pessoal, para a subjetividade em que se fundamenta a sua resposta à História.A abrir o 1º volume de Poeta Militante, vem uma nota onde pode ler-se o seguinte: «Poeta Militante é a viagem do século vinte em mim. Ou melhor: o testemunho poético [...] da aventura da sombra de um anti-herói que, perdido nos meandros dos caminhos exíguos do tempo, [...] atravessou em bicos dos pés os segundos, os minutos, as horas, as semanas, os anos de quase um século, mais preocupado com as coisas vulgares do quotidiano nos cafés, nas ruas, nas praias, no campo, do que com acontecimentos merecedores no futuro de longos tratados de estudo volumosos que me inspiraram muitas vezes apenas poema e meio./ [...]». O que há de «protesto», de apaixonada denúncia nestes poemas que se organizam, sob a forma de «diários em verso», em séries ou conjuntos, com datas desfasadas do momento de publicação, é o que, em larga medida, justifica a aproximação ao neorrealismo, para além da indefetível perseguição da «Revolução Impossível». Mas, como a nota de abertura de Poeta Militante sublinha, o espanto, o estremecimento lírico que o move ao canto, nasce mais da vulgaridade do quotidiano do que da excecionalidade dos acontecimentos que moldam a História. É na indecisa fronteira entre o real e o irreal, como nos lembra um dos seus títulos mais emblemáticos, O Irreal Quotidiano, de 1971, que melhor se afirma, afinal, a aventura literária de José Gomes Ferreira, encarada na sua globalidade e sem o artifício da divisão de géneros.Bibliografia SumáriaAtivaPoesia:- Poeta Militante I, 4ª ed., 1990; Poeta Militante II, 4ª ed., 1991; Poeta Militante III, 4ª ed., 1998.Ficção:- O Mundo dos Outros: histórias e vagabundagens, 9ª ed., 2000.- Aventuras de João Sem Medo: panfleto mágico em forma de romance, 19ª ed., 1999.- Tempo Escandinavo: contos, 2ª ed., 1976.Memórias:- A Memória das Palavras ou o Gosto de Falar de Mim, 5ª ed., 1991.Diário:- Dias Comuns I: Passos Efémeros, 1990; Dias Comuns II: A Idade do Malogro, 1998; Dias Comuns III: Ponte Inquieta, 2000.PassivaAlexandre Pinheiro Torres, Vida e Obra de José Gomes Ferreira, 1975.Vértice, nº 473-475, Julho-Dezembro de 1986 ( dedicado a J.G.F. ).José Gomes Ferreira: Operário das Palavras, Catálogo da Exposição Comemorativa do Centenário do Nascimento ( concepção e organização de Raúl Hestnes Ferreira ), 2000. Inclui bibliografia exaustiva.Isabel Pires de Lima et al. ( coord. ), Viagem do Século XX em José Gomes Ferreira, 2002.

Leonardo Coimbra, por Pedro Calafate
Leonardo Coimbra (Quadro de Eduardo Malta)
Natural da vila da Lixa, próximo de Amarante, foi uma das figuras mais proeminentes do movimento da Renascença Portuguesa, que fundou, juntamente com Teixeira de Pascoaes, António Sérgio e Raul Proença entre outros. Entre 1919 e 1931 foi professor de Filosofia na Faculdade de Letras do Porto, por ele criada quando, pela primeira vez, ocupou o cargo de ministro da Instrução Pública.Os conteúdos doutrinários da sua obra remetem-nos para o conceito de criacionismo, que deu título à sua obra mais importante. O criacionismo afirma-se como uma filosofia da liberdade, radicando nas infinitas capacidades criadoras do pensamento, que dinamicamente se liberta dos determinismos naturais e sociais. Na sua base encontra-se a atividade científica que abordou em duas vertentes complementares.Por um lado, a ciência representava o «espírito da cultura moderna», constituída na base do «livre acordo», tendo a razão por autoridade única, liberta do autoritarismo de princípios impostos exteriormente à atividade do pensamento. Representava um tipo de acordo que, por ser livre e responsável, considerava como a base de realização do acordo social que pela ascensão do indivíduo psicossocial à pessoa, numa dialética criadora, geraria a comunidade solidária e livre por que sempre se bateu.
Leonardo Coimbra (Desenho de Eduardo Malta)
Por outro lado, o modelo de ciência a que se referia nada tinha a ver com o do positivismo. Tratava-se de uma ciência constituída na base da dialética nacional do pensamento, ou seja, não incide sobre coisas mas sobre noções ou representações mentais, considerando que a sensação é uma noção psicológica e não um dado e que, como noção que é, não é uma realidade completa mas um momento dialético de um processo, numa constante marcha para mais realidade e acréscimo de sentido. É na base deste criacionismo, que começa por afirmar-se inicialmente num plano gnosiológico, que se virá a afirmar a liberdade do homem, pois a realidade não poderá nunca ser deduzida de uma noção sintética superior se essa mesma noção não tiver sido por nós elaborada. Em última análise, a realidade não poderá nunca separar-se da dinâmica do pensamento, não é um conjunto de coisas de que o pensamento se aproprie, mas um conjunto de noções, sempre e já elaborado pela ação criadora do pensamento, num processo em si mesmo ilimitado. Se o espírito se move num conjunto de noções por si elaboradas, então ele é ato criador não se limitando a assimilar e a receber o já feito e o já pensado.A matéria não é assim o fundamento do pensamento, mas um seu produto, pelo que importa superar a divisão entre matéria e forma no âmbito do processo gnosiológico, para afirmar que toda a matéria e toda a realidade é já uma nacionalidade e uma ordem. O espírito é a atividade funcional do conhecimento, a matéria é todo o conhecido considerado independentemente da atividade que conhece, e a experiência é a interação do espírito e da matéria no ato de conhecer.L. C. afirma assim uma dialética ascensional que partindo do processo de elaboração das noções científicas nelas se não detém, petrificando ou estagnando, procurando antes elevar-se à constituição da última realidade irredutível, por si definida como a «pessoa moral». Enquadram-se neste processo dialético afirmações célebres de L.C., nomeadamente quando proclama que o homem é livre porque «a vida social lhe permitiu interpor entre a sensação e o ato a demora e a riqueza do pensamento», ou que, «o homem não é uma inutilidade num mundo feito, mas obreiro de um mundo a fazer».
Leonardo Coimbra ao lado do Maestro Lacerda
Nesta conformidade, o seu criacionismo gnosiológico projeta-se e amplifica-se no domínio da realidade espiritual da pessoa, mediante novas coordenações e novas sínteses que, num processo coerente fazem brotar a arte, a filosofia e a religião. A primeira alarga os domínios do sentimento elevando a liberdade da imaginação. A segunda alarga os domínios da liberdade que se torna plena porque a pessoa toma posse dos determinismos externos, empenhando-se numa elevação ao absoluto e eterno, sem que tal represente uma renúncia à vida quotidiana e à realidade concreta dos sentimentos ou à abertura solidária e amorosa ao outro, numa comunicação que institui a verdadeira comunidade.Quanto à religião, é de ver que o criacionismo, como filosofia da liberdade que se instaura pelo pensamento e ação da pessoa, nos faz ascender a uma religião que não se esgota na questão da fé. No criacionismo, a arte, a filosofia e a religião são postas e não opostas ao pensamento científico, no exato sentido em que têm de ser momentos do pensamento e não imposições dogmáticas. Se o pensamento científico, pelo livre acordo das consciências, e portanto pela fraternização e aproximação do homem ao mundo, levou à pessoa, esta exige, para a sua vida essencial de ação moral a arte, a filosofia e a religião. No caso presente, o sentimento religioso é o cume de um processo de «socialização absoluta» efetuada pelo pensamento, representando uma passagem da humanidade ao cosmo, num alargamento de perspetivas em comunhão amorosa e solidária, porque não dependente já de convenções ou pactos, mas do império de cada um sobre a sua alma nobre e livre em dádiva generosa, como emanava aliás do espírito do cristianismo, sobretudo na sua vertente franciscana. Para o filósofo, o homem não é já então uma parcela de um todo ou o elemento de uma harmonia, mas a consciência representativa do Todo.
Perfil de Leonardo Coimbra (Apont. de S. D.)
Neste ponto L.C. recorre à monadologia, inspirado em Leibniz, mas criticando a ideia de uma harmonia pré-estabelecida, porque contrária à liberdade inerente ao seu criacionismo, bem como à dinâmica comunicacional entre as mónadas. O universo é criado pelo homem num processo dialético que o faz chegar a um Deus não menos transcendente, pelo fraterno amor de tudo, e não algo criado de uma vez por todas pela vontade divina. Em última análise Deus é a luz que ilumina a atividade criadora do homem, luz pela qual ele ascende na infinita possibilidade da ação moral. Deus é o Amor que une, e cada consciência é a unidade elementar que pelo amor se move atraído pela «grande Unidade». Por isso, a compreensão é a Unidade e compreender é Amar.L.C. também se afirma aqui como o filósofo da saudade, termo que lhe permite entender a vida como tendência para a superação e o excesso de si própria, superando, pelo desejo da Unidade, a dimensão separatista que degrada e corrompe. A Saudade será a expressão do grande «abraço unitário» que nos atrai ao Centro do grande circulo do Ser, porque o que existe de mais material são «as almas afastadas». Assim, a saudade será sempre a companheira do homem enquanto se interpuser uma distância entre ele e a luz do Espírito, porque só esta conseguiria vencer as resistências que criam a sombra da saudade.Finalmente, no plano da educação, à qual dedicou a sua atividade política de ministro, compreende-se que mais importante que a «liberdade de ensino», condição sem dúvida necessária, seja a defesa da «liberdade pelo ensino», o que o fez também proclamar que mais importante que a vulgarização do saber era a elevação do vulgo à altura do homem.BIBLIOGRAFIAAtiva
Obras de Leonardo Coimbra, ed. Lello e Irmão, 2 volumes, Porto, 1983 (vol. I: Criacionismo (Esboço de um Sistema Filosófico); Criacionismo (Síntese Filosófica); A Alegria, a Dor e a Graça; Do Amor e da Morte; A Questão Universitária; A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre; vol. II; Pensamento Criacionista; a Morte; Luta pela Imortalidade; O Pensamento Filosófico de Antero; Problema da Indução; A Razão Experimental; Notas sobre a abstracção científica e o silogismo; Jesus; S. Francisco de Assis; Problema da Educação Nacional; S. Paulo de Teixeira de Pascoaes, O Homem às Mãos com o Destino)
Dispersos I - Poesia Portuguesa, Lisboa, 1984
Dispersos II - Filosofia e Ciência, Lisboa, 1987
Dispersos III - Filosofia e Metafísica, Lisboa, 1988
Passiva
Álvaro Ribeiro, Leonardo Coimbra. Apontamentos de Biografia e Bibliografia, Lisboa, 1945
id. Memórias de um Letrado, Lisboa, 1977
José Marinho, O Pensamento Filosófico de Leonardo Coimbra, Porto, 1945
id., «Leonardo Coimbra e o magistério do Amor e da Liberdade» em Verdade, Condição e Destino no Pensamento Português Contemporâneo, Porto, 1976
António de Magalhães, «A perenidade do pensamento filosófico de Leonardo Coimbra» em Revista Portuguesa de Filosofia, n.º 12 (1956)
Sant'Anna Dionísio, Valor da Ciência para Leonardo Coimbra, Porto, 1956
id., Leonardo Coimbra. Contribuição para o conhecimento da sua personalidade e seus problemas, Porto, 1983
id., Leonardo Coimbra, O Filósofo e o Tribuno, Lisboa, 1985
Manuel Freitas, O Pensamento criacionista de Leonardo Coimbra, Braga, 1957
id., «Aspectos do Saudosismo em Leonardo Coimbra», em Itinerarium, 4 (1958)
Ângelo Alves, O Sistema Filosófico de Leonardo Coimbra. Idealismo Criacionista, Porto, 1962
Delfim Santos, «Actualidade e valor do pensamento filosófico de Leonardo Coimbra», em Obra Completa, vol. II, Lisboa, 1973, p. 225-237
Miguei Spinelli, A Filosofia de Leonardo Coimbra, Braga, 1981
Manuel Ferreira Patrício, A Pedagogia de Leonardo Coimbra, Porto, 1992
Manuel Cândido Pimentel, Filosofia Criacionista da Morte: meditação sobre o problema da morte no pensamento filosófico de Leonardo Coimbra, Ponta Delgada, 1994.
VV. AA., Leonardo Coimbra Filósofo do Real e do Ideal. Colectânea de Estudos, Lisboa, 1985
W. AA., Filosofia e Ciência na Obra de Leonardo Coimbra, Actas do Simpósio realizado no Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, Porto, 1992.
Imagens provenientes de Obras de Leonardo Coimbra - I e II vols., Sant'Anna Dionísio (org.), Lello & Irmão Editores, Porto 1983.

Luís Albuquerque, por Francisco Contente Domingues
Luís Guilherme Mendonça de Albuquerque. Nasceu em Lisboa, em 06.03.1917. Licenciado em Ciências Matemáticas (1939) e em Engenharia Geográfica (1940) pela Universidade de Lisboa. Ingressa no corpo docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra em 1941, como assistente do 1.º grupo (Análise e Geometria) da 1.ª secção.Aprovado por unanimidade no concurso para Professor de cadeiras e cursos anexos de Desenho na Faculdade de Ciências (provido em 11.01.1949).Em 1959 obtém o doutoramento em Matemática com 19 valores, na Universidade de Coimbra, com a dissertação Sobre a Teoria da Aproximação Funcional.Em 1959/1960 estuda Métodos Estocásticos na Universidade de Göttingen (Alemanha Federal) com uma bolsa do Instituto de Alta Cultura, seguindo os seminários do Professor Konrad Jacobs. No regresso à Faculdade é-lhe entregue a cadeira de Álgebra; virá a ser um dos impulsionadores da mais tarde chamada Escola Portuguesa de Álgebra Linear, que alcança grande prestígio internacional.Em 1961 surge a Série de Separatas do Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga da Junta de Investigações do Ultramar (JIU), que é inaugurada pela Secção de Lisboa do Agrupamento com um trabalho de Teixeira da Mota, e pela de Coimbra com o seu estudo Os Almanaques Portugueses de Madrid.Aprovado no concurso para Professor Extraordinário da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra em 1963; apresenta a dissertação Matrizes de elementos não negativos. Matrizes estocásticas. Professor Agregado no mesmo ano.Com a publicação de O Livro de Marinharia de André Pires, em 1963, é lançada a Série Memórias da JIU, fruto do trabalho desenvolvido nas duas secções do AECA.Aprovado no concurso para Professor Catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra (9 de julho de 1966).Exerce então as funções de Secretário da Faculdade de Ciências da sua Universidade até 1968, retomando-as no biénio de 1970-72.Em 25 de Abril de 1968 foi nomeado Professor Catedrático em comissão de serviço na Universidade de Lourenço Marques (Estudos Gerais Universitários de Moçambique), situação em que se manteve até 1970.Assume a presidência do Conselho Diretivo da Faculdade de Ciências de maio a setembro de 1974.Em 1974-76 é Governador Civil do Distrito de Coimbra, único cargo de natureza política que ocupará alguma vez.De 1976 a 1978 desempenha novamente as funções de Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e desta última data a 1982 as de Vice-Reitor da Universidade.Diretor da Biblioteca Geral da Universidade desde 1978 até à data da jubilação.A partir de 1979 colaborou na criação da Escola Superior de Formação de Professores de Cabo Verde, onde profere vários ciclos de conferências sobre Matemática e História.Nos anos letivos de 1980-81 a 1982-83 lecionou o seminário "História da Cultura Portuguesa - O Renascimento" na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nos anos subsequentes lecionará outros cursos relativos à temática da sua especialização histórica nesta mesma Faculdade, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e na Universidade Autónoma de Lisboa.Integra a Comissão Consultiva da XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura (que tem lugar em Lisboa no ano de 1983), dirigindo o núcleo dos Jerónimos desta Exposição e o respetivo catálogo.Doutor Honoris Causa em História pela Universidade de Lisboa em 1985.Em 1986 foi Diretor de Estudos Convidado na École des Hautes Études en Sciences Sociales da Sorbonne.Em 1986 e 1987 publicam-se os dois volumes do Livro de Homenagem intitulado A Abertura do Mundo. Estudos de História dos Descobrimentos Europeus em Homenagem a Luís de Albuquerque.Jubilação universitária em 1987. Profere a última lição na Universidade de Coimbra e são-lhe dedicadas diversas cerimónias de homenagem em Lisboa e Coimbra.No ano seguinte é assinado com o Círculo de Leitores o contrato de edição do Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, que todavia só será publicado como obra póstuma.Com data de 1989 vem a público o maior projeto editorial que dirigiu: os seis volumes da obra coletiva Portugal no Mundo. Paralelamente publica-se a coleção Biblioteca da Expansão Portuguesa, cinquenta volumes com edições em versão atualizada de fontes, e reedição ou mesmo edição de trabalhos historiográficos sobre a História dos Descobrimentos e da Expansão. Planeia, dirige e coordena ambas as séries, tendo escrito para elas algumas dezenas de textos.A 2 de junho de 1990 inaugura-se a Exposição "Portugal-Brasil. A Era dos Descobrimentos Atlânticos", na The New York Public Library. É um dos Curadores desta Exposição de grande impacto internacional, e colabora ativamente no Catálogo com a Introdução escrita em parceria com Max Justo Guedes, um ensaio, um apêndice, e a autoria de boa parte das 161 legendas de peças.Em outubro de 1991 é hospitalizado em consequência de um acidente cardiovascular, de cujas sequelas não se recomporá. Morre em Lisboa, em 22.01.1992, no Hospital de Marinha._________________________Das várias instituições científicas com que colaborou ou a que pertenceu, cumpre ainda destacar:Academia das Ciências de LisboaMembro correspondente em 1971, efetivo em 1983, desempenhando mais tarde os cargos de Secretário da Classe de Ciências, Vice-Secretário Geral e Secretário-Geral.Academia Internacional da Cultura PortuguesaMembro correspondente em 1965, de número em 1979.Academia Portuguesa da HistóriaCorrespondente em 1969, académico de número em 1979.Académie Internationale d'Histoire des Sciences/Internationalis Scientiarum Historiae ComitatusSócio Extraordinário, com o número CCLXXXVI (1963).American Historical AssociationLevado à categoria de membro honorário no decorrer da 106ª Reunião Anual desta Associação, que tem lugar em Chicago entre 27 e 30 de dezembro de 1991. É a 76ª individualidade a merecer tal distinção em mais de um século de existência da AHA, conferida pela primeira vez a Leopold von Ranke.Centro de Estudos de História do AtlânticoParticipa ativamente na criação do Centro, de que é o primeiro Diretor. Nessa qualidade dá início às séries de publicações e aos Colóquios Internacionais de História da MadeiraComissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos PortuguesesPresidente da Comissão Científica em 1988; fundou e dirigiu a revista Mare Liberum; integrou o Comissariado de Portugal para a Exposição de Sevilha.Comité Internacional de História da Náutica e da HidrografiaPresidente até 1987 e Presidente Honorário desde essa data do organismo oficioso que agrupa os participantes regulares nas Reuniões Internacionais de História da Náutica e da Hidrografia.Grupo de Estudos de História da Marinha(cofundador em 1969), que dará depois lugar ao Centro de Estudos de Marinha, e este, por sua vez, à Academia de Marinha. Nesta é eleito Membro Emérito em 1987; Vice-Presidente e Presidente da Secção de História Marítima (1979-92).Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos PortuguesesPresidente do Grupo desde a fundação, concomitante com o início das Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.Instituto de Investigação Científica Tropical(antigas designações: Junta de Investigações do Ultramar e Junta de Investigações Científicas do Ultramar)Investigador (desde 1961), Sub-Diretor (1961) e Diretor da Secção de Coimbra (1978), e Diretor (1982) do atualmente designado Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga; Diretor do Departamento de Ciências Históricas, Económicas e Sociológicas (1984); Membro da Comissão Executiva do Instituto (1988).International Comission on the History of MathematicsIntegra o Comité Executivo em 1972.__________________________Para além das centenas de conferências e cursos de curta duração que proferiu e dirigiu em Portugal e vários países dos cinco continentes, tanto no âmbito da Matemática como da História da Náutica, da Ciência e da Expansão, a sua atividade teve na organização de colóquios e congressos internacionais uma das suas mais importantes e perenes vertentes.Podem-se destacar:
I Reunião Internacional de História da Náutica, que se reúne em Coimbra por sua iniciativa (1968), que dá origem às Reuniões Internacionais de História da Náutica e da Hidrografia, realizadas continuadamente desde então;
II Seminário de História Indo-Portuguesa (Lisboa, 1980);
"Colóquio Internacional sobre as razões que levaram a Península Ibérica a iniciar no século XV a Expansão mundial", que se reúne em Lisboa sob a égide da UNESCO, inserido no conjunto de encontros preparatórios da redação da Histoire Générale de l’Afrique (1983);
IV Seminário de História Indo-Portuguesa (1985);
I Colóquio Internacional de História da Madeira, no Funchal (1986), e o II, em 1989;
II Colóquio Internacional de História da Madeira, no Funchal (1989);
Simpósio "Redes Marítimas e Redes Associadas", promovido pela Comissão Nacional da UNESCO e pela CNCDP, que se vem a realizar em Abril-Maio de 1992 (Sagres e Lagos) em homenagem à sua memória.
__________________________BIBLIOGRAFIA ATIVA(monografias e direção de obras)A) HistóriaAlgumas observações sobre o planisfério ‘Cantino’ (1502), Coimbra, JIU-AECA, Sep. XXI, 1967. (co-autoria de L. A. e José Lopes Tavares)Alguns Aspectos da Ameaça Turca sobre a Índia por Meados do Século XVI, Coimbra, JIU-AECA, Sep. CI, 1977.Alguns Casos da Índia Portuguesa no Tempo de D. João de Castro, 2 vols., Lisboa, Alfa (BEP, vols. 6/7), 1989.Os Antecedentes Históricos das Técnicas de Navegação e Cartografia na Época dos Descobrimentos/The Historical Background to the Cartography and the Navigational Techniques of the Age of Discovery, Lisboa, CNCDP-Ministério da Educação, 1988.O Arquipélago da Madeira no Século XV, [Funchal], Secretaria Regional do Turismo e Cultura/Centro de Estudos de História do Atlântico, 1987. (co-autoria de L.A. e Alberto Vieira)Ed. inglesa: The Archipelago of Madeira in the XV century, [Funchal], Secretaria Regional do Turismo e Cultura/Centro de Estudos de História do Atlântico, 1987.Arte de Navegar de Manuel Pimentel, ed. comentada e anotada por Armando Cortesão, Fernanda Aleixo e L.A., Lisboa, JIU-AECA, Série Memórias nº 7, 1969.Atlas de Fernão Vaz Dourado. Reprodução do códice iluminado 171 da BN, nota introdutória e preparação de L.A., com a colaboração de Maria Catarina Madeira Santos e Maria Armanda Ramos, Lisboa, CNCDP, 1991.A 'Aula de Esfera' do colégio de Santo Antão no século XVII, Coimbra, JIU-AECA, Sep. LXX, 1972.Bartolomeu Dias. Corpo Documental-Bibliografia, coordenação e nota introdutória de L.A., transcrição de Vítor Rodrigues, bibliografia de José Barbosa, Lisboa, CNCDP, 1988.Biblioteca da Expansão Portuguesa, direcção de L.A., 50 vols., Lisboa, Alfa, 1989.Carta de Doação da Capitania de Machico Feita Pelo Infante Don Henrique a Tristão Vaz Teixeira, Machico, Câmara Municipal, 1989. (Preparado por L.A. e Alberto Vieira, aparece sem identificação dos autores)Cartas de D. João de Castro a D. João III, Transcrição em português actual e comentários de L.A., Lisboa, Alfa (BEP, vol. 2), 1989.Cartas Trocadas entre D. João de Castro e os Filhos (1546-1548), Nota introdutória, leitura e comentários de L.A., CNCDP-Ministério da Educação, 1989.As ciências exactas na reforma pombalina do ensino superior, Sep. de Vértice, n.os 52-54, Coimbra, 1948.Ciência e Experiência nos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1983.Colombo/Columbus, Lisboa, Clube do Coleccionador dos Correios, 1992.Considerações sobre a carta portulano, Lisboa, IICT-CEHCA, Sep. 191, 1985.Reimp. em trad. inglesa: "Observations on the portulan-chart", Mare Liberum, nº 1, 1990, pp. 117-129.Contribuição das navegações do século XVI para o conhecimento do magnetismo terrestre, Lisboa, JIU-AECA, Sep. XLIV, 1970.Copérnico, Nicolau, As Revoluções dos Orbes Celestes, tradução portuguesa com Introdução e notas de L.A., Lisboa, FCG, 1984.Crónica do Descobrimento e primeiras conquistas da India pelos Portugueses, Introdução, leitura, actualização, notas e glossário de L.A., Lisboa, IN-CM, 1986, 423 pp.Crónica do Vice-Rei D. João de Castro, Transcrição e notas de L.A. e Tresa Travassos Cortez da Cunha Matos, Tomar, Escola Superior de Tecnologia de Tomar com o apoio da CNCDP, 1995, pp. 589.Crónicas de História de Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1987."Cumpriu-se o Mar". As Navegações Portuguesas e as Suas Consequências no Renascimento, Catálogo I do Núcleo do Mosteiro dos Jerónimos da XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura, Lisboa, Presidência do Conselho de Ministros, 1983. (co-autoria de L.A., Inácio Guerreiro e António Miguel Trigueiros)Curso de História da Náutica, Rio de Janeiro, Serviço de Documentação Geral de Marinha, 1971. - 2ª ed. revista: Coimbra, Livraria Almedina, 1972, 3ª ed.: Lisboa, Alfa-BEP, vol. 25, 1989.Curso de História da Náutica e da Cartografia. Para estudantes e pós-graduados. Sumário das lições. Coimbra, Universidade de Coimbra, 1970-1971. (co-autoria de Armando Cortesão e L.A.)Os Descobrimentos Portugueses, Lisboa, Alfa, 1985.Reimp.: Lisboa, Selecções do Reader's Digest, s/d.Os Descobrimentos Portugueses, vol. I: Viagens e Aventuras ; vol. II: As Grandes Viagens, Lisboa, Caminho, 1991-1992. (co-autoria de L.A., Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada) - 2ª ed.: Lisboa, Caminho, 1992, 3ª ed.: Lisboa, Caminho, 1995.A determinação da declinação solar na náutica dos descobrimentos, Coimbra, JIU-AECA, Sep. XVI, 1966.Diário da Viagem de D. Álvaro de Castro ao Hadramaute em 1548, Coimbra, JIU-AECA, Sep. LXXVI, 1972.Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, direcção de L.A., coordenação de Francisco Contente Domingues, 2 vols., Lisboa, Círculo de Leitores e Editorial Caminho, 1994.Dois documentos sobre a carreira do trato de Moçambique, Coimbra, JICU-CECA, Sep. XCVII, 1976.Duas obras inéditas do Padre Francisco da Costa (códice NVT/7 do National Maritime Museum), Coimbra, JIU-AECA, Sep. LII, 1970.Dúvidas e Certezas na História dos Descobrimentos Portugueses, 2 vols., Lisboa, Vega, 1990-1991 - 2ª ed. do 1.º vol.: Lisboa, Vega, 1990.Escalas da carreira da Índia, Lisboa, JICU-CECA, Sep. CX, 1978.Estudos de História, 6 vols., Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra-AUC, 1974-1976.Estudos de História da Ciência Náutica. Homenagem do Instituto de Investigação Científica Tropical, Organização e Prefácio de Maria Emília Madeira Santos, vol. I, Lisboa, IICT, 1994.Fragmentos de Euclides numa versão portuguesa do século XVI, Coimbra, JIU-AECA, Sep. XXVI, 1969.Historia de la Navigación Portuguesa, Madrid, Editorial MAPFRE, Colecciones MAPFRE 1492 IX/1, 1992.Gil Eanes, Lisboa, IICT-CEHCA, Sep. 186, 1987.Os Guias Náuticos de Munique e Évora, Introduction by Armando Cortesão, Lisboa, JIU-AECA, Série Memórias nº 4, 1965.A Ilha de São Tomé nos Séculos XV e XVI, Textos modernizados por L.A. e Maria da Graça Pericão e comentários finais da autoria de L.A.,Lisboa, Alfa (BEP, vol. 21), 1989.As inovações da náutica portuguesa do século XVI, Lisboa, IICT-CEHCA, Sep. 166, 1984.Instrumentos de Navegação, Lisboa, CNCDP, 1988.Ed. inglesa: Instruments of Navigation, Lisboa, CNCDP, 1988.Introdução à História dos Descobrimentos, Sep. de Vértice, nºs 169-182, Coimbra, 1959 - 2ª ed: Coimbra, Atlântida, 1962, 3ª ed: revista, s/l, Publicações Europa-América, s/d [1983], 4ª ed: (reimpressão da 3ª edição) Mem Martins, Publicações Europa-América, 1989.Jornal de Bordo e Relação da Viagem da Nau "Rainha" (Carreira da Índia-1558), Introdução, leitura actualizada e notas de L.A., Lisboa, CNCDP-Ministério da Educação, 1991, 44 pp.Livro das Armadas, ed. fac-símile, organização e nota introdutória de L.A., Lisboa, Edição da Academia das Ciências de Lisboa no Segundo Centenário da Sua Fundação, 1979.O Livro de Marinharia de André Pires, Introduction by Armando Cortesão, Lisboa, JIU-AECA, Série Memórias nº 1, 1963 - 2ª ed: Lisboa, Vega, s/d [1989], 226 pp.Le "Livro de Marinharia" de Gaspar Moreira, Introduction et notas par León Bourdon e L.A., Lisboa, JICU-AECA, Série Memórias nº 20, 1977.O Livro de Marinharia de Manuel Álvares, Introduction by Armando Cortesão, Lisboa, JIU-AECA, Série Memórias nº 5, 1969.Edição trilingue português-chinês-inglês com o título Memória das Armadas, Macau, Instituto Cultural de Macau/Museu Marítimo de Macau/Comissão Territorial de Macau para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1995.A Náutica e a Ciência em Portugal. Notas sobre as navegações, Lisboa, Gradiva, 1989.Navegação Astronómica, Lisboa, CNCDP, 1988 [também em edição inglesa]As Navegações e a Sua Projecção na Ciência e na Cultura, Lisboa, Gradiva, 1987.Navegadores, Viajantes e Aventureiros Portugueses. Sécs. XV-XVI, 2 vols., Lisboa, Círculo de Leitores e Editorial Caminho, 1987 - 2ª ed. em 1 vol.: Lisboa, Editorial Caminho, 1992.Notas Para a História do Ensino em Portugal, vol. 1 [único publicado], Coimbra, Ed. do Autor, 1960.Notícia de uma biografia inédita de D. João de Castro, Coimbra, JICU-CECA, Sep. CIII, 1977.Obras Completas de D. João de Castro, edição crítica por Armando Cortesão e L.A., 4 volumes, Coimbra, Academia Internacional de Cultura Portuguesa, 1968-1981.Para a História da Ciência em Portugal, Lisboa, Livros Horizonte, 1973.Portugaliae Monumenta Africana, direcção de L.A. e Maria Emília Madeira Santos, vol. I, Lisboa, CNCDP/IN-CM, 1993.Portugal no Mundo, direcção de L.A., 6 vols., Lisboa, Alfa, 1989.Reed.: 3 vols., Lisboa, Selecções do Reader’s Digest, 1992.Portuguese books on nautical science from Pedro Nunes to 1650, Lisboa, IICT-CEHCA, Sep. 168, 1984.A projecção da náutica portuguesa quinhentista na Europa, Coimbra, JICU-AECA, Sep. LXV, 1972.O Reino da Estupidez e a reforma pombalina, Coimbra, Atlântida, 1975.Relação da Viagem de Vasco da Gama: Álvaro Velho, Introdução e notas de L.A., Lisboa, CNCDP/Ministério da Educação, 1989.Sobre a observação de estrelas na náutica dos descobrimentos, Coimbra, JIU-AECA, Sep. VII, 1965.Sobre as prioridades de Pedro Nunes, Coimbra, JIU-AECA, Sep. LXXVIII, 1972.O tratado de Tordesilhas e as dificuldades técnicas da sua aplicação rigorosa, Coimbra, JIU-AECA, Sep. LXXXIII, 1973.Um exemplo de 'Cartas de Serviços' da Índia, Coimbra, JICU-CECA, Sep. CXVII, 1979.Um Portulano de Diogo Homem (c. 1566) na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Homenagem a Marcel Destombes, textos de L.A., Minako Debergh e Marcel Destombes, Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade, 1988, 36 pp.Um processo gráfico usado pelos marinheiros do século XVII na determinação da amplitude ortiva de um astro, Coimbra, JICU-AECA, Sep. LIV, 1970.Um roteiro primitivo do Cabo da Boa Esperança até Moçambique, Coimbra, JIU-AECA, Sep. LIX, 1970.A viagem de Vasco da Gama entre Moçambique e Melinde, segundo Os Lusíadas e segundo as crónicas, Coimbra, JIU-AECA, Sep. LXXIII, 1972. B) MATEMÁTICAAlgumas propriedades dos conjuntos dos espaços abstractos. Dissertação para o Doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, Porto, Tipografia Empresa Guedes, s/d [1945].Análise Matemática III.1, Segundo as lições do Doutor Luís de Albuquerque, Coimbra, Liv. Almedina, 1971-1972.Análise Matemática III.2, Segundo as lições do Doutor Luís de Albuquerque, Coimbra, Liv. Almedina, 1971-1972.Análise Matemática IV, Segundo as lições do Doutor Luís de Albuquerque, Coimbra, Liv. Almedina, 1971.Análise Matemática IV, Segundo as lições do Doutor Luís de Albuquerque, Coimbra, Liv. Almedina, 1972-1973.Aproximação funcional. Resumo de conferências (Conferências realizadas nos dias 2, 3 e 4 de Setembro de 1959), Recife, Instituto de Física e Matemática do Recife - Textos de Matemática, 1959.Cálculo infinitesimal. Lições do curso de 1963-1964, coligidas por Joaquim Namorado, Coimbra, Livraria Almedina.Curso de Desenho, Coimbra, 1957.Curso de Desenho Rigoroso, s/l, s/ed, s/d.Curso Livre de Equações Diferenciais, Coimbra, Secção de Textos, 1963-1964.Elementos de Geometria Projectiva e Geometria Descritiva, Coimbra, Livraria Almedina, 1969.Exercícios de Álgebra e Geometria Analítica, Pref. de Manuel Esparteiro, ts. I e II, Coimbra, Coimbra Editora, 1947. (co-autoria de L.A. e João Farinha)Exercícios de Geometria Descritiva, Porto, Tipografia Empresa Guedes, 1942.Exercícios de Geometria Descritiva, Coimbra, Atlântida, 1951. (co-autoria de L.A. e João Farinha)Filtros e redes, Coimbra, Universidade de Coimbra-Instituto de Matemática da Faculdade de Ciências, 1971.Física Elementar, Coimbra, 1946.Geometria Descritiva, Coimbra, Associação Académica, 1946.Geometria Descritiva: Lições Práticas, Coimbra, Associação Académica, 1948.Reed.: Coimbra, Secção de Textos, 1968.Geometria Projectiva, s/l, s/ed, s/d.Matemáticas Gerais, segundo as lições do Exmº Sr. Prof. Doutor Luís de Albuquerque em 1962-1963, coligidas por João Miranda, Coimbra, Livraria Almedina.Metodologia da Matemática I (Sumários de um curso), Coimbra, 1974.Reed.: Coimbra, 1977.Sobre a Teoria da Aproximação Funcional, Coimbra, Instituto de Alta Cultura, 1958. BIBLIOGRAFIA PASSIVA(principal)A Abertura do Mundo. Estudos de História dos Descobrimentos Europeus em Homenagem a Luís de Albuquerque, org. de Francisco Contente Domingues e Luís Filipe Barreto, 2 vols., Lisboa, Presença, 1986-1987.Luís de Albuquerque. O Homem e a Obra [Catálogo da Exposição], coord. Isabel Pereira, Alfredo Pinheiro Marques e Ana Paula Cardoso, Figueira da Foz, Câmara Municipal-Serviços Culturais, 1993.Luís de Albuquerque Historiador e Matemático. Homenagem de Amizade a um Homem de Ciência, Lisboa, Edições Chaves Ferreira, 1998.

Manuel Antunes, por Luís Machado de Abreu
Nascido na Sertã a 3 de novembro de 1918, e falecido em Lisboa a 18 de janeiro de 1985, Manuel Antunes ingressou na Companhia de Jesus em 1936. No Instituto Superior de Filosofia Beato Miguel de Carvalho, em Braga, licenciou-se em Filosofia no ano de 1943. Em 1950, obteve a licenciatura em Teologia na Faculdade de Teologia de Granada (Espanha).Este jesuíta que, desde 1957, lecionou na Faculdade de Letras de Lisboa a cadeira de História da Cultura Clássica, frequentada com reconhecido proveito intelectual por milhares de alunos, foi também insigne escritor de ideias. A produção escrita foi aparecendo sobretudo na Brotéria, revista mensal de cultura, de que veio a ser diretor entre 1965 e 1982, com uma curta interrupção. Aqui deixou, mês após mês, artigos sobre assuntos que vão da filosofia à política, da teologia à educação, da estética à crítica literária, quer assinando com nome próprio quer ocultando-se sob vinte e seis pseudónimos conhecidos.A variedade de temas e de áreas de saber que cultivou revela um observador igualmente atento ao pormenor e ao conjunto, empenhado não só em nunca desfocar o real, mas sobretudo juntando todos os fragmentos na procura infatigável de sentido, o sentido do Todo. E esta procura foi igualmente construção. Construção do homem e do mundo, seres inacabados, imperfeitos. Por isso, a cultura enquanto trabalho incessante de inscrição e aperfeiçoamento da humanidade no homem constitui o vínculo substancial de toda a obra de Manuel Antunes.
O lugar da filosofia no conjunto dos escritos de Manuel Antunes só episodicamente foi preenchido com trabalhos de elaboração filosófica em contexto académico. O seu percurso docente votado quase por inteiro às matérias da cultura grega e romana não lhe proporcionou o enquadramento propício ao aprofundamento especializado das grandes interrogações metafísicas e ao aturado diálogo com os monumentos do pensamento filosófico que, no entanto, frequentou com exemplar assiduidade.Ao escolher para tema da dissertação de licenciatura em Filosofia o estudo do “Panorama existencial de Kierkegaard a Heidegger”, deixou bem marcado o que seria o roteiro de diálogo com os Grandes Contemporâneos. Ao longo da vastíssima obra que nos legou, ficaram definidas com clareza quais as suas afinidades eletivas: os pensadores e criadores onde a espessura e vibração do humano se confrontam com o questionamento ontológico. Devem a esta luz ler-se as páginas de serena paixão que dedica a Pascal, Kierkegaard e Heidegger.Mas se o seu pensar filosófico não se encontra em tratados nem em estudos de ruminante erudição e só avulsamente se entrega à exegese de textos de filósofos consagrados, não deixa por isso de existir e de permear os muitíssimos escritos em que se ocupa de crítica literária, cultura clássica, educação, experiência religiosa, reflexão política, questões de atualidade e outros. Exercita assim uma atitude crítica e pensante sobre as manifestações culturais em que se objetiva a sua perspicaz filosofia da cultura. Nunca chegou a dar-lhe elaboração sistemática, mas dela se ocupa, designadamente, a propósito dos “conceitos fundamentais” de história, cultura e civilização, mito, logos, mística, clássico, teoria dos conjuntos, conceitos com que abrem as lições de História da Cultura Clássica na Faculdade de Letras de Lisboa.Atento às contribuições das ciências humanas e sociais, nelas assenta as incursões hermenêuticas com que atravessa e tenta dilucidar os meandros e complexidades do ser e agir humanos. Lê-se, nos seus textos, a inscrição de uma antropologia filosófica, inquieta e confiante, ciente dos extremos e ruturas que dilaceram e, não obstante, apostada na conciliação das diferenças e na dialética dos contrários. É uma dedicação ao conhecimento do homem que se destina a torná-lo cada vez mais humano e que, ao mesmo tempo, se cumpre como etapa do longo caminho que leva à completa epifania do ser.A antropologia de Manuel Antunes insere-se num projeto maior, o de uma ontologia que persegue o Ser enquanto nele se revela verdade, bem, beleza e unidade. Por esta via, a meditação sobre a condição humana em permanente crise de responsabilidade e esperança, que lhe atravessa o discurso ensaístico é, afinal, o modo muito peculiar de ele refletir ontologicamente sobre o mundo como totalidade e destino.Estamos em presença de um pensador da cultura intempestivo. No meio da apoteose do fragmentário e do disperso, ele segura a bandeira das grandes sínteses e promove o sentido da totalidade. E só a consegue verdadeiramente promover porque nunca vota ao desprezo o que poderia parecer marginal, débil, insignificante, heterodoxo. O Todo a que aspira é a restituição da plenitude de sentido através da germinação e do amadurecimento das sementes de verdade, onde quer que elas tenham caído.BIBLIOGRAFIAA obra de Manuel Antunes encontra-se dispersa. Há cerca de duas centenas e meia de entradas de sua autoria na Verbo – Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, além de vasta colaboração em obras congéneres. De entre as muitas centenas de artigos e comentários publicados na Brotéria e noutras publicações periódicas, o Padre Manuel Antunes reuniu uma pequena parte nos livros seguintes:- Ao Encontro da Palavra. Lisboa, Morais, 1960.- Do Espírito e do Tempo. Lisboa, Ática, 1960.- Indicadores de Civilização. Lisboa, Verbo, 1972.- Grandes Derivas da História Contemporânea. Lisboa, Edições Brotéria, 1972.- Educação e Sociedade. Lisboa, Sampedro, 1973.- Grandes Contemporâneos. Lisboa, Verbo, 1973.- Repensar Portugal. Lisboa, Multinova, 1979.- Ocasionália. Homens e Ideias de Ontem e de Hoje. Lisboa, Multinova, 1980.- Legómena. Textos de Teoria e Crítica Literária. Organização e selecção de Maria Ivone de Ornelas de Andrade. Lisboa, Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1987.- Teoria da Cultura. Revisão e notas de Maria Ivone de Ornelas de Andrade. Lisboa, Colibri, 1999.A Obra Completa de Manuel Antunes está a ser editada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Os dois primeiros volumes - Filosofia da Cultura e Pedagogia e Educação – saíram em dezembro de 2005.

Maria Archer, por Dina Botelho
Maria Emília Archer Eyrolles Baltasar Moreira, na cena literária Maria Archer, nasceu em Lisboa, no dia 4 de janeiro de 1899. Foi a primeira dos seis filhos do casal. Parece ter escrito versos, com frequência, durante a sua infância, mas deles nada resta. Começou, desde cedo, a viajar com os pais. (De 1910 a 1913 Ilha de Moçambique; 1914 Algés e, posteriormente, Sto Amaro; de 1916 a 1918 Guiné - Bolama e Bissau.).Terá feito apenas a 4ª classe (terminada aos 16 anos, por iniciativa própria), pelo que podemos considerá-la uma autodidata. Em 1921, encontramo-la em Faro com a família e aí casa com Alberto Passos, natural de Vila Real, no dia 29 de agosto de 1921. Vão viver para o Ibo – Moçambique. Cinco anos depois regressam a Faro e de seguida vão para Vila Real. Trás-os-Montes é o último cenário de fundo do jovem casal. O casamento durou apenas dez anos. Vem para Lisboa mas os seus pais estavam, nessa altura, em Angola e para lá vai por volta de 1932.Em Luanda, publica o seu primeiro livro - Três Mulheres (1935) - de parceria com Pinto Quartim Graça. Nesse ano regressa a Portugal. Vivia, então, do que escrevia para jornais e das suas obras, tendo mesmo algumas delas chegado à terceira edição. A sua obra tem também um pouco de autobiografia pois a sua experiência de vida é, por vezes, transposta para as suas personagens. O romance Aristocratas (1945) marca o seu afastamento da família que se vê retratada nas personagens do mesmo.A sua vida foi nessa época particularmente difícil. Teve de lutar pela sua afirmação pessoal e profissional. Participa, então, em várias conferências, em Lisboa e no Porto, e faz várias entrevistas como jornalista (a Ester Leão e a Joaquim Manuel de Mãos, o “Pintor” por exemplo). A 5 de julho de 1955 parte para o Brasil, depois de a sua obra ter sido perseguida em 1938 e 39, e terem-lhe apreendido o livro Ida e Volta duma Caixa de Cigarros e, em 1947, Casa Sem Pão.Acompanhou, de perto, o julgamento do contestador da ditadura salazarista, capitão Henrique Carlos Galvão no Tribunal Militar de Santa Clara. Tendo-se proposto escrever um livro sobre o mesmo, vira a sua casa invadida pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) logo após o final do julgamento, em 1953. Viria a publicá-lo em 1959, no Brasil, sob o título Os Últimos Dias do Fascismo Português.
No Brasil, viveu pobre e doente, mas ainda escreveu bastante para alguns jornais, nomeadamente para O Estado de S. Paulo, Semana Portuguesa e Portugal Democrático. Naquele país, terá publicado cinco livros dos quais se conhecem apenas quatro: Terras onde se Fala Português, África sem Luz, Brasil, Fronteira da África e Os Últimos Dias do Fascismo Português (1959). Em 1974 ainda corrigiu os discursos dos candidatos às eleições legislativas e escreveu a propaganda para a rádio local. Em 1977 foi internada em São Paulo, donde terá saído para regressar a Portugal (26 de abril de 1979).Foi, então, internada na Mansão de Santa Maria de Marvila (Lisboa), lar onde permaneceu até à morte (23 de janeiro de 1982).A obra de Maria Archer foi bastante diversificada. Tendo iniciado a sua obra literária nas colaborações em periódicos (Acção, Correio do Sul, Diário de Lisboa, Eva, Fradique, Humanidade, Ilustração, Ler, O Atlântico, O Mundo Português, Portugal Democrático, Seara Nova, Sol, Última Hora, O Estado de S. Paulo e Gazeta de São Paulo), o primeiro livro publicado foi uma novela.Atrever-nos-íamos a distinguir três fases na escrita da autora, sem pretendermos estabelecer compartimentos estanques. Assim de 1935 a 1944 (publica o seu primeiro romance Ela É Apenas Mulher) temos a fase em que foi sobretudo novelista ou contista. De 1944 a 1955 (data em que parte para o Brasil), atinge o auge da sua produção literária, revelando-se uma ótima romancista, observadora e narradora dos problemas que atingem a mulher dessa época. A terceira fase é iniciada em 1956, com a publicação de vários artigos no Portugal Democrático e publicação do livro que resultou da assistência às sessões do julgamento de Henrique Galvão. Com ele inicia a sua afirmação política, que coincide com a colaboração nos jornais Portugal Democrático e na Semana Portuguesa, ambos de São Paulo. Esta divisão não pretende ser rígida até porque, ao longo das três fases, temos uma linha condutora que é a dos ensaios e estudos sobre África e os costumes do seu povo (13 livros). Escreveu trinta livros em 28 anos, três deles chegaram à terceira edição e cinco tiveram três, o que mostra bem a recetividade do público à sua obra. Muito contestada por uns e muito apreciada por outros, todos lhe reconhecem um valor inigualável na literatura feminina do início do séc. XX. Na narrativa saltita da novela para o romance e deste para o ensaio ou literatura de viagens, chegando mesmo a focar os descobrimentos portugueses. Escreveu, também, 5 peças de teatro e ainda um romance de aventuras infantis e dois ensaios para que o público mais pequeno aprendesse um pouco de história de forma lúdica. No entanto, foi na forma audaciosa como retratou a mulher portuguesa e os seus problemas familiares e sociais que se tornou um marco na literatura feminina de meados do séc. XX. Dizia João Gaspar Simões, em 1930 «Não conheço mesmo outra (escritora portuguesa) que à audácia dos temas e das ideias alie uma expressão tão enérgica e pessoal. O seu estilo respira força e solidez.»Bibliografia Sumária (ordem cronológica)Três Mulheres , parceria com Pinto Quartim Graça, Luanda, 1935.África Selvagem , Lisboa, Guimarães & lda, 1935.Sertanejos, nº9, Lisboa, Editorial Cosmos, 1936.Singularidades de Um País Distante, nº11, Lisboa, Editorial Cosmos, 1936.Ninho de Bárbaros, nº15, Lisboa,Editorial Cosmos, 1936.Angola Filme, nº19, Lisboa, Editorial Cosmos,1937Ida e Volta duma Caixa de Cigarros, Lisboa, Editorial O Século, 1938.Viagem à Roda de África, romance de aventuras infantis, Lisboa, Editorial O Século, 1938.Colónias Piscatórias em Angola, nº32, Lisboa, Cosmos, 1938.Caleidoscópio Africano, nº49, Lisboa, Edições Cosmos, 1938.Há dois Ladrões sem Cadastro, Lisboa, Editora Argo, 1940.Roteiro do Mundo Português, Lisboa, Edições Cosmos, Lisboa, 1940.Fauno Sovina, Lisboa, Livraria Portugália, 1941.Memórias da Linha de Cascais, col.com Branca de Gonta Colaço, Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1943.Os Parques Infantis, Lisboa, Associação Nacional dos Parques Infantis, 1943.Ela É Apenas Mulher, Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1944Aristocratas, Lisboa, Editorial Aviz, 1945.Eu e Elas, Apontamentos de Romancista, Lisboa, Editorial Aviz, 1945.A Morte Veio de Madrugada , Coimbra, Coimbra Editora Lda, 1946.Casa Sem Pão , Lisboa, Empresa Contemporânea de Edições, 1947.Há-de Haver uma Lei , Lisboa, Edição da Autora, 1949.O Mal Não Está em Nós, Porto, Livraria Simões Lopes, 1950.Filosofia duma Mulher Moderna , Porto, Livraria Simões Lopes, 1950.Bato às Portas da Vida , Lisboa, Edições SIT, 1951.Nada lhe Será Perdoado , Lisboa, Edições SIT, 1953.A Primeira Vítima do Diabo , Lisboa, Edições SIT, 1954.Terras onde se fala Português , Rio de Janeiro, Ed. Casa do Estudante do Brasil, 1957.Os Últimos Dias do Fascismo Português , S. Paulo, Editora Liberdade e Cultura, 1959.África Sem Luz , São Paulo, Clube do Livro, 1962.Brasil, Fronteira da África , São Paulo, Felman-Rêgo, 1963.Herança Lusíada , Lisboa, Edições Sousa e Costa, s.d..Peças de TeatroAlfacinha, comédia em 1 acto para uma só personagem, publicada no Sol. de 12 a 26. Fev. 1949.Isto que chamam amor , drama em um acto para uma só personagem.Numa casa abandonada , drama em um acto para uma só personagem.O poder do dinheiro , comédia em 3 actos.O Leilão , drama em 3 actos.

Maria Lamas, por Maria Antónia Fiadeiro
Maria Lamas (Torres Novas, 1893 - Lisboa, 1983)
Nasceu no fim do século XIX (1893), numa pacata vila da província portuguesa do Ribatejo, em Torres Novas, e viveu quase todo o século XX. Morreu em Lisboa, em 1983, com noventa anos por fazer. Filha de pai republicano e maçon, que a orientou nas leituras, e de mãe católica e muito piedosa, teve duas irmãs e um irmão mais velho, Vassalo e Silva, que viria a ser o último Governador da Índia Portuguesa.Militou civicamente e convictamente por uma plena igualdade das mulheres, igualdade que defendia baseada na educação e na independência económica, através do exercício de uma profissão ou de um ofício. Quando o século XX chegou, encontrou-a num colégio de freiras espanholas, as Teresianas, que lhe deixaram marcas perenes do cristianismo universal e misticismo erudito. Muito nova, casa por amor, (1911) com um jovem oficial do exército republicano (Teófilo Ribeiro da Fonseca). Grávida, não hesita em acompanhar o marido, em missão num presídio militar, no inóspito interior de Angola. Regressa a Portugal (1914) porém, sozinha, com uma filha pela mão e já de novo grávida, disposta ao divórcio e a lutar pela vida, o que fez desalmadamente.Foi uma das primeiras mulheres jornalistas profissionais, iniciando-se na Agência Americana de Notícias pela mão da jornalista Virgínia Quaresma, com salário, horário e hierarquia. Volta a casar (1921) com um colega de profissão, monárquico (Alfredo da Cunha Lamas), num casamento algo turbulento que dura pouco, embora fique para sempre com o apelido Lamas, e com uma dedicadíssima filha (1922-2007), Maria Cândida Caeiro.O bem e a verdade. A igualdade e a felicidade. A liberdade e a justiça. A fraternidade. São valores pelos quais luta, abnegadamente. Inclui a seriedade e a sinceridade. Fala insistentemente no direito à felicidade. Quer uma sociedade mais justa, uma democracia plena, “uma política humana”. Tem fé no progresso e na humanidade. Foi uma humanista convicta. A luta pela dignificação e a emancipação da mulher, causa que sempre perseguiu, em várias frentes, inscreve-a na luta geral pelos direitos humanos. Fez da exigência intelectual uma característica específica do feminismo português, consagrada explicitamente no Programa do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (CNMP), divulgado em 1946; era, então, Presidente eleita dessa Associação Feminista, criada em 1914, pela médica obstetra Adelaide Cabete. Integrou esta Associação com cargos de coordenação, desde 1936.Escreveu poemas (Os Humildes, 1923), crónicas, novelas, folhetins, reportagens, (As Mulheres do Meu País, 1947-1950), recensões, romances (Para Além do Amor, 1935; Caminho Luminoso, 1927; Ilha Verde, 1938), textos para crianças, textos para adolescentes (é imensa a sua produção infantojuvenil) e textos sobre as mulheres, “escravas milenares de erros milenares”. Tem textos autobiográficos, tinha consciência biográfica e foi, também, uma memorialista (Revista das 4 Estações, primavera, “O Despertar de Sílvia”, 1949). Conheceu e conviveu com a generalidade das feministas portuguesas de então, nomeadamente, Adelaide Cabete, Sara Beirão, Elina Guimarães, Maria Emília Sousa e Costa,Virgínia de Castro e Almeida, Deolinda Quartim e tantas outras. Era amiga de Branca de Gonta Colaço e Manuela de Azevedo.Traduziu, entre outras obras, As Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, Francisco Goya, de Eric Porter, A vida Apaixonante de Dostoiewsky, de Ahanassidis, O Feiticeiro de Oz, de L.Baum L.Frank.No jornalismo, dirigiu a Revista Modas e Bordados (1928-1947), um Suplemento semanal do Jornal O Século, ali no Bairro Alto de Lisboa, então, o bairro da Imprensa, durante quase 20 anos, e onde entrou pela mão do escritor e jornalista Ferreira de Castro, Exerceu o jornalismo na Revista Civilização, dirigida por Ferreira de Castro, onde criou também o “Reino dos Miúdos”, destinada ao público infantil. No Modas, regista alguns feitos de excelência e de exceção, memoráveis, embora nunca tenham passado para a História da Cultura ou da Imprensa, até surgirem os Estudos sobre as Mulheres:– a realização de uma grande Exposição da Obra Feminina Antiga e Moderna…(1930) que ocupou, durante dois meses, onze salas, de O Século constituindo o primeiro inventário da criação e criatividade feminina, numa iniciativa nunca igualada(há catálogo);– a realização de uma grande Exposição de Livros Escritos por Mulheres (1947), três mil livros de mil e quatrocentas mulheres autoras de trinta países do mundo, que encheram o grande Salão de Belas-Artes. Uma exposição breve (durou apenas uma semana), dada a repressão da ditadura. Uma iniciativa inédita e internacional (há catálogo);– a realização de uma monumental reportagem sobre As Mulheres do Meu País (1950) publicada em fascículos, que representa um trabalho de campo de perto de dois anos, pelo País, de Norte a Sul, um livro-álbum impar, de luxo, durante mais de 50 anos, nunca reeditado.Em 1952 publica dois tomos (mais 600 páginas cada) sobre A Mulher no Mundo, ainda hoje uma obra de referência, em que realiza a história comparada do estado dos feminismos em todo o mundo, através de exaustiva consulta historiográfica, recenseando centenas de obras.Outros feitos jornalísticos não menores: um jornalzinho para as crianças (O Pintainho, 1925); uma breve e inovadora revista para as jovens portuguesas (A Joaninha, 1936) com um correio de leitoras, que transitou para a Revista, um famoso correio, duradouro e prolongado, o “Correio da Tia Filomena” (1937-1947) e outras, tantas outras realizações de fôlego e de vulto, com todo o encanto e inteligência que punha nas iniciativas que tomava. Em 1934 recebeu a Ordem Militar de Santiago de Espada.A sua atividade libertadora de consciências e de identidade e de intervenção cívica era muita. Comunga ideais e atividades com corajosos portugueses oposicionistas. Nos anos 40, adere ao Movimento Democrático Nacional (MDN) e ao Movimento de Unidade Democrática (MUD). Participa ativamente na Campanha do General Norton de Matos à Presidência intervindo sempre também em outras campanhas eleitorais. As suas atividades eram consideradas subversivas e o seu trabalho junto das mulheres foi considerado dispensável. Perseguida pela ditadura, presa, por três vezes, parte para o exílio, por duas vezes, em Paris,”uma cidade onde andar na rua é como andar numa universidade”. No exílio, o mais longo durou de junho de 1962 a dezembro de 1969, muito depois dos 60 anos de idade, conhece um período intenso e solidário de cidadania democrática internacional, em tempos de Guerra Fria. Acolhia, participava e intervinha na generalidade das atividades da Oposição Portuguesa à Ditadura, tendo conhecido os maiores vultos políticos nacionais e internacionais do século XX.Nos anos 50 e 60, correu o mundo em Congressos, Seminários e Conferências pelos Direitos das Mulheres e pela Paz cuja Comissão Nacional dirigiu, numa militância incansável, normalmente com estatuto de delegada e dirigente. Conheceu, então, só então, muitos países, muitos povos muitas culturas. Em Paris, viveu sempre, em contacto com o mundo, num pequeno e modestíssimo quarto de um simpático Hotel, em pleno Quartier Latin, o bairro dos estudantes, como se fosse um deles. Da sua janela, assistiu, empolgada, a muitas manifestações do maio de 68.De regresso a Portugal, em 1969, será alvo de uma homenagem, promovida pelo jornal República, na Casa da Imprensa. A primeira homenagem promovida pelos seus pares foi em 1947, na Casa do Alentejo, quando sai do Modas e Bordados e fica sem emprego à vie, e sem casa própria. Adere, pela mão de sua filha Cândida, aos 80 anos, após o 25 abril de 74, ao Partido Comunista Português. Foi eleita Presidente Honorária do Movimento Democrático das Mulheres. Foi Diretora Honorária da Revista Modas e Bordados, e, mais tarde, da Revista Mulheres. Em 1980 é agraciada com o Grau de Oficial da Ordem da Liberdade. Em 1982 é homenageada pela Assembleia da República. Em 1983 recebe a Medalha Eugénie Cotton, da Fédération Démocratique Internacionale dês Femmes (FDIM).Como herança intelectual deixou muita obra feita e um nome respeitado e prestigiado na História do Portugal Contemporâneo e na História das Mulheres que começou a fazer e a escrever, sendo na área, também, uma investigadora pioneira. Na História da Imprensa Feminina tem lugar cativo e de relevo, também como repórter fotográfica, embora pontualmente. Nunca se declarou feminista, embora o fosse.Maria Lamas, um nome de mulher, no mundo dos homens, uma investigadora autodidata, na história das Mulheres do Portugal contemporâneo. Uma mulher que fez história, foi uma combatente e uma lutadora resistente, que entrou na História como cidadã e que escreveu História como autora. Uma portuguesa, notável, uma cidadã europeia do século XX.

Mário Eloy, por Helena VasconcelosMÁRIO ELOY (1900 – 1951 Mário Eloy de Jesus Pereira), justamente considerado como um dos artistas portugueses mais marcantes do século XX, nasceu a 15 de março de 1900, em Algés, Lisboa. Tanto o pai como o avô eram ourives de profissão e dedicavam-se com paixão ao Teatro amador. Desde muito jovem, Mário demonstrou ser irreverente e inquieto, arvorando uma atitude de contestação precoce. Em 1913, abandonou o Liceu e matriculou-se na Escola de Belas-Artes de Lisboa, onde apenas permaneceu dois anos, insatisfeito com o ensino tradicional que aí se ministrava.Entre 1915 e 1919, Mário levou uma vida boémia. Frequentou assiduamente os cafés lisboetas e, nas mesas do “Martinho” ou nos de “A Brasileira”, aproveitava para desenhar os seus companheiros de tertúlia, como o pintor Alberto Cardoso e o dramaturgo Alfredo Cortês. Mais tarde, Diogo de Macedo recordou-o com vinte anos, referindo os seus “hábitos de janotice” e a sua preocupação com a aparência. Nos finais de 1918, ou princípios de 1919, Eloy, rebelando-se contra a imposição familiar de um emprego como bancário (o irmão, Raul, fora indigitado para “cuidar dos oiros” da Casa Eloy de Jesus) fugiu para Madrid onde, no Museu do Prado, encontrou um universo artístico que o desassossegou ao ponto de decidir o seu futuro: ser artista. Foi-lhe difícil acatar o pedido de regresso a Portugal dos pais. Augusta Pina, cenógrafo amigo da família, convenceu-o a voltar, prometendo-lhe trabalho no atelier do Teatro D. Maria II, em Lisboa, onde se exercitou nas técnicas do desenho. O contacto com o meio teatral, que lhe era familiar e que possuía uma enorme vitalidade criativa, convinha às suas ambições artísticas, (chegou a representar com Amélia Rey Colaço e Robles Monteiro na peça “A Ribeirinha” que estreou no Politeama em 1923) e demonstrou ser importante uma vez que lhe proporcionou uma boa formação. As suas primeiras experiências como pintor foram retratos de amigos, como a atriz Maria Helena Andrade, por quem se apaixonou tão perdidamente que chegou a tentar o suicídio. Em 1924 expôs pela primeira vez, juntamente com Alberto Cardoso, no Salão de Ilustração Portuguesa do jornal O Século e, em 1925, participou no 1º Salão de outono da Sociedade Nacional das Belas com obras onde eram ainda visíveis a influência de Columbano, de Zuloaga e do seu mentor Eduardo Viana. Nessa altura entrou em contacto com António Ferro, o polémico Ministro da Cultura de Salazar que, em 1925, criou o “Teatro Novo”, no salão de chá do novo cinema Tivoli, tendo encomendado o pano a Mário Eloy. A decoração foi entregue a Pacheko e os cenários a Leitão de Barros. No mesmo ano, Eloy pintou um retrato de Ferro e fez desenhos de amigos e pessoas importantes e influentes, no panorama cultural português. O controverso retrato do bailarino Francis (1925) foi apresentado no I Salão dos Independentes de 1930, onde estavam incluídos os artistas da aventura modernista portuguesa e cujo catálogo tinha capa desenhada por Almada Negreiros.Em 1925, Eloy abandonou Portugal e partiu para Paris, a cidade trepidante onde se cruzavam todos os artistas e todas as modas e movimentos. Aí, sobreviveu graças aos cheques enviados pelo irmão e à venda de retratos, tendo sido apadrinhado pelos exilados políticos que haviam saído de Portugal com a implantação da República. Acolhia-se geralmente em ateliers, como o do seu amigo Alberto Cardoso, na Cité Falguière. Em 1927 expôs em conjunto com a artista russa Hélène Puciatieka e com o austríaco Erwin Singer na galeria Au Sacre du Printemps. A exposição foi repetida na Chez Fast, a título individual. Os críticos falaram de uma “personalidade brutalmente expressa, audaciosa, até mesmo temerária mas pensada e sentida, simultaneamente moderna e clássica, tradicionalista” (André Warnod, In “Comoedia, 5-5-1927). Em Paris, Eloy teve contacto com o Cubismo de Braque e Picasso, foi comparado a Van Dongen e profundamente influenciado pela corrente Expressionista mas não chegou a ser tocado pelo Surrealismo que, tendo começado por ser um movimento literário, estava a contaminar rapidamente outras manifestações artísticas como as Artes Plásticas e o Cinema.No final de 1927, Mário deixou Paris, rumo a Berlim. Nesta cidade – onde foi escolhido para a Sociedade de Artistas Plásticos, tendo-se tornado o único estrangeiro inscrito – conheceu Theodora Elfriede Laura Severin, (Dora), com quem casou no dia 31 de janeiro de 1929, poucos dias depois do nascimento do filho, Mário António Horslt Eloy Jesus Pereira. A família instalou-se na Kurfurstendam Strasse, nº 141, enquanto o pintor trabalhava num atelier na Shuter Strasse, 25, mantendo a família com grandes dificuldades económicas que o levavam, por vezes, a “enfileirar nas bichas de figurantes anónimos do cinema”, para “ganhar o pão para a boca” (segundo Diogo de Macedo).Algumas das obras que produziu nesse tempo foram enviadas para Lisboa e expostas no Sindicato dos Profissionais de Imprensa, em 1928. Raoul Leal-Henoch, no nº16 da Presença, escreveu que “os quadros (de Mário Eloy) parecem ter sido forjados nos infernos, (são) alucinações sinistras de um Além feérico, orquestrado por Satã” e Jaime Brasil fez notar que a utilização de cores sombrias, “... é tão exagerada que o corpo nu de “Mulher Grávida” (1928) é verde de podridão com manchas de gangrena”(em “O Século” , 10-12-1928). Do seu exílio berlinense, Eloy continuou a participar na vida artística portuguesa: escreveu a Jorge Segurado, propondo-lhe o projeto de um “Racional Grupo das Artes Vivas e Estéticas” – que se tornou o embrião para a formação do S.N.P.N., o Secretariado Nacional de Propaganda Nacional de António Ferro – e insurgiu-se contra a recusa de aquisição, por parte de Adriano Sousa Lopes, Diretor do Museu de Arte Contemporânea (atual Museu do Chiado) de um quadro de Barata Feyo. Em 1930 expôs oito obras, quatro pinturas e quatro desenhos no I Salão dos Independentes em cujo catálogo professava o seu desejo de “ter na cabeça pincéis em vez de cabelos”, o que seria a situação ideal para “não desvirtuar a intenção no acto de pintar”, na “procura da síntese na forma”. O pintor transmitia assim a sua ansiedade quanto ao desejo de um imediatismo e de uma pureza do gesto, no ato criador.Em 1931, Jorge Segurado, seu companheiro de Liceu, instalou-se em Berlim e os dois amigos correram juntos os cafés e os famosos “cabarets” berlinenses onde assistiram, também, aos primeiros sinais da ascensão nazi. Entretanto, Mário colaborou na revista Der Querschnitt que contava, nas suas fileiras, com Picasso, Jean Cocteau e Grosz. Sempre inquieto e insatisfeito, Eloy viajou entre Berlim e Lisboa várias vezes e, em 1933 regressou a Portugal de vez. Retomou os seus hábitos lisboetas e reatou uma antiga relação com a atriz Beatriz Costa. Dora (que nunca se adaptou a Portugal) e o filho continuaram a viver na Alemanha, cada vez mais abalada por conflitos sociais, políticos e económicos.Durante os anos trinta, Mário Eloy atingiu o seu apogeu como artista. Experimentou formas e cores, desenvolveu novas técnicas e revelou uma inclinação para temas marcados pela alegoria(“Amor” – 1935, “A Fuga” - 1938-39 e “O Poeta” - 1938) Retratou personalidades do meio artístico português como Abel Manta, António Pedro, Diogo de Macedo e João Gaspar Simões, pintou bailarinas russas e desenhou cenas do quotidiano, bailes populares, o casario de Lisboa e bordéis, lugares de eleição de artistas que aí se sentiam à vontade, longe dos constrangimentos familiares e sociais.Data de 1934 a sua única obra abstrata conhecida, um óleo sobre tela intitulado “Komposição” (Natureza-Morta). A partir de 1938 e agravada em 1939, a temática de Eloy evoluiu para um inclinação ferozmente crítica, catastrófica e decadente, a prenunciar tempos sombrios, marcados pela doença de Huntington (ou Coreia), que lhe foi diagnosticada em 1940. O deflagrar da Guerra na Europa foi outro fator de grande instabilidade psicológica. Em 1939 Dora e o filho tiveram de fugir para a Checoslováquia e depois para a Holanda onde se acolheram em casa da mãe de Dora, após a invasão do território checo pelas tropas alemãs.A esperança pareceu, então, abandonar Eloy. Pintou violinistas e anjos como Chagall (que passou por Lisboa tal como Léger, Lipchitz, Zadkine e Kisling entre 1940 e 1941) e mostrou um lado obscuro de Lisboa, com os seus pobres a pedir e burgueses gordos e ridículos, como as imagens caricaturais de Grosz. Abandonou o tema de casais jovens e romanticamente erotizados para os desenhar velhos, pesados, grotescos e assustadores. Nem mesmo nos bordéis, parecia encontrar a antiga alegria devassa. Os últimos desenhos são dramáticos, cobertos de imagens de monstros, facas, suicidas, mãos e pés dependurados, corpos desmembrados. As suas obras acompanham, de uma forma tormentosa, a decadência e desregramento do mundo e da sua mente. Os seus Cristos crucificados, que lembram a série “ Crucificação, d’après Grünewald”, feitos por Picasso, em 1932, são antevisões dos horrores dos campos de concentração. Até ao internamento no Hospital do Telhal, em 1942, os sinais de uma degradação gradual são bem visíveis. Eloy pintava pouco e quando o fazia era com a intenção expressa de ganhar dinheiro. Sempre carente de fundos, recorreu ao desenho quando não tinha dinheiro para telas, pincéis e tintas mas continuou sempre a afirmar, orgulhosamente, a sua condição de artista. Falhou à justa os grandes trabalhos em que os grupos mais intervenientes das artes lisboetas se empenharam: as decorações de “A Brasileira” do Chiado e do cabaré de luxo “Bristol Club”, em que foi dada toda a liberdade aos artistas para criarem um lugar de intimidade e voluptuosidade. Zangou-se com o seu irmão Raul (“que sorte teve Van Gogh por ter tido um irmão que o compreendia”, afirmou) e habitava em parte incerta, umas vezes em casa de família, outras em ateliers de amigos, até mesmo num quarto minúsculo do Teatro Nacional. Morreu a 5 de setembro de 1951, depois de uma agonia em que, gradualmente, todas as faculdades o foram abandonando, mal se apercebendo de que, no ano anterior, duas das suas obras, “Autorretrato” e “Jeune Homme” tinham sido escolhidas para a Bienal de Veneza (no ano da sua morte foi escolhido para a Bienal de S. Paulo). Não chegou a conhecer a fama que procurava. O filho, também pintor, morreu num incêndio, em 1975, já doente com Huntington, tendo-se perdido quase toda a sua obra.Mário Eloy foi um autodidata como Amadeo, Cristiano Cruz, Almada, Viana, Botelho e Bernardo Marques. Controverso, diletante, “antimainstream”, contribuiu para um “segundo Modernismo”, em Portugal. Nele existiu uma tendência para passar ao lado, embora com uma proximidade muitas vezes tangencial, dos grandes acontecimentos, dos movimentos, das iniciativas espetaculares. Não possuiu a exuberância de Almada nem a autoridade natural de Amadeo, foi um homem isolado no espaço geográfico europeu, demasiado “português” mas decididamente rebelde. Eloy pintou e desenhou uma profusão de autorretratos carregados de “pathos” e de intensidade psicológica. É neles que é possível detetar as influências que o regeram e acompanhar a sua evolução, tanto psicológica artística, funcionando como pontos de viragem na sua atribulada existência, tanto pessoal como criativa.Cronologia: 1900
- Nasce em Lisboa. 1913
- Matricula-se na Escola de Belas-Artes de Lisboa. 1919
- Parte para Espanha – Madrid. 1920
- Viaja até Sevilha e, eventualmente, passa por Marrocos (Tânger). Regressa a Portugal pelo Algarve. 1922
- Trabalha no “atelier” de Augusto Pina no Teatro D. Maria II, em Lisboa. 1923
- Estreia-se como ator no Teatro Politeama na Companhia “Amélia Rey Colaço – Robles Monteiro” na peça “Ribeirinha”. 1924
- 1º Exposição dos seus trabalhos – com Alberto Cardoso – “Salão de Ilustração Portuguesa”, Lisboa. 1925
- Concorre ao “Salão de outono” organizado por Eduardo Viana, Lisboa.
- Pinta o Pano de Boca de Cena do Teatro Tivoli, Lisboa – com António Ferro.
1926
- Parte para Paris. 1927
- Expõe em Paris numa coletiva da Galeria “Sacre du Printemps”. - Expõe individualmente em Paris, na Galeria “Chez Fast”. - Em dezembro deste ano, já se encontra em Berlim, onde expõe, individualmente, na Galeria “A.E. Utsch”. 1928 - Vem brevemente a Lisboa, onde expõe individualmente na “Casa da Imprensa” 1929 - Nasce Mário António Horslt Eloy Jesus Pereira, 12 de janeiro. - Casa-se em Berlim com Dora Severin, 31 de janeiro. 1930 - Expõe no “Salão dos Independentes”, Lisboa. 1931 - Os amigos Jorge Segurado e Frederico de Carvalho juntam-se-lhe, em Berlim. - Expõe na coletiva “Homenagem a Cézanne”, organizada pela “Galerie. - Flechtheim”, ao lado de Picasso, em Berlim. - Expõe na “Allgenine Unabhangige Austellüng”, em Berlim. 1932 - Regressa a Lisboa. Expõe no “1º Salão de inverno”. 1934 - Expõe na “galeria UP”, em Lisboa. - Cria, com Jorge Segurado, o carro alegórico do Tejo para o cortejo das Festas da Cidade. - António Ferro encomenda-lhe a pintura “Lisboa”. 1935 - Concorre à “1ª Exposição de Arte Moderna”, Lisboa. 1936 - Concorre à Exposição “Casa Quintão”, Lisboa. 1937 - Expõe na “Galeria de Arte”, Lisboa. 1938 - Concorre à “3ª Exposição de Arte Moderna”, Lisboa. 1939 - Concorre à “4ª Exposição de Arte Moderna”, Lisboa. 1945 - Internado na Casa de Saúde do Telhal – 15 de junho. 1950 - Bienal Internacional de Veneza – representação portuguesa. 1951 - Morre na Casa de Saúde do Telhal – 5 de setembro. 1953 - II Bienal do Museu de Arte de S. Paulo, Brasil – representação portuguesa 1958 - Exposição Retrospetiva da Obra do Pintor Mário Eloy”, Lisboa e Porto 1978 - Exposição na Fundação Calouste Gulbenkian, Londres. 1996 - Exposição Retrospetiva no Museu do Chiado, Lisboa.
_______________________
Bibliografia / Catálogos: Jorge Segurado, Mário Eloy: pinturas e desenhos, Lisboa, IN-CM, 1982Helena Vasconcelos, Mário Eloy, Lisboa, Caminho, 2005Mário Eloy: exposição retrospectiva, Lisboa, Instituto Português de Museus, 1996

Miguel Torga, por José Augusto Cardoso Bernardes
Miguel Torga (pseudónimo de Adolfo Correia Rocha) nasceu em S. Martinho de Anta (12.08.907) e morreu em Coimbra (17.01.995). É autor de uma obra extensa e diversificada, compreendendo poesia, diário, ficção (contos e romances), teatro, ensaios e textos doutrinários.Em 1934, ao publicar o ensaio intitulado A terceira voz, o médico Adolfo Rocha adota expressamente o nome de Miguel Torga. Associando o fitónimo “torga” – evocativo de resistência e de pertinaz ligação à terra, propriedades de um pequeno arbusto do mesmo nome- a "Miguel"- nome de escritores ibéricos (Miguel de Cervantes e Miguel de Unamuno), de artista visionário e genial (Miguel Ângelo) e de Arcanjo com forte motivação semântica (“Quem como Deus”), o poeta (então, com apenas 27 anos) escolhe um programa ético e estético centrado no confessionalismo e na busca de autenticidade.A dominante autobiográfica é, de resto, uma marca geracional. Não pode esquecer-se que Torga viria a participar, por pouco tempo, no movimento da Presença, vindo a demarcar-se dele, não tanto por força de divergências substantivas mas em virtude de um fortíssimo impulso individualista.A essa luz de obstinada independência ganha também importância a forte relação que o autor mantem com a terra natal. É sabido, por exemplo, que a Agarez d' A Criação do Mundo (conjunto de seis livros autobiográficos, publicados entre 1937 e 1981) constitui o sucedâneo da sua S. Martinho de Anta, afirmando-se como contraponto apaziguante das muitas peregrinações empreendidas, por escolha livre ou por força das circunstâncias. A partir de certa altura, a dialética entre aproximação e distância fixa-se essencialmente em torno de Coimbra (a “Agarez alfabeta”) e das fragas maternais de Trás-os-Montes, onde o poeta volta ciclicamente, sobretudo por ocasião do Natal. Nessa medida, bem pode dizer-se que o regresso constitui, ao mesmo tempo, um prémio e uma revalidação do preito à terra.Essa dialética vivencial aplica-se também ao próprio mundo ficcional criado pelo autor. Um exemplo disto mesmo encontra-se no conto intitulado “A Paga (Contos da Montanha) quando Matilde, “desgraçada” por um Don Juan rústico (o Arlindo), se vê vingada pelos irmãos (Cândido e Albino) regressados do Brasil para, em dia de romaria a S. Domingos, restabelecerem a justiça da terra. Punido na sua capacidade fecundante, o Arlindo constitui o exemplo do varão excessivo, que atraiçoa as leis morais necessárias ao bom funcionamento da comunidade. Por via disso mesmo, o castigo teria de lhe ser imposto por filhos da mesma terra, que a ela voltaram com esse fim, em sinal de pertença eterna.Esta linha de fidelidade aos espaços maternos e de busca íntima alcança outro tipo de expressão na escrita lírica.Iniciado em 1928 com o livro Ansiedade (entretanto renegado), o lirismo de Torga ganha corpo através de um conjunto de livros autónomos e ainda por força de um vasto conjunto de poemas espalhados ao longo dos 16 volumes do Diário, publicados entre 1941 e 1993.Nele comparece a ideia de uma Natureza matricial contraposta às hipocrisias sociais (no que lembra muito o bucolismo de Sá de Miranda); Nele avulta, por outro lado, a noção de que a escrita literária (e a inspiração lírica, em particular) excede o plano da consciência e da programação racional para se inscreverem, de facto, no âmbito da transcendência órfica. De facto, mais do que imitar a realidade, a poesia de Torga reinventa-a sem cessar, tal como Orfeu conseguia modificar a paisagem envolvente através da melodia do seu canto. Para além de tudo, e ainda à semelhança do pastor da Trácia, o objetivo último do poeta é sempre o de resgatar a amada Eurídice (que tem, neste caso, o nome de Pátria), arrancando-a ao negrume do Hades e devolvendo-a à luz e à esperança do futuro.Na constância do seu projeto cívico e artístico, Miguel Torga revela-se um caso raro de perseverança na ligação à terra em que nasceu: a Trás-os-Montes e a Portugal, por inteiro. Historicamente situado numa encruzilhada onde Tradição e Modernidade se afrontam, o escritor aparece sistematicamente do lado do progresso, tanto em termos estéticos como em termos cívicos. Nessa medida o encontramos claramente alinhado pelo Modernismo, no que a palavra pressupõe de representação livre e criativa de ideias e emoções. Do mesmo modo que o encontramos apostado no combate por uma democracia respeitadora da história e construtora de um futuro responsável.Mas é justamente a esse nível que se pode assinalar a principal “contradição” do seu ideário. É que, contra as expectativas de alguns, Miguel Torga, que havia contestado vigorosa e repetidamente a “Ordem” do Estado Novo, viria a revelar-se um crítico do Portugal democrático: terciarizado, amnésico, consumista e europeu. Nesse registo de resistência (tantas vezes glosado ao longo do Diário) Torga acaba assim por se integrar definitivamente na linhagem dos poetas e pensadores portugueses de Melancolia, onde se contam nomes como Sá de Miranda, Camões, Oliveira Martins, Antero, Teixeira de Pascoais ou Fernando Pessoa.O próprio facto de todos eles terem sido, de algum modo, derrotados pela história contribuiu para os converter em poderosa referência contrastiva. Não admira, por isso, que na maioria dos casos evocados, a influência estética tenda a confundir-se com os efeitos do magistério cívico. No que diz diretamente respeito a Miguel Torga, é sintomático que, passada apenas uma década sobre a sua morte, ele se tenha já tornado num dos escritores portugueses de mais evidente consumo público, quer através de uma presença significativa no cânone escolar (onde entrou, pela primeira vez, em 1976) quer através de outro tipo de consagração, como seja o patronato de um numeroso conjunto de escolas (de diferentes níveis de ensino) e de bibliotecas. Do mesmo modo, a sua obra tem vindo a ser traduzida para a generalidade dos idiomas europeus e ainda para chinês e japonês. Assinale-se, por fim, o facto bem ilustrativo de Miguel Torga ser, talvez, o escritor mais citado por parte dos titulares de cargos públicos, parlamentares e políticos portugueses, em geral.BIBLIOGRAFIA1. AtivaA obra de Miguel Torga foi publicada ao longo dos anos, em edição de autor.Em 1999, as Publicações Dom Quixote iniciaram a edição da Obra Completa.2. PassivaALVAREZ, Eloísa, -“Ventura ou a génese de um mito”, in Colóquio/Letras, 109 (1989), pp. 12-16;- “Miguel Torga”, in Biblos, 5º vol., 2005, pp. 461-67;BERNARDES, José Augusto Cardoso, “Vocação e penitência na poesia de Miguel Torga”, in Sou um homem de granito. Miguel Torga e seu compromisso, Lisboa, Editorial Salamandra, 1997, pp. 75-89;- “A construção do herói n’ A Criação do Mundo, de Miguel Torga”, in Actas dos lusitanistas alemães, Mains, 2001;FILHO, Linhares, O poético como humanização em Miguel Torga, Fortaleza, Casa de Alencar/ Universidade Federal do Ceará, 1997;GOMES, José António, “A infância nos contos de Miguel Torga” in Aqui neste lugar e nesta hora. Actas do Primeiro Congresso Internacional sobre Miguel Torga, Porto, Edições Universidade Fernando Pessoa, 1994, pp. 163-176;GONÇALVES, Fernão de Magalhães, Ser e ler Miguel Torga, Chaves, Edições Tartaruga, 1998;LOPES, Teresa Rita, Ofícios a um Deus de terra, Rio Tinto, Editorial Asa, 1993;LOURENÇO, Eduardo, O desespero humanista de Miguel Torga e o das novas gerações, Coimbra, Coimbra Editora, 1955;- “Um nome para uma obra”, in pp. 277-284;-“A poesia da Presença ou o último teatro do Eu”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, nº 894 (Janeiro de 2005), pp.6-8;Ponce de Leão, Isabel, O essencial sobre Miguel Torga, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 2004;REIS, Carlos, “Miguel Torga ou o paradigma perdido”, in Biblos, 10 (1979), pp.15-37;REIS, Sara Silva, A identidade ibérica de Miguel Torga, S. João do Estoril, Principia, 2002;ROCHA, Clara Crabbé, O espaço autobiográfico em Miguel Torga, Coimbra, Livraria Almedina, 1977;- Miguel Torga. Fotobiografia, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2000 (com Bibliografia activa e passiva);SANTOS, João Camilo dos, “Homens e bichos. A questão do humano em alguns contos de Miguel Torga”, in Sou um homem de granito, pp. 91-100.

José Rodrigues Miguéis, por Teresa Martins Marques
Escritor português (Lisboa, 1901 - Nova Iorque, 1980). Licenciado em Direito (Lisboa, 1924) e em Ciências Pedagógicas (Bruxelas, 1933). Foi temporariamente advogado, delegado do Ministério Público e professor do ensino secundário. Atento à imprensa periódica, colaborador d’A República e da Seara Nova, dirige o semanário O Globo (1933) com Bento Caraça e envolve-se em movimentos de intervenção cívica democrática. Vendo o seu nome censurado nos jornais, vai em 1935 para os EUA, onde acabará por se fixar e viver a maior parte da sua vida. A partir de 1942, e durante cerca de dez anos, exerce funções de Assistant Editor das Seleções do Reader’s Digest. Colabora regularmente na imprensa de Lisboa e dedica-se à tradução: Stendhal, Carson McCullers, Erskine Caldwell, F.Scott Fitzgerald.A obra de José Rodrigues Miguéis configura-se predominantemente ao nível da ficção narrativa e da crónica-ensaio. Coetânea do presencismo e do neorrealismo, é relativamente independente do cânone rígido daqueles movimentos, situando-se numa zona de interseção entre ambos, gerando sínteses originais. Leitor atento de Camilo e de Eça, revela-se mestre da ironia e do humor, problematizando as contradições sociais, analisando o sujeito individualmente considerado, não raro em situação limite de amargura e de perda, mas também em busca de identidade, oscilando entre o regresso como forma de esperança e a fuga como expressão de desistência, a que não é alheia a herança brandoniana: «As crónicas da República (tudo ali me lembrava Raul Brandão, que por lá passara) eram talhadas em pleno material do mestre da Farsa. A sua sensibilidade luarenta e espectral coincidia visceralmente com o meu modo de ser.» (in «Nota do Autor» à 2ª ed. de Páscoa Feliz, 1958, p.183).São em número de seis os romances de JRM: Uma Aventura Inquietante (1958), que sob um enredo policial denuncia as arbitrariedades da Justiça, revelando em simultâneo a «gastronostalgia» do expatriado na Bélgica, que só dá valor à Pátria quando se encontra longe dela; A Escola do Paraíso (1960), revelando algumas características do romance de formação, é centrada na infância do herói, decorrida entre o fim da Monarquia e os alvores da República, concedendo particular destaque à figura da mãe e à da cidade-berço; Nikalai! Nikalai! (1971), história pícara que retrata uma comunidade de russos brancos sediada em Bruxelas, após a revolução soviética, e que pretende repor no trono o czar Nikalai; O Milagre segundo Salomé (1975), grande fresco da sociedade lisboeta, da ambiência depressiva que correspondeu à degradação dos sonhos republicanos, que culminaria no golpe de 28 de maio de 1926; O Pão Não Cai do Céu (1981), a sua obra mais conforme ao cânone neorrealista, onde se destaca a figura do «cigano», herói épico, símbolo unificador da luta pela terra e pela liberdade na planície alentejana; Idealista no Mundo Real (1986) que problematiza as contradições de um jovem magistrado colaborador da Seara Nova em busca da sua identidade ideológica e social. Serão, contudo, a novela e o conto que tornarão JRM referência obrigatória entre os melhores no género: Páscoa Feliz (1932) – Prémio da Casa da Imprensa – revela-se um dos mais penetrantes retratos da desagregação mental do sujeito até ao limite da loucura e do crime, temática que será retomada com menor dramatismo e expressividade na peça de teatro O Passageiro do Expresso (1960).A problemática da dissolução do sujeito, associada a elementos fantásticos, constitui também a linha de força da narrativa «A Mancha não se Apaga» (Onde a Noite se Acaba, 1946).De Léah e Outras Histórias (1958) - Prémio Camilo Castelo Branco – destacam-se as narrativas «Léah» e «Saudades para a Dona Genciana» . A primeira, oscilando entre a carta e o diário, constitui-se como solilóquio confitente de um medroso e tímido narrador evocando a mulher amada e perdida; a segunda, considerada a obra-prima da ficção migueisiana, construída sobre uma dupla sinédoque: Dona Genciana representando o espaço humano da Avenida (Almirante Reis), e esta, por sua vez, representando a cidade de Lisboa, vista disforicamente no passado e euforicamente no presente da rememoração, depreciadas ambas pela vivência e também ambas glorificadas pela memória, testemunhas de um espaço-tempo relíquia, que a saudade faz re(vi)ver.A condição do imigrante constitui-se como eixo temático dominante nos contos de Gente da Terceira Classe (1962). A experiência autobiográfica, força motriz da obra migueisiana no seu conjunto, assume-se explicitamente em Um Homem Sorri à Morte – Com Meia Cara (1959) onde o sofrimento perante a ameaça do fim se transmuta pela coragem e pela vontade, em vitória da vida e da esperança.A produção genericamente considerada crónica foi reunida em três vols.: É Proibido Apontar – Reflexões de um Burguês I (1964), O Espelho Poliédrico (1973), As Harmonias do Canelão – Reflexões de um Burguês II (1974).Pass(ç)os Confusos (1982) reedita o livro de contos Comércio com o Inimigo (1973) bem como um conjunto de narrativas anteriormente publicadas na imprensa. Aforismos & Desaforismos de Aparício (1996, ed. OnésimoT. Almeida) reúne textos publicados no Diário Popular sob o título de Tablóides, subordinados a temáticas diversas na área político-cultural, de que se destacam os conceitos de liberdade e de arte, bem como o papel dos intelectuais nas sociedades modernas, acusando dramatismo e angústia, fruto do exílio e da solidão.BIBLIOGRAFIA: AA. VV. José Rodrigues Miguéis: Catálogo da Exposição Comemorativa do Centenário do Nascimento, Lx., 2001;Onésimo T. Almeida (ed.) José Rodrigues Miguéis: Lisbon in Manhattan (Providence, 1984); Onésimo T. Almeida & Manuela Rego (eds.), José Rodrigues Miguéis: Uma Vida em Papéis Repartida, Lx., 2001; Margarida Barahona, introd. a Contos de José Rodrigues Miguéis, Lx, 1981; João José Cochofel, «O Último Romance de Miguéis», in Críticas e Crónicas, Lx., 1982; José Martins Garcia, «Um Paraíso Sempre Ameaçado», introd. a A Escola do Paraíso, Lx.,1986; John A. Kerr Jr., Miguéis –To the Seventh Decade, University of Mississipi, Romance Monographs 29, 1977; Maria Lúcia Lepecki, «Rodrigues Miguéis: o Código e a Chave» in Meridianos do Texto, Lx., 1979; Óscar Lopes, «O Pessoal e o Social na Obra de Miguéis», in Cinco Personalidades Literárias, Porto, 1961; Eduardo Lourenço, «As Marcas do Exílio no Discurso de Rodrigues Miguéis», in O Canto do Signo, Lx., 1994; Teresa Martins Marques, O Imaginário de Lisboa na Ficção Narrativa de José Rodrigues Miguéis, Lx., 1994; David Mourão-Ferreira, «Avatares do Narrador na Ficção de Miguéis», in Sob o Mesmo Tecto, Lx.,1989; Mário Neves, José Rodrigues Miguéis – Vida e Obra, Lx., 1990; Ernesto Rodrigues,«Uma Atmosfera Revolucionária: O Pão não Cai do Céu», in Mágico Folhetim—Literatura e Jornalismo em Portugal, Lx.,1998; Mário Sacramento, «A Problemática do Eu em José Rodrigues Miguéis», in Ensaios de Domingo, Coimbra, 1959.

Lindley Cintra, por Ivo Castro
Luís Filipe Lindley Cintra é uma das figuras principais da Linguística portuguesa. Toda a sua atividade científica foi desenvolvida na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde se licenciou e doutorou em Filologia Românica (respetivamente em 1946 e 1952) e onde exerceu toda a sua atividade docente, de assistente (1950-1960) a professor extraordinário (1960-1962) e catedrático (de 1962 até à morte).Foi diretor das revistas Boletim de Filologia e Revista Lusitana (nova série), pertenceu a diversas sociedades científicas (Academia Espanhola de História, Academia de Buenas Letras de Barcelona, Academia Portuguesa de História e Academia das Ciências de Lisboa) e organizou em Lisboa reuniões científicas de grandes dimensões: III Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros (1957), IX Congresso Internacional de Filologia e Linguística Românicas (1959) e Congresso sobre a Situação Actual da Língua Portuguesa no Mundo (1983).Criador do Departamento de Linguística Geral e Românica da FLUL e reformador do Centro de Estudos Filológicos (a partir de 1975 designado Centro de Linguística da Universidade de Lisboa), teve um papel determinante na orientação das carreiras de numerosos investigadores e docentes, que se afirmaram num vasto espaço de disciplinas humanísticas. Ele próprio, como investigador, distinguiu-se principalmente nas áreas da literatura medieval, da linguística românica, da dialetologia e da geografia atual da língua portuguesa - vasta gama de interesses que ajudam a perceber o percurso de um linguista de formação tradicional que não deixou de estar atento à evolução da ciência e da sociedade.Começou pelo estudo da literatura, numa altura em que ela abarcava ainda, em Portugal, o estudo da língua, merecedora de atenção científica apenas enquanto língua de escritores ou repositório de arcaísmos e regionalismos. Dedicou, assim, a tese de licenciatura à versificação de António Nobre e a tese de doutoramento ao que se supunha ser a versão portuguesa da Crónica Geral de Espanha de Afonso X, o Sábio, e que, como demonstrou, era uma crónica originariamente portuguesa, atribuída ao Conde D. Pedro de Barcelos e ocupando um lugar importante no quadro da historiografia peninsular. Em ambas as dissertações, Cintra partiu de temas puramente literários para, desviando-se de abordagens eruditas, estilísticas ou interpretativas, como talvez fosse de esperar, se deixar atrair pelos fenómenos de natureza mais claramente linguística, daí resultando um ensaio sobre ritmo, métrica e sonoridades, no caso de Nobre, e um manual prático de crítica textual e de linguística medieval, no caso da Crónica Geral.Adivinhavam-se assim as direções que viria a tomar o seu trabalho futuro, confirmadas pela terceira tese, A linguagem dos Foros de Castelo Rodrigo (1959), dedicada a um grupo de textos de direito local do séc. XIII, produzidos na região leoneso-portuguesa de Ribacoa e cheios de interesse para a reconstituição dos movimentos linguísticos desencadeados pela Reconquista numa região do país que ainda hoje reserva seus segredos.E perfilava-se uma das principais características da sua atividade intelectual e científica: dava pouca importância à teoria e preferia-lhe a análise dos dados, que manejava com absoluto domínio da técnica e uma perspicácia inultrapassável, nisso seguindo o seu grande modelo, Ramón Menéndez Pidal, com quem trabalhara para o doutoramento. Foi assim que a sua obra, construída a partir da natureza e das necessidades dos problemas e passando ao largo das metodologias de moda, desprezando-as mesmo um pouco, adquiriu uma solidez e uma perenidade granítica que se casam bem com documentos medievais e com dialetos de montanha.Se Cintra descobriu a linguística histórica ao estudar a Crónica Geral com Menéndez Pidal, é também ao grande filólogo madrileno que deve o segundo choque formador da sua carreira, ao ser integrado nas equipas de linguistas que recolheram os materiais para o Atlas Linguístico da Península Ibérica. Para tal, o urbano Cintra teve de percorrer extensamente as províncias de Portugal em 1953 e 1954 e assim "conheceu o povo". De imediato, abriram-se-lhe novas janelas de interesse: a dialetologia e a etnografia, disciplinas que desde Leite de Vasconcellos andavam pouco praticadas em Lisboa. Mas não só: como ele próprio confessava, a forte experiência humana de abandonar o gabinete e de descobrir como vivia o povo despertou nele a consciência dos problemas sociais e políticos. Dez anos mais tarde, o protagonismo que teve nas lutas estudantis e a coragem física que demonstrou em episódios que hoje são históricos tornaram-no conhecido fora da Universidade e atribuiram-lhe um papel modelar que influenciou, entre outras, a geração que hoje ocupa o poder.Enquanto linguista, não produziu as sínteses do seu vasto saber. Mas talvez seja possível depreender, dos seus escritos, dois grandes campos de investigação pessoal:as origens da língua portuguesa, campo em que se concentram os seus trabalhos sobre a Reconquista e o repovoamento do território peninsular, a história dos dialetos galegos e portugueses, a produção documental latina e portuguesa dos primeiros séculos nacionais, o aparecimento da literatura escrita em português e a literatura oral, manifestada mais tarde no romanceiro;o espaço da língua portuguesa, definido historicamente como sendo constituído por toda a faixa ocidental da Península Ibérica (incluindo, portanto, o galego, cujos dialetos não hesitava em considerar como pertencendo ao mesmo sistema que o português, ainda que apoiasse, para o presente, a autonomia da norma linguística galega) e pelas ilhas atlânticas, pelo Brasil e os países africanos e asiáticos onde se fala o português e os crioulos de base portuguesa. Ou seja, um espaço geográfico definido como produto da expansão extraeuropeia da língua nascida do latim vulgar do Noroeste peninsular. Esta definição conduzia, naturalmente, à valorização dos aspetos unitários: sobre a variedade inevitável de uma língua transcontinental, Cintra fazia pairar uma unidade fundamental que não excluía o galego, nem os crioulos. E muito menos o português do Brasil, como o demonstraram, na fase final da vida, a sua defesa de uma ortografia comum e a colaboração com Celso Cunha para escreverem a Nova Gramática do Português Contemporâneo (1984), uma gramática escrita para servir de normativa, simultaneamente, à língua usada por portugueses, brasileiros e africanos. Bibliografia de Luís F. Lindley Cintra(5. III. 1925 – 18. VIII. 1991)1) O Ritmo na Poesia de António Nobre. Dissertação de Licenciatura em Filologia Românica, Faculdade de Letras de Lisboa, 1946, 116 págs, (Inédito).2) "A linguagem figurada nas Canções de Camões", in: Revista de Portugal (Lisboa), série A, Língua Portuguesa, X, nº 48, 1946, págs. 95-112.3) "Sobre o Sumário de Crónicas até ao ano de 1368 da Biblioteca Real de Madrid", in: Boletim de Filologia (Lisboa), IX, 1948, págs. 299-320.4) Recensão crítica a: Oscar Bloch e W. von Wartburg, Dictionnaire Etymologique de la Langue Françaice, in: Boletim de Filologia (Lisboa), IX, 1948, págs. 375-377.5) "O Liber Regum e outras fontes do Livro das Linhagens do Conde D. Pedro, in: Miscelânea de Filologia, Literatura e História Cultural à Memória de Francisco Adolfo Coelho, II (Boletim de Filologia, XI), Lisboa, Centro de Estudos Filológicos, 1950, págs. 224-251.6) "Última tradução galego-portuguesa desconhecida do Liber Regum", in: Bulletin Hispanique (Bordeaux), LII, 1950, págs. 27-40.7) Crónica Geral de Espanha de 1344. Edição crítica do texto português. Vol. 1. Introdução. Lisboa (Academia Portuguesa da História), 1951, DCIV págs. Reprodução facsimilada: Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983.8) "A lenda do Abade D. João de Montemor conhecida em Portugal, no século XV?", in: Revista da Faculdade de Letras (Lisboa), XVII, 2ª série, nº 1, 1951, págs. 109-111.9) Recensão crítica a: A. Magalhães Basto, A tese de Damião de Gois em favor de Fernão Lopes. A posição da "Crónica de Cinco Reis" em face dessa tese, in: Revista da Faculdade de Letras (Lisboa), XVII, 2ª série, nº 1, 1951, págs. 252-263.10) "Sobre uma tradução portuguesa da General Estoria de Afonso X", in: Boletim de Filologia (Lisboa), XII, 1951, págs. 184-191 (Sep. Lisboa 1951, 8 pág.).11) Recensão crítica a: Estudios dedicados a Menéndez Pidal, tomo I, in:Boletim de Filologia (Lisboa), XII, 1951, págs. 194-199.12) Recensão crítica a: Harri Meier, "Span. -port. cama, rum. pat Bett", in: Boletim de Filologia (Lisboa), XII, 1951, págs. 376-378.13) Recensão crítica a: Os estudos de linguística românica na Europa e no América desde 1939 a 1948, (organizado por Manuel de Paiva Boléo), in: Boletim de Filologia (Lisboa), XIII, 1952, págs. 182-183.14) "O Liber Regum fonte comum do Poema de Fernão Gonçalves e do Laberinto de Juan de Mena", in: Boletim de Filologia (Lisboa), XIII, 1952, págs. 289-315.15) Recensão crítica a: Angelo Monteverdi, Manuale di avviamento agli studi romanzi. Le lingue romanze, in: Boletim de Filologia, (Lisboa), XIV, 1953, págs. 168-172.16) Crónica Geral de Espanha de 1344. Edição crítica do texto português. Vol. II. Texto. Lisboa (Academia Portuguesa da História), 1954, 488 págs. Reprodução facsimilada: Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984.17) "Enquêtes au Portugal pour l'Atlas Linguistique de la Péninsule Ibérique", ín: Orbis (Louvain), III, 1954, págs. 417-418. Reeditado em Estudos de Dialectologia Portuguesa. Lisboa, Sá da Costa Editora, 1983, págs. 17-20.18) "D. Pedro, conde de Barcelos, Gomes Lourenço de Beja e a autoria da Crónica Geral de Espanha de 1344", in: Boletim de Filologia (Lisboa), XVI, 1956, págs. 137-139 (Sep. Lisboa 1956, 3 págs.).19) "Bibliografia de Wilhehn Giese" in: Boletim de Filologia (Lisboa), XVI, 1956, págs. 91-124 (Sep. Lisboa 1956, 34 págs.).20) "Sobre a formação e evolução da lenda de Ourique (até à Crónica de 1419)', in: Miscelânea de Estudos em Honra do Prof. Hernâni Cidade (Revista da Faculdade de Letras, IIIª série, 1) . Lisboa, 1957, págs. 168-215.21) "Prefácio" a: Sebastião da Gama, Serra Mãe (Poemas), 2ª ed.. Lisboa, Ática, 1957.22) "Toponymie léonaise au Portugal: la région de Riba-Coa", in: Vème Congrès International de Toponymie et d'Anthroponymie (Salamanca, 12-15 avril 1955). Actes et Mémoire, I. Salamanca, 1958, págs. 245-257.23) "Alguns casos de diferenciação lexical entre o português e o castelhano literários dos séculos XIV-XV", in: VIII Congresso Internazionale di Studi Romanzi (Firenze, 3-8 aprile 1956). Atti, II. Comunicazioni. Parte Prima. Firenze, 1958, págs. 127-140.24) "Alguns estudos de fonética com base no Atlas Linguístico da Península Ibérica", in: Primeiro Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro (S. Salvador da Baía, 5 a 12 de Setembro de 1956). Anais. Rio de Janeiro 1958, págs. 186-195. Reeditado sob o título "Os inquéritos realizados em Portugal para o Atlas Linguístico da Península Ibérica e seu interesse para a dialectologia brasileira", Estudos de Dialectologia Portuguesa. Lisboa, Sá da Costa Editora, 1983, págs. 21-34.25) A Linguagem dos Foros de Castelo Rodrigo. Seu confronto com a dos Foros de Alfaiates, Castelo Bom, Castelo Melhor, Coria, Cáceres e Usagre. Contribuição para o estudo do leonês e do galego-português do século XIII. Lisboa, 1959 (Publicações do Centro de Estudos Filológicos, 9). CXIX + 595 págs. Reprodução facsimilada: Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984.26) Artigos: "Álvares (Fr. João)", "Caça (Tratados de)", "Crónica Breve do Arquivo Nacional", "Crónica da Conquista do Algarve", "Crónica de Portugal de 1419", "Crónica do Condestabre", "Crónica do Mouro Rasis", "Crónica Geral de Espanha de 1344", "Crónica Troiana", "Crónicas Breves de Santa Cruz", "Historiografia medieval", "D. João I", "Livro da Montaria", "Livros das Linhagens", "Lopes (Fernão)", "Portugaliae Monumenta Historica", "Zurara (Gomes Eanes de)", in: Dicionário das Literaturas Portuguesa, Galega e Brasileira. Direcção de Jacinto do Prado Coelho. Porto, Livraria Figueirinhas, 1960.27) "D. Duarte", in Os Grandes Portugueses, (obra planeada e dirigida por Hernâni Cidade). Vol. I. Lisboa, Editorial Arcádia, 1960, págs. 139-154.28) (Com Manuel de Paiva Boléo e José G. Herculano de Carvalho) "Projecto de um atlas linguístico-etnográfico de Portugal e da Galiza", in: III Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros (Lisboa, 1957). Actas , II. Lisboa, 1960, págs. 413-417 (Sep. Lisboa 1960, 5 págs.).29) Crónica Geral de Espanha de 1344. Edição crítica do texto português. Vol. III. Texto. Lisboa (Academia Portuguesa da História), 1961, XXV + 454 págs. Reprodução facsimilada: Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984.30) "Une frontière lexicale et phonétique dans le domaine linguistique portugais", in: IX Congresso lnternational de Linguística Românica ( Lisboa, 31 de Março- 4 de Abril de 1959). Actas, III (Boletim de Filologia, XX, (1961), 1962). Lisboa, 1962, págs. 31-39 (Sep. Lisboa 1962, 9 págs.). Reeditado em Estudos de Dialectologia Portuguesa. Lisboa, Sá da Costa Editora, 1983, págs. 95-105.31) (Com M. Sanchis Guarner, L. Rodríguez Castellano e A. Otero) "El Atlas Linguístico de la Península Ibérica (ALPI). Trabajos, problemas y métodos", in: IX Congresso Internacional de Linguística Românica (Lisboa, 31 de Março- 4 de Abril de 1959). Actas , III (Boletim de Filologia, XX, (1961), 1962). Lisboa, 1962, págs. 113-120 (Sep. Lisboa 1962, 7 págs.).32) "Rapport du Secrétaire du Congrès, Dr. Luís F. Lindley Cintra", in: IX Congresso Internacional de Linguística Românica (Lisboa, 31 de Março- 4 de Abril de 1959). Actas, III (Boletim de Filologia, XX, (1961), 1962). Lisboa, 1962, págs. 215-221 (Sep. Lisboa 1962, 7 págs.).33) "Chronique du Congrès", in: Actas do IX Congresso Internacional de Linguística Românica , III (Boletim de Filologia, XX (1961), 1962). Lisboa, 1962, págs. 257-265 (Sep. Lisboa 1962, 9 págs.).34) "Áreas lexicais no território português", comunicação apresentada ao Primeiro Congresso de Dialectologia e Etnografia (Porto Alegre, 1958) , in: Boletim de Filologia (Lisboa), XX, (1961), 1962 , págs. 273-307 (Sep. Lisboa 1962, 35 págs.). Reeditado em Estudos de Dialectologia Portuguesa. Lisboa, Sá da Costa Editora, págs. 55-94.35) "Sobre o interesse humano do estudo dos dialectos e falares regionais", in: Távola Redonda, 19, 1962. Reeditado em Estudos de Dialectologia Portuguesa. Lisboa, Sá da Costa Editora, 1983, págs. 9-15.36) "Les anciens textes portugais non littéraires. Classement et bibliographie", in: Colloque sur les anciens textes non littéraires - Apport des anciens textes romans non littéraires à la connaissance de la langue du Moyen Âge (Strasbourg, fév. 1961). Revue de Linguistique Romane (Strasbourg), LXXVII, 1963, págs, 40-58.37) "Observations sur l'orthographe et la langue de quelques textes non littéraires galiciens-portugais de la seconde moitié du XIIIe siècle", in: Colloque sur les anciens textes non littéraires - Apport des anciens textes romans non littéraires à la connaissance de la langue du Moyen Âge (Strasbourg, fév. 1961). Revue de Linguistique Romane (Strasbourg), LXXVII, 1963, págs. 59-77.38) "Colaboración hispano-portuguesa en la investigación linguística", in: Presente y futuro de la lengua española. (Actas de la Asamblea de Filología del I Congreso de Instituciones Hispánicas). Vol. I. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1964, págs. 443-448.39) "Nótula sobre os manuscritos das obras de Fernão Lopes", in: Colóquio – Revista de Artes e Letras (Lisboa), 29, 1964, págs. 49-50.40) Crónica Geral de Espanha de 1344: A lenda do Rei Rodrigo. Introdução, notas e glossário. Lisboa, Verbo, 1964, 93 págs.41) "Prefácio" a: Joana Lopes Alves, A Linguagem dos pescadores da Ericeira. Lisboa, Junta Distrital de Lisboa, 1965, págs. VII-IX.42) "Sebastião da Gama: um depoimento", in: O Tempo e o Modo (Lisboa), 27, 1965, págs. 463-478.43) "Actualidade de Gil Vicente" (debate gravado). in: O Tempo e o Modo (Lisboa), 23, 1965, págs. 1147-1181.44) "Origens do sistema de formas de tratamento do português actual", in: Brotéria (Lisboa), LXXXIV, n.º 1, 1967, págs. 49-70. Reeditado com modificações em Sobre "Formas de Tratamento" na Língua Portuguesa. Lisboa, Livros Horizonte, 1972, págs. 7-42.45) "A obra filológica do Prof. David Lopes", in: Revista da Faculdade de Letras (Lisboa), III série, 11, 1967, págs. 75-82.46) "Introdução" a: Índices da Revista Lusitana. Lisboa, Centro de Estudos Filológicos, 1967, págs. VII-X.47) "Notas à margem do 'Romanceiro' de Almeida Garrett", in: Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira (Lisboa), VIII, n.º 1, 1967, págs. 105-135 (Sep. Lisboa 1968, 30 págs.).48) "Rodrigues Lapa", in: Seara Nova (Lisboa), 1460, Junho de 1967, págs. 162-163. Reeditado in Homenagem a Manuel Rodrigues Lapa, vol. I (Boletim de Filologia, XXVIII). Lisboa, 1983, págs. VII-XV (Sep. Lisboa 1984, 9 págs.).49) "A propósito do centenário de António Nobre - o decassílabo, o alexandrino e o verso livre no Só : ensaio sobre verificação e ritmo", in: Brotéria (Lisboa), LXXXVI, n.º 2, 1968, págs. 168-192.50) "Nota prévia" a: Crónica Del Rei Dom Joham I de boa memória e dos Reis de Portugal o décimo. Parte Segunda escrita por Fernão Lopes e agora copiada fielmente dos melhores manuscritos por William J. Entwistle. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da moeda, 1968, págs. VII-XI.51) "Os ditongos decrescentes ou e ei : esquema de um estudo sincrónico e diacrónico", in: Primeiro Simpósio de Filologia Românica (Rio de Janeiro 1958). Anais. Rio de Janeiro 1970, págs. 115-134. Reeditado em Estudos de Dialectologia Portuguesa. Lisboa, Sá da Costa Editora, 1983, págs. 35-54.52) "Nova proposta de classificação dos dialectos galego-portugueses", in: Boletim de Filologia (Lisboa), XXII, (l964-1971), 1971, págs. 81-116 + 2 mapas extrat.) (Sep. Lisboa, 1971, 38 págs. + 2 mapas extrat.). Reeditado em Estudos de Dialectologia Portuguesa. Lisboa, Sá da Costa Editora, 1983, págs. 117-163.53) "Observations sur le ancien texte portugais non littéraire: la Notícia de Torto (Lecture critique, date et lieu de rédaction)", in: XII Congresso Internacional de Linguística e Filologia Românicas (Bucareste, 1968). Actele, II. Bucareste, 1971, págs. 161-174.54) "Nota prévia" a: João de Barros, Gramática da Língua Portuguesa (Cartinha, Gramática, Diálogo em louvor da nossa linguagem e Diálogo da viciosa vergonha). Reprodução facsimilada, leitura, introdução e anotações por Maria Leonor Carvalhão Buescu. Lisboa, Publicações da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1971, págs. V-VII.55) "Tu e Vós, como formas de tratamento de Deus, em orações e na poesia em língua portuguesa", in: Revista da Faculdade de Letras (Lisboa), IIIª série, 13, págs. 145-176. Reeditado em Sobre "Formas de Tratamento" na Língua Portuguesa. Lisboa, Livros Horizontes, 1972, págs. 75-122.56) Sobre as "Formas de Tratamento" na Língua Portuguesa. Lisboa, Livros Horizonte, 1972, 139 págs., 21 edição, 1986.57) "Introdução" a: Cancioneiro Português da Biblioteca Vaticana (Cód. 4803). Reprodução facsimilada . Lisboa, Centro de Estudos Filológicos - Instituto de Alta Cultura, 1973, págs. VII-XVIII.58) "Prefácio" a: A. R. Gonçalves Viana, Estudos de Fonética Portuguesa. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1973, págs. 7-10.59) "Prefácio" a: Crónica Del Rei Dom Joham I de boa memoria e dos Reis de Portugal o décimo. Parte Primeira escrita por Fernão Lopes. Reprodução facsimilada... preparada por Anselmo Braancamp Freire. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (1972), 1973, págs. (7)-(17).60) "Sobre o Códice Alcobacense 290 (antº 316) da Biblioteca Nacional de Lisboa (Autógrafo de Duarte Galvão?)", in: Boletim de Filologia (Lisboa), XXIII, 1974, págs. 255-275 (Sep. Lisboa 1974, 21 págs.).61) "Prefácio" a: Questionário Linguístico, 3 vols.. Publicações do Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza, 2. Lisboa, Instituto de Linguística, 1974, 3 págs.62) (Com Maria da Graça Temudo Barata) "Introdução" a: Bibliografia Dialectal Galego-Portuguesa. Publicações do Atlas Linguístico-Etnográfico, 3. Lisboa, CLUL, 1976, págs. IX-XII.63) "Langue parlée et traditions écrites au moyen-âge (Péninsule Ibérique)", in: XIV Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Napoli, 15 a 20 aprile, 1974). Atti, I. Napoli, 1978, págs. 463-477.64) "Etat présent au Portugal des études sur la littérature potugaise", in: Convegno Letterature Straniere Neolatine e Ricerca Scientifica (Firenze, 18-10 maggio 1978). Sep. Roma 1980, págs. 231-251.65) "Griséu: um moçarabismo algarvio", in: Homenagem a Manuel de Paiva Boléo ( Biblos, LVII), Coimbra , 1981, págs. 65-71.66) "Palavras prévias" a: Revista Lusitana (Lisboa), Nova série, I, 1981, págs. V-VI.67) "Apresentação" do: Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Colocci-Brancuti), cód. 10991, I. Reprodução facsimilada. Lisboa, Biblioteca Nacional-Casa da Moeda, 1982, 3 págs.68) "Présence et problemátique actuelle de la langue portugaise dans le monde", in: Arquivos do Centro Cultural Português (Lisboa-Paris), 19, 1983, págs. 207-223.69) Estudos de Dialectologia Portuguesa. Lisboa, Sá da Costa Editora, 1983, 216 págs.70) "Para a história da linguística na Faculdade de Letras de Lisboa" (entrevista), in: Revista da Faculdade de Letras (Lisboa), nº especial comemorativo do 50º aniversário, 1983, págs. 9-15.71) "Situação actual da língua portuguesa no mundo", in: Palavras (Lisboa), 4/5/6, 1983, págs. 7-17.72) "Carta a Jacinto do Prado Coelho", in: Afecto às letras. Homenagem da literatura portuguesa contemporânea a Jacinto do Prado Coelho. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984, págs. 356-364.73) (Com Celso Cunha) Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1984, XV + 734 págs.74) (Com Celso Cunha) Breve Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1985, IX + 486 págs.75) "Hernâni Cidade, mestre de humanidade e de humanismo", in: Colóquio - Letras (Lisboa), 83, 1985, págs. 71-74.76) "Nota prévia", "Discurso de encerramento" e participação na Mesa redonda, in: Congresso sobre a situação actual da língua portuguesa (Lisboa, 1983). Actas, vol. I. Lisboa, ICALP, 1985, págs. 5-7, 61-66, 526-527.77) "As origens do novo acordo", in: ICALP-Revista (Lisboa), 5, 1986, págs. 49-52.78) Entrevista a: Penélope. Fazer e Desfazer História (Lisboa), 3, 1989, págs. 64-89.79) Crónica Geral de Espanha de 1344. Edição crítica do texto português. Vol. IV. Texto e Nota final, Lisboa (Academia Portuguesa da História e Imprensa Nacional-Casa da Moeda). 1990, XXIX + 553 págs.80) "Sobre o mais antigo texto não-literário português: A Notícia de Torto (leitura crítica, data, lugar de redacção e comentário linguístico", in: Boletim de Filologia (Lisboa), XXXI (l986-87), 1990, págs. 21-77.81) Entrevista a: Opuscula Instituti Ibero-Americani Universitatis Helsingiensis (Hensínquia), II, 1990, págs. 5-16.82) "Evocation (de Ruy Belo)", in: Arquivos do Centro Cultural Português (Lisboa-Paris), 1990, págs. 57-61 (Sep. Lisboa-Paris, 1990, 5 págs.).83) "Os dialectos da Ilha de Madeira no quadro geral dos dialectos galego-portugueses". Comunicação apresentada ao Congresso de Cultura Madeirense (Funchal, 23-29 de Dezembro de 1990). (Inédito).84) "Dois textos não-literários transmontanos do século XIII (leitura crítica e comentário linguístico)". (Inédito).
(Bibliografia elaborada pelo Centro de Linguística da Universidade de Lisboa - CLUL-INIC)

Luís de Freitas Branco, por Alexandre Delgado
Luís de Freitas Branco
Luís de Freitas Branco (Lisboa 12/10/1890 – Lisboa 27/11/1955) domina o século XX português com a estatura de um colosso, de importância comparável, no domínio da música, a um Fernando Pessoa. Poderosa e multiforme, a sua criação colocou-nos em sintonia com a Europa, em certos casos antecipando-se a ela; veio estabelecer um novo patamar de excelência, tornando-se pedra de toque do reportório português em praticamente todos os domínios.Oriundo de duas das mais antigas famílias aristocráticas do país, que incluem antepassados como Damião de Góis e o Marquês de Pombal, Luís de Freitas Branco foi marcado pela dimensão cultural de seu tio João de Freitas Branco (1855-1910), dramaturgo, ensaísta e crítico, possuidor de uma biblioteca excecional e um tradutor de Ibsen e Oscar Wilde. As principais línguas europeias tornaram-se-lhe familiares desde criança e foi com o tio e com uma precetora irlandesa que Freitas Branco começou os estudos musicais.Caso excecional de precocidade, compôs a primeira obra do seu catálogo aos 13 anos: a canção Aquela moça é premonitória pelo seu fino recorte modal (no modo dórico), que revela a influência de um dos seus principais mestres de composição, o padre Tomás Borba. Outro professor foi Augusto Machado, compositor de óperas de surpreendente qualidade, como Lauriane e La borghesina. Especialmente importantes, contudo, foram as aulas que teve com Désiré Pâque, compositor belga que foi um percursor da atonalidade e que veio para Lisboa em 1906 para ser professor de órgão do príncipe D. Luís.Em 1906, Freiras Branco concluiu a sinfonia dramática Manfred, para solistas, coro e orquestra, inspirada no poema de Byron; obra hiper-romântica e multiforme, que revela fascínio por Schumann, Berlioz e Liszt, com passagens de desconcertante audácia, outras que anunciam a depuração modal de obras da maturidade. É a primeira temática “fáustica” das muitas que perseguirá na juventude. Dessa obra que nunca chegou a ouvir, extraiu em 1907 o cintilante Scherzo fantastique.Nesse ano e nos dois seguintes, terminou três poemas sinfónicos inspirados em escritores portugueses. Antero de Quental é o primeiro exemplo da profunda empatia que Luís de Freitas Branco sentiu pelo genial poeta e filósofo Embora não se saiba a que texto exato se refere, esta obra corresponde a uma fase de pessimismo schopenaueriano, num clima pós-wagneriano que mostra um apetrecho técnico quase inacreditável num compositor de 17 anos. O poema sinfónico Depois de uma leitura de Júlio Diniz nunca foi executado e desconhece-se o paradeiro da partitura. Mas Depois de uma leitura de Guerra Junqueiro concluido em outubro de 1909, é uma demonstração precoce da capacidade histriónica, quase mimética de Luís de Freitas Branco, numa réplica portentosa aos poemas sinfónicos de Richard Strauss, de caráter burlesco e sardónico.Em 1908 Freitas Branco concorreu com a 1.ª Sonata para violino e piano a um importante concurso de composição promovido pela Sociedade de Música de Câmara, (criada pelo dinâmico grupo de Michel’angelo Lambertini e da revista Arte Musical). Não foi pacífica a atribuição do 1.º prémio, pois a maioria do juri — presidido por Viana da Mota, cujo voto prevaleceu — queria dar primazia a obras de total academismo e mediocridade. A 1.ª Sonata mostra a influencia de César Franck, nomeadamente na sua conceção cíclica, dado fundamental que se manterá ao longo de toda a carreira de Freitas Branco. Mostra também um desempoeiramento harmónico que, não sendo especialmente arrevezado para a época, escandalizou o júri. Causou especial choque o facto de a obra acabar numa tonalidade diferente daquela em que começava, um exemplo de tonalidade evolutiva, de que Mahler dava então os primeiros exemplos.1909 é o ano de um espantoso mergulho no universo simbolista, com cinco canções baseadas em sonetos de Baudelaire, incluindo a célebre Trilogia La Mort. Num universo voluptuoso, descendente do decadentismo, nunca o reportório português conhecera tal simbiose entre poesia e música. No mesmo ano (1909) compôs Duas melodias para orquestra de cordas, inspiradas em Grieg e com uma sumptuosa riqueza polifónica.
Luís de Freitas Branco. Reguengos, 1910.
No início de 1910 Luís de Freitas Branco partiu para Berlim com o tio, para estudar composição com Humperdinck; mas o conservadorismo da Hochschule não estava de acordo com o seu temperamento e acabou por ser mais marcante o facto de assistir a Pélléas et Mélisande de Debussy, revelação que, segundo o próprio, mudou o curso da sua carreira. No mesmo ano, escreveu o poema sinfónico Paraísos artificiais, obra que marca a introdução do modernismo na música orquestral portuguesa, na linha impressionista, tendo causado escândalo na sua estreia em Lisboa, em 1913. Inspirada nos prazeres e nas torturas do ópio, descritos na novela «Confissões de um opiómano» do inglês Thomas de Quincey (cuja tradução de Baudelaire tem o título «Les Paradis Artificiels»), é uma obra cuja sumptuosidade sensual atinge o clímax nas cascatas de sons da secção central, próximas do nascer do sol de Daphnis e Chloé de Ravel – cuja estreia, há que frisar, só se deu em 1912. Na secção final, correspondente às “torturas do ópio”, há uma desfiguração extremamente dissonante dos temas, com passagens politonais que escandalizaram o público e a crítica.No ano seguinte, Freitas Branco contactou pessoalmente com Debussy em Paris e estudou a estética impressionista com Gabriel Grovlez. Então compôs o Quarteto de Cordas, que flutua entre coordenadas impressionistas, simbolistas e quase expressionistas, numa construção profundamente original que usa temas como antevisões e como reminiscências, com um uso livre e voluptuoso da dissonância. De regresso a Lisboa, o compositor escreveu a cantata Tentações de São Frei Gil, outra obra na linha simbolista-impressionista, cuja partitura veio a destruir; tendo conservado apenas Três Fragmentos sinfónicos.Entre 1910 e 1911 Freitas Branco introduz a estética impressionista no reportório português para piano, com Mirages, uma tendência que culminaria nos Dez Prelúdios dedicados a Viana da Mota, escritos entre 1914 e 1918.A estadia nos grandes centros europeus, num dos períodos mais efervescentes da história das artes, trouxe frutos notáveis. De 1913 datam os Dois Sonetos de Mallarmé, formas abertas, totalmente livres, em que o material musical evolui continuamente, sem reexposições. a atonalidade é alcançada pela sobreposição sistemática de agregados tonais antagónicos; a função do acorde perfeito é subvertida. O resultado não é a politonalidade mas sim a anulação do sistema tonal pelos seus próprios meios, num percurso inteiramente diferente de Schönberg mas que também conduz ao atonalismo. Este é correspondido na pintura pelo abstracionismo; e Amadeo de Souza Cardoso desenhava quase na mesma altura os primeiros quadros não figurativos, tornando-se a pouca distância de Kandinsky um dos primeiros pintores abstratos europeus.Em 1914 Freitas Brancos concluiu uma das obras mais vanguardistas da sua época: o poema sinfónico Vathek, baseado na novela homónima de William Beckford (1786). O califa Vathek é outro personagem fáustico que não hesita em cometer as maiores crueldades para ir além dos limites que o Criador impôs ao conhecimento humano, tendo mandado construir cinco palácios colossais dedicados à total satisfação de cada um dos cinco sentidos. São esses palácios que descreve cada uma das variações deste poema sinfónico sobre um tema musical árabe.Recorde-se que o exacerbamento das sensações e a osmose de sentidos foram atributos por excelência do decadentismo e do simbolismo; Mallarmé escreveu, fascinado, um prefácio para Vathek. Tais atributos foram retomados pelo 1.º modernismo português: o sensacionismo teorizado por Fernando Pessoa diz que «a única realidade em arte é a consciência da sensação» e, na poesia e prosa de Mário de Sá Carneiro, levou a reinventar a linguagem, revelando forças insuspeitadas da sintaxe e da adjetivação. É interessante como Luís de Freitas Branco optou literariamente por temas próprios do sensacionismo: depois dos prazeres do ópio de Thomas de Quincey, os cinco palácios dos sentidos do califa Vathek de Beckford. É do ímpeto descritivo desse exacerbamente dos sentidos que brotam algumas das experiências musicais mais ousadas das primeiras décadas do século. É o caso de um acorde que sobrepõe os doze sons da escala cromática (no Prólogo) e sobretudo de um exemplo de micropolifonia a 59 partes reais (na célebre 3.ª Variação) que antecipa experiências que Ligeti ou Xenákis só fariam nos anos 60.Paulo Ferreira de Castro descreveu a produção pantagruélica do jovem Freitas Branco como «extraordinária manifestação de criatividade, praticamente sem paralelo na história da música portuguesa», considerando-a «de certo modo comparável à efervescência “modernista” sua contemporânea na literatura e nas artes plásticas portuguesas». A verdade é que não houve contacto ou simpatia entre Freitas Branco e o grupo de Orpheu – o que torna ainda mais surpreendente o facto de o compositor ter abarcado tendências próximas das sucessivas correntes lançadas por Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. O mais espantoso é que essas tendências tenham sido cultivadas em simultâneo – ou até com alguma antecipação por parte da música, já que a revista Orpheu, epicentro do escândalo modernista nas letras e nas artes, data de 1915.Porém, a sintonia com o modernismo é apenas um dos aspetos do fenómeno Freitas Branco; uma das suas «imagens», ela própria desdobrada em muitas outras. Se a sua importância é fulcral – sobretudo num país cronicamente desfasado em relação ao exterior –, serviu durante demasiado tempo para desvalorizar toda a produção que não encaixava no paradigma evolucionista da vanguarda, que atingiu o auge ideológico nos anos 60. A verdade é que Freitas Branco sempre vibrou em direções múltiplas e opostas, num desdobramento que lembra a heteronímia de Fernando Pessoa. O mesmo adolescente hiperculto que descrevia os efeitos do ópio ou as transgressões do califa Vathek, compunha em 1912 peças religiosas destinadas ao culto católico. O esteta hipercosmopolita, que vibrou em Paris com as estreias de Petruchka e de Le martyre de Saint Sébastien, ingressava pouco depois nas fileiras ultranacionalistas do «Integralismo Lusitano», de que o poema sinfónico Viriato (1917) é um empolgante (e wagneriano) reflexo musical. O autor de tantos poemas sinfónicos escrevia ao mesmo tempo exemplos lapidares de música pura como a Sonata para Violoncelo e Piano (1913) ou o Concerto para Violino e Orquestra (1916), uma das suas obras mais beethovenianas.A tendência para um «novo classicismo» veio a traduzir-se, a partir dos anos 20, na rejeição do «ópio impressionista» e no culto da objetividade racional e da clareza formal, que Freitas Branco associava ao espírito latino e de que as quatro sinfonias são as traves mestras. A 1.ª sinfonia surgiu depois de um certo interregno na atividade de Luís de Freitas Branco como compositor, em virtude do cargo de diretor do Conservatório Nacional que ocupou entre 1919 e 1924. Esse foi o período em que operou com Viana da Mota a histórica reforma daquela instituição (neutralizada pelo Estado Novo nos anos 30), que englobou medidas como a adoção exclusiva do solfejo entoado, a criação de cadeiras de cultura geral e a inclusão da classe de Ciências Musicais, dividida em Acústica, História da Música e Estética Musical, que o próprio Freitas Branco passou a lecionar e à qual dedicou obras teóricas, entre elas um Tratado de Harmonia. Incluiem-se entre os seus discípulos António Fragoso, Armando José Fernandes, Fernando Lopes-Graça e especialmente Joly Braga Santos.
Luís de Freitas Branco. Reguengos, entre 1920-25
As quatro sinfonias, escritas entre 1924 e 1952, fazem a conjugação de um neoclassicismo beethoveniano com coordenadas do modernismo e são parte fulcral da plena maturidade de Freitas Branco. Nenhum compositor exerceu tanto fascínio sobre Luís de Freitas Branco como Beethoven, ao qual dedicou dois livros publicados na Biblioteca Cosmos. Tal devoção pelo mestre de Bona é atípica num período histórico em que o culto beethoveniano foi ostensivamente posto em causa pelas vanguardas musicais.Nas quatro sinfonias, a conceção cíclica é herdada via César Franck, mas o combate dialético entre forças antagónicas espelha aquilo que Freitas Branco encarava como a maior conquista de Beethoven: a conceção bitemática, germe de todas as lutas num mundo em perpétuo devir. É disso exemplo o contraste entre os dois temas da raiz cíclica, na 1.ª sinfonia: a um uníssono de violoncelos e contrabaixos “contaminado” de atonalidade, responde o segundo motivo, um lamento descendente dos violinos cujo cromatismo tem um remate modal e conciliador.A 2.ª Sinfonia, de 1927, utiliza um tema gregoriano como motivo cíclico. A singeleza com que Freitas Branco harmoniza esse tema (um Tantum ergo no modo protus plagal) é inesperada num compositor que foi protagonista do mais ousado modernismo e tem um recolhimento que evoca o dos religiosos, mais distante do que nunca da frenética vida moderna.Em 1928, a 2.ª Sonata para Violino e Piano surge como uma partitura-chave na definição de um novo tipo de diatonismo, assente num modalismo depurado e em sobreposições geométricas.Esta nova fase da obra de Freitas Branco está em sintonia com a sua redescoberta dos polifonistas portugueses da Renascença: foi logo em 1921 Luís de Freitas Branco fez em Paris, no Congresso de História da Arte, uma conferência dedicada aos contrapontistas da Escola de Évora. Num artigo que assinou em 1930 – ano em que fez renascer a revista Arte Musical, como diretor – encontramos definida a opção não apenas pela sinfonia, mas também pelo madrigal. Foi precisamente nesse ano que Freitas Branco compôs o primeiro dos Dez Madrigais Camonianos para vozes mistas, uma das suas criações supremas, concluída em 1943. No fim dessa década escreveria dois conjuntos equivalentes para coros de vozes iguais, perfazendo um total de 28 trechos a cappella em que a poesia de Camões surge iluminada pelo mais puro estilo madrigalesco, numa subtil conjugação de modalismo e cromatismo que terá chamado a atenção de Manuel de Falla.Paradoxal é o interesse pela música religiosa por parte de alguém que não se revia na igreja católica, mas que manteve sempre um elo com esta, também por via de sua irmã Maria Cândida, Abadessa de um convento de Carmelitas Descalças (a quem é dedicada a 2.ª Sinfonia. Na sequência das peças religiosas dos anos 10, o canto gregoriano não apenas serviu de inspiração à 2.ª e à 4.ª sinfonias, como está na base dessa tão desconhecida e bela Noemi, Cantata Bíblica (1939), cuja limpidez ancestral encontrou modelos em Bach e em Händel.A inspiração em Antero de Quental – um dos três poetas a quem, segundo Fernando Pessoa «legitimamente compete a designação de mestres»,– serviu de base desde 1932 a um conjunto de obras para voz e piano que é um capítulo fulcral da produção do autor. Depois de Hino à Razão, os Três Sonetos de Antero, escritos entre 1934 e 1941, oferecem a face mais intimista de um universo que atinge cumes metafísicos no ciclo A Ideia, concluído em 1943 e uma das criações mais modernas e profundas de Luís de Freitas Branco, um raro e extraordinário exemplo de transposição musical de conceitos filosóficos. A costela anteriana do compositor teria um epílogo grandioso com um derradeiro (quase mahleriano) regresso ao poema sinfónico, Solemnia Verba (1951).A 3.ª Sinfonia, concluida em 1944, pode ser designada como uma “sinfonia da guerra”. Nuno Barreiros considerava-a a obra mais “experimental” do compositor, exemplo da sua incessante curiosidade e necessidade de renovação. Se já nas duas sinfonias anteriores havia traços modernistas não associáveis ao neoclassicismo, na 3.ª Sinfonia há um recrudescimento dessa tendência. Por vias muito diversas da escola dodecafónica, Luís de Freitas Branco chega a roçar a atonalidade. No geral, e no contexto de uma linguagem essencialmente modal, cultiva um tipo de dissonância por vezes extremo, que não obscurece o discurso e é vigorosamente original. A cada passo sente-se que o compositor está em busca de um novo estilo.Na 3.ª Sinfonia encontramos um percurso entre as trevas e a luz: citando Hanns Eisler, João de Freitas Branco (filho do compositor) sugere o mote per aspera ad astra — «através da noite, rumo à luz». Tal como Eisler, Luís de Freitas Branco evoluiu no sentido de uma arte dirigida não apenas a uma elite mas a todos os homens. Atraído pelas ideias de António Sérgio e Bento de Jesus Caraça, sem abdicar da sua idiossincrasia monárquica, Freitas Branco sentiu-se cada vez mais solidário com os oprimidos.A vertente folclorista é um caso especial na obra de Freitas Branco. Este detestava a palavra “folclore” e foi o seu amor ao Alentejo que inspirou as suas grandes incursões sinfónicas nessa área que são as Suites Alentejanas, a 1.ª escrita ainda em 1919, na década “modernista”. Pioneiro no interesse pelas canções populares de cunho modal, Freitas Branco lançou nas duas suites (a 2.ª é de 1927) um modelo que seria explorado – e banalizado – pelo Estado Novo. Já em pleno contexto da ditadura, harmonizou em 1943 dezenas de canções populares para voz e piano e para coro, sobretudo do Alentejo, mostrando enorme versatilidade, por vezes com um travo semelhante ao que Fernando Lopes-Graça explorava na mesma época. Na versão para voz e orquestra, oito dessas canções atingem uma qualidade comovente, entre os melhores exemplos do folclorismo português do século XX.Desconcertante é o facto de Freitas Branco ter pontualmente aceite escrever música para o regime de Salazar que tanto desprezava. O exemplo mais paradigmático é a Abertura Solene «1640», destinada às comemorações do duplo centenário da fundação e da restauração nacional. Noutros casos, é simplesmente uma cor da época, a começar por um inesperado flirt com a música ligeira no filme Gado Bravo de António Lopes Ribeiro, terceiro filme sonoro português (1934). Depois de Douro, Faina fluvial de Manuel de Oliveira, também de 1934, a colaboração cinematográfica de LFB culminaria na ambição wagneriana de Frei Luís de Sousa (1950), uma das melhores partituras do cinema português.Nesse mesmo ano, o compositor escrevia duas Canções Revolucionárias de conteúdo claramente subversivo, sobre poemas de Fernando Mouga e José Gomes Ferreira, em tudo aparentadas com as célebres Canções Heróicas de Fernando Lopes-Graça.A multiplicidade e a impossibilidade de catalogação são parte intrínseca do fenómeno Luís de Freitas Branco. No fundo, estamos a falar de muitos compositores dentro de um só, unidos por uma personalidade fascinante e centrifugadora. Contudo, a suprema síntese encontramo-la talvez na 4.ª sinfonia, concluida em 1952, obra-prima da maturidade de Luís de Freitas Branco, na qual o compositor fez a síntese das pulsões aparentemente inconciliáveis que percorreram toda a sua carreira. O modernista e o neoclássico, o racionalista e o romântico, o monárquico e socialista que nele existiam conseguem na 4.ª Sinfonia a coabitação perfeita. Usando de novo um tema gregoriano como raiz cíclica, a obra abarca inclusivamente o folclore, num scherzo de sabor expressionista. No fim do último andamento, o tema gregoriano tem um regresso triunfante em si bemol maior. Esse ponto de partida distante permite ao compositor fazer uma magistral demonstração daquilo a que chamava a aplicação das leis físicas da música: a tónica será atingida através de uma encandeante sucessão de tonalidades maiores, tal como no ciclo A Ideia. A impressão é de quem vai abrindo sucessivas janelas, percorrendo o universo até atingir o esplendor máximo, num gesto grande e generoso dirigido a toda a humanidade.Em 1951, Freitas Branco começou a trabalhar numa ópera inspirada na luta de classes, A Voz da Terra. Desse projeto, em que trabalhava quando faleceu em 1955, chegou a escrever uma quantidade apreciável da música do 1.º Ato, reveladora de uma romântica aproximação musical ao “homem comum” e ao universo dos neorrealistas.Paradoxalmente, a envergadura intelectual de Luís de Freitas Branco contribuiu para desviar as atenções da sua música. A incessante atividade como teórico, musicólogo, pedagogo, conferencista e divulgador, destinada a arrancar-nos de um atraso de décadas e a contribuir para a elevação intelectual e espiritual de músicos e leigos, obnubilou uma elite pouco versada na arte dos sons e uma classe musical tendente a desvalorizar compatriotas. Para lá de muitos livros que publicou, o seu trabalho como escritor e crítico musical inclui milhares de páginas que, a par do Diário (ainda inédito), espelham uma das inteligências mais cultas e brilhantes da sua época.OBRA MUSICAL DE LUÍS DE FREITAS BRANCO(POR GÉNEROS)Orquestra SinfónicaScherzo fantastique (1907)Antero de Quental, poema sinfónico (1907)Depois de uma Leitura de Júlio Diniz, poema sinfónico (1908) [não localizado]Depois de uma leitura de Guerra Junqueiro [Fantasia], poema sinfónico (1909)Paraísos Artificiais, poema sinfónico (1910)Três Fragmentos sinfónicos das «Tentações de São Frei Gil» (1911-12)Vathek, poema sinfónico (1913-14)Viriato, poema sinfónico (1916)1.ª Suite Alentejana (1919)1.ª Sinfonia em fá maior (1924)2.ª Sinfonia em si bemol menor (1926-27)2.ª Suite Alentejana (1927)Abertura Solene «1640» (1939)3.ª Sinfonia em mi menor (1930-44)Homenagem a Chopin (Peça em Forma de Polaca) (1949) [não localizada]Solemnia Verba, poema sinfónico (1950-51)4.ª Sinfonia em ré maior (1944-52)Instrumento Solista e OrquestraCena Lírica para violoncelo e orquestra (1916)Concerto para Violino e Orquestra (1916)Balada para piano e orquestra (1917)Variações e Fuga Tríplice Sobre um Tema Original para orquestra de cordas e órgão (1946-47) Voz Solista e Orquestra
Aquela Moça para soprano ou tenor e orquestra (1904 – data da orq.?)Soneto de Camões / A Formosura desta Fresca Serra para soprano e orquestra (1907 – orq. 1935)Canção Portuguesa / Canção do Ribatejo para soprano ou tenor e orquestra (1907 – orq. 1929)Canto do Mar para soprano ou tenor e orquestra (1918)Commiato / Despedida, cena dramática para barítono (ou baixo) e orquestra (1920 – orq. 1949)Oito Canções Populares Portuguesas para soprano e orquestra (1943 – orq. 1951) Música Coral-SinfónicaManfred, Sinfonia Dramática para Solos,Coro e Orquestra (1905-6)[Oratória «Tentações de São Frei Gil» para solistas, coro e orquestra (1911/12) - destruída]Canto do Natal (canção ribatejana para coro e orquestra (s/d)
Noemi, cantata bíblica para solos, coro, orquestra e órgão (1937-39)
Orquestra de CordasA Morte de Manfred para instrumentos de cordas (1906)Duas melodias para orquestra de cordas (1909)Lento [do Quarteto de Cordas de 1911, versão para orquestra de cordas]Tentação da Morte das «Tentações de São Frei Gil» (1911-12) [ver Três Fragmentos sinfónicos das «Tentações de São Frei Gil»]Variações e Fuga Tríplice Sobre um Tema Original para orquestra de cordas (1946-47) [versão sem órgão] Música de CâmaraA Morte de Manfred para instrumentos de cordas (sexteto de 2 violinos, violeta, 2 violoncelos e contrabaixo) (1906)Marcha Comemorativa para violino, violoncelo e piano (1908)Trio para violino, violoncelo e piano (1908)1.ª Sonata para Violino e Piano (1908)Prelúdio e Fuga para violino solo (1910) [não localizado]Prélude para violino e piano (1910)Quarteto de Cordas (1911)Sonata para Violoncelo e Piano (1913)Tema e Variações para três harpas e quarteto de cordas (s/d – 1920/21?)2.ª Sonata para Violino e Piano (1928) Voz e PianoAquela Moça (poema de Augusto de Lima) (1904)Contrastes (poema de João de Vasconcelos e Sá) (1904)A Formosura desta Fresca Serra para voz e piano (soneto de Camões) (1907)Canção Portuguesa / Canção do Ribatejo (versos populares) (1907)Nachtschwalbe (poema de Hermann Hango) (1908)Liebestraum (poema de E. Krohn) (1908)Calme-toi (poema do compositor) (1909)Dernier voeu (versos de Théophile Gautier) (1909)Trilogia «La mort» (poemas de Charles Baudelaire) (1909)Recueillement / Recolhimento (poema de Charles Baudelaire) (1909)Élévation / Elevação (poema de Charles Baudelaire) (1909)O Suspiro (letra de Píndaro Diniz) (1909)La glèbe s’amollit (poema de Jean Moréas) (1911)A Elegia das Grades (versos de Mário Beirão) (1911) [in Quatro Melodias]Ciclo Maeterlinckiano (poemas de Maurice Maeterlinck) (1913)Dois Poemas de Mallarmé (1913)O Motivo da Planície (versos de António Sardinha) (1915) [in Quatro Melodias]Minuete (versos de António Sardinha) (1915) [in Quatro Melodias]Soneto dos Repuxos (versos de António Sardinha) (1915)O Culto Divinal Se Celebrava / Soneto (soneto de Camões) (1916) [in Quatro Melodias]Exercício de Solfejo para voz e piano (1919)Frivolidade (Um simples lenço de seda) (versos de Silva Teles) (1920)Duas Poesias de Lorenzo Stecchetti (1920)A Lágrima (versos de Augusto Gil) (1922)Hino à Razão (soneto de Antero de Quental) (1932)Melodia / A Lilial Virgem Maria (poema de Eugénio de Castro) (1938)Três Sonetos de Antero (A Sulamita, 1934; Idílio; 1937; Sonho Oriental, 1941)A Ideia. Ciclo Anteriano (1937-1943)27 Harmonizações de Canções Populares Portuguesas (1943)Cá nesta Babilónia (soneto de Camões) (1951) PianoAlbumblätter (1907)Minuetto all’antica (1907)Arabesques (1908)Valsa (1908)Prelúdio e Fuga para piano ou órgão (1908)Romança sem Palavras (1908)Nocturne (s/d – 1908?)Impromptu (s/d, 1908?)Prélude (1909)Poésie de Charles Baudelaire (1909) [versão para piano solo da melodia La mort des amants]Mirages (1910-11)Luar (1916)Três Peças para Piano: Capricietto, Prelúdio e Rêverie (1916)Dez Prelúdios (dedicados a Viana da Mota) (1914-18)Duas Danças (1917)Sonatina [Peça para Crianças] (1922-23)Quatro Prelúdios (dedicados a Isabel Manso) (1940) Órgão, HarmónioSuite ancienne para órgão (1908)Prelúdio e Fuga para piano ou órgão (1908)Chant religieux portugais para harmónio [ou órgão] (1913)Ária para harmónio [ou órgão] (1913)Coral para órgão (1913)Música de cena para a peça Octávio de Vitoriano Braga para órgão ou harmónio (1916)Rapsódia Portuguesa para órgão (1938) Música Sacra para Vozes e Órgão
Sub tuum presidium a duas vozes a cappella (1912)Tota pulchra es a uma voz e órgão (1912)Veni Sancte a uma voz e órgão (1912)O Salutaris a uma voz e órgão / para quatro vozes mistas a cappella (1912)Tantum ergo a três vozes (com órgão ad libitum) (1912)Responsórios do Espírito Santo a três vozes e órgão (1914)Bendito a uma voz e órgão (s/d)Te Deum para vozes e órgão (1915) [não localizado]Veni Sancte a duas vozes e órgão (1915)O Gloriosa a uma voz e órgão (1916)Hino a Santa Teresinha para coro a uma voz e órgão (1925) Coro Misto a cappellaModinha (versos de João de Deus) (1937)Dez Madrigais Camonianos (1930-1935-1943)6 Harmonizações de Canções Populares Portuguesas (1943)Canção da Pedra [Pedra Informe] (1950) Coro Feminino a cappella / com pianoCanção das Maçadeiras, harmonização de canção popular para solo vocal, coro feminino e piano (1943)Nossa Senhora, harmonização de canção popular para solo vocal, coro feminino e piano (1943)Dança Pastoril para coro feminino a cappella (1948)Dez Madrigais Camonianos [Redondilhas] para coro feminino a cappella (1943/49) Coro Masculino a cappella / com pianoLembras-me para coro masculino a cappella (versos de João de Deus) (1931)Marcha Militar para coro masculino a cappella (poesia de Carlos Queirós) (1935)Eu hei-de ir, harmonização de canção popular para tenor solo, coro masculino e piano (1943)Canção do Pastor para tenor solo e coro masculino (versos do compositor) (1948)Dez Madrigais Camonianos para coro masculino a cappella (1943/49)Duas Canções ao Gosto Popular [Duas Danções Revolucionárias] para solo vocal, coro masculino e piano (1950) Música para CinemaGado Bravo de António Lopes Ribeiro (1934)Douro, Faina Fluvial de Manuel de Oliveira (1934)Vendaval Maravilhoso de Leitão de Barros (1949)Frei Luís de Sousa de António Lopes Ribeiro (1950)Algarve d’Além-Mar de António Lopes Ribeiro (1952) Música de CenaMúsica de cena para a peça Octávio de Vitoriano Braga, para órgão ou harmónio (1916)Música de Cena para o Auto da Primavera de Alfredo de Freitas Branco, para vozes e piano ou órgão (s/d – publ. 1919)Canção para o Auto da Índia de Gil Vicente, para voz feminina (1938) OBRA LITERÁRIA DE LUÍS DE FREITAS BRANCO Esta lista inclui apenas as obras de Freitas Branco que foram publicadas em livro ou brochura. Não abarca as largas centenas de artigos e críticas que o compositor escreveu durante quase cinco décadas em jornais, revistas de música e outras publicações periódicas; tão-pouco inclui os textos de centenas de palestras radiofónicas, conferências, comunicações, notas de programa e outros trabalhos. A estes trabalhos acrescentam-se A Vida e a Obra de Ricardo Wagner, extensa biografia publicada em folhetins na Arte Musical nos anos 30 e 40, e o Diário inédito (1930-1952).«Música e Instrumentos» in A Questão Ibérica, [publicação do] «Integralismo Lusitano», Lisboa, Tipografia do Anuário Comercial, 1916, p. 119-143.«Les contrepointistes de l’école d’Évora» in Actes du Congrès d’Histoire de l’Art, Vol. III, Paris, Les presses universitaires de France, 1924, p. 846-852.Elementos de Ciências Musicais [Acústica – História da Música – Estética Musical], 1.ª edição: Lisboa, Sassetti, 1923, 234 p.. 2.ª edição: idem, s/d, 3.ª edição: edição do autor, 1.º vol. Acústica, 72 p., 2.º vol. História da Música, 128 p., s/d.A Música em Portugal, [brochura da] «Exposição Portuguesa em Sevilha», Lisboa, Imprensa Nacional de Lisboa, 1929, 26 p.Tratado de Harmonia, 1.ª edição: Lisboa, Sassetti, s/d [1942?], 164 p.. 2.ª edição: idem, 1947, 176 p.História Popular da Música, col. Biblioteca Cosmos (2.ª secção – Artes e Letras – n.os 6 e 7), n.os 34-35, Lisboa, Cosmos, Março de 1943, 294 p.A Vida de Beethoven, col. Biblioteca Cosmos (5.ª secção – Biografias – n.o 4), n.o 50, Lisboa, Cosmos, Novembro de 1943, 294 p.A Personalidade de Beethoven, col. Biblioteca Cosmos (5.ª secção – Biografias – n.o 5), n.o 124, Lisboa, Cosmos, Julho de 1947, 100 p. «A Música Teatral Portuguesa» in A Evolução e o Espírito do Teatro em Portugal – 2.º Ciclo das Conferências Promovidas pelo “Século”, Lisboa, O Século, 1947, p. 99-124.Das Ideias sobre a Música em Portugal, separata de Vértice – Revista de Cultura e Arte, Lisboa, [Dezembro de 1951?], 14 p.A Música e a Casa de Bragança, Lisboa, Fundação da Casa de Bragança, 1953, 30 p.«Viana da Mota, Director de Orquestra» in Viana da Mota – In Memoriam (coord. de Oliva Guerra), Lisboa, s/e, Junho de 1952, p. 61-72.D. João IV, Músico, Fundação da Casa de Bragança, Lisboa, Novembro de 1956, 258 p.BIBLIOGRAFIA sobre Luís de Freitas BrancoCATÁLOGOS E BROCHURASBARREIROS, Nuno, DELGADO, Alexandre, Modernidade e Tradição – Ciclo Luís de Freitas Branco, (brochura do ciclo comemorativo do centenário do nascimento do compositor), Lisboa, RDP – Antena 2, 1990, 28 p.BRANCO, João de Freitas, Luís de Freitas Branco (catálogo da exposição comemorativa do 20.º aniversário da morte do compositor), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, 80 p.«II Ciclo de Cultura Musical dedicado a Luís de Freitas Branco no décimo aniversário da sua morte» (brochura), Lisboa, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (Secção Cultural), Março de 1965, 20 p.«Exposição de Homenagem a Luís de Freitas Branco» (catálogo), Câmara Municipal de Loures, Outubro de 1991, 16 p.«Luís de Freitas Branco no 1.º centenário do seu nascimento», catálogo da exposição promovida pela Comissão Permanente do Dia Mundial da Música, Museu da Guarda, Outubro de 1990, 21 p. LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROSBRANCO, João de Freitas, HILL, Ralph, Sinfonia, capítulo 24 («Luís de Freitas Branco, 1890-1955»), Lisboa, Editora Ulisseia, 1960, p. 472-491.BRANCO, João de Freitas, Alguns Aspectos da Música Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Edições Ática, 1960, 148 p.BRANCO, João Maria de Freitas, Luís de Freitas Branco – O Músico-Filósofo, Lisboa, Juventude Musical Portuguesa, Dezembro de 2005, 64 p.DELGADO, Alexandre, A Sinfonia em Portugal, capítulo 4, («Luís de Freitas Branco 1890-1955»), Lisboa, Caminho, 2002, p. 89-177.DELGADO, Alexandre, TELLES, Ana, BETTENCOURT MENDES, Nuno, Luís de Freitas Branco, Lisboa, Caminho / Teatro Nacional de São Carlos, no prelo, 500 p.PINTO (SACAVÉM), Alfredo, Horas d’Arte (Palestras sobre Música), Lisboa, Livraria Ferin, 1913, p. 83-92. ARTIGOS E TEXTOS DIVERSOSARROIO, António, «O Concurso de Música de Câmara e a sua significação artística» in Arte Musical, ano XI, n.º 265, Lisboa, 31/12/1909, p. 295-304.ATALAIA, José, «Notas à Margem» in 30 Anos de Cultura Portuguesa – Festival de Música, Lisboa, Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo, Emissora Nacional, Junho-Julho de 1956, 100 p.ATALAIA, José, «Assim conheci Luís de Freitas Branco» in Labirintos da Música – crónicas de intervenção e aplauso, Porto, Edições Caixotim, 2001, p. 25-27.ÁVILA, Humberto d’, «Luís de Freitas Branco recordado num concerto de obras suas» in A Esfera n.º 17, Lisboa, Janeiro de 1965, p. 4.AZEVEDO, João M. B. de, «Homenagem a Luís de Freitas Branco» in Gazeta Musical, XXIV, série IV, n.º 245, Lisboa, Academia de Amadores de Música, Dezembro de 1990, p. 3.BARREIROS, Nuno, «Situação da música portuguesa no começo da I Guerra Mundial» in O Comércio do Porto, 11/5/1954, p. 5-6.BARREIROS, Nuno, «Estudo sobre os Dez Madrigais Camonianos de Luís de Freitas Branco» [oito capítulos] in Gazeta Musical Anos I, n.os 10 e 11, Ano II, n.os 13-14, 16, 18, 19 e 20, Lisboa, Academia de Amadores de Música, Julho de 1951 – Maio de 1952.BASTOS, João Pereira, «Luís de Freitas Branco: Discografia» in Gazeta Musical, XXIV, série IV, n.º 245, Lisboa, Academia de Amadores de Música, Dezembro de 1990, p. 26-29.BASTOS, João Pereira, «Uma Grande Personalidade: Luís de Freitas Branco, Compositor e Pedagogo» in Reflexo – Semanário de Reflexão e Reparo, n.º 17, 13/3/1975, p. 35-36.BRANCO, João de Freitas, «Mensagem de Luís de Freitas Branco» in Europa – Jornal de Cultura, n.os 2 e 3, Lisboa, Fevereiro e Março de 1957, p. 8-10 e p. 5.BRANCO, João de Freitas, «Luís de Freitas Branco – aspectos menos conhecidos duma mentalidade e duma evolução» in Colóquio Artes, n.º 23, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Junho de 1975, p. 42-53. BRANCO, João de Freitas, «Luís de Freitas Branco e a sua imagem actual» in O Diário, Suplemento Cultural, 11/3/1984, p. 3.BRANCO, João de Freitas, «A informação musical e a actualidade de Luís de Freitas Branco» in O Século, suplemento especial do 93.º aniversário, 1974, p. 6.BRANCO, João de Freitas, «De Fernando Pessoa a Luís de Freitas Branco» in A Esfera n.º 42, Lisboa, Abril de 1967, p. 3.BRANCO, João de Freitas, [«Luís de Freitas Branco»] texto incluído nos programas da «Homenagem à Memória de Luís de Freitas Branco», Círculo de Cultura Musical, Lisboa, 21, 22 e 24/5/1956 (5 p.).BRANCO, João de Freitas, [«Luís de Freitas Branco»], notas de programa da «Homenagem à Memória de Luís de Freitas Branco» (três concertos) promovida pelo Círculo de Cultura Musical, 21, 22 e 24/5/1956, 5 p.BRANCO, João Maria de Freitas, «Aspectos da relação intelectual do músico Luís de Freitas Branco com o filósofo António Sérgio» in Vértice, n.º 51, Novembro-Dezembro de 1992, p. 83-88.BRANCO, João Maria de Freitas, «A paradoxalidade eclética de um músico intelectual» in Cistermúsica – XIII Festival de Música de Alcobaça, Academia de Música de Alcobaça, Maio de 2005.CÂMARA, José Bettencourt da, «Emergência da modernidade na música portuguesa da primeira metade do século XX» in Colóquio Artes n.º 100, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Março de 1994, p. 61.CARDOSO, J. M. Pedrosa, «Da inspiração gregoriana em Luís de Freitas Branco» in Gazeta Musical, ano XXIV, série IV, n.º 245, Lisboa, Academia de Amadores de Música, Dezembro de 1990, p. 14-22.CARVALHO, Mário Vieira de, «Luís de Freitas Branco, um percurso inquieto de artista e pensador» in O Diário, Suplemento Cultural, 8/12/1985, p. 6-7.CARVALHO, Mário Vieira de, «Snobismo e confrontação ideológica na cultura musical» in Reis, António (dir.), Portugal Contemporâneo, vol. III, p. 297-310.DELGADO, Alexandre, «Luís de Freitas Branco e o 1.º modernismo português» in Gazeta Musical, XXIV, série IV, n.º 245, Lisboa, Academia de Amadores de Música, Dezembro de 1990, p. 11-13 (reeditado em versão revista in Annualia Verbo 2005-6, Verbo, Lisboa, 2005, p. 272-6).DELGADO, Alexandre, «Luís de Freitas Branco e a Emissora Nacional» in Boletim da Associação de Reformados da Rádio, n.º 39, Lisboa, RDP, Dez. 2005.FERNANDES, Cristina (coord.), «Luís de Freitas Branco: descobrir a obra completa» in Público, suplemento Mil Folhas, Lisboa, 1/10/2005, p. 1, 5-8.FERRÃO JÚNIOR, António, «Recordando a figura do compositor e musicólogo Luís de Freitas Branco» in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, 29/11/1961.FIGUEIREDO, Graciela, «Cultura e Civilizações. O Modo como a arte muscal reflectiu os ideais da nação na viragem do século XX. Luís de Freitas Branco, compositor, pioneiro do modernismo e do tradicionalismo musical português (1890-1955)», doc. dact. in., Universidade de Aveiro, 2004, 20 p.FREITAS, Maria Helena, «Alguns aspectos da personalidade de Luís de Freitas Branco» in Gazeta Musical, XXIV, série IV, n.º 245, Lisboa, Academia de Amadores de Música, Dezembro de 1990, p. 4-6.FREITAS, Maria Helena, «Luís de Freitas Branco» in O Diário, Suplemento Cultural, 14/10/1984, p. 6-7.FREITAS, Maria Helena, «No 5.º aniversário da morte de Luís de Freitas Branco – alguns aspectos menos conhecidos da personalidade do artista» in Diário de Lisboa, 27/11/1960, p. 19.FREITAS, Maria Helena, «Recordando Luís de Freitas Branco» in Diário de Lisboa, 12/10/1960, p. 2.GONÇALVES, Maria Augusta, «Luís de Freitas Branco (1890-1955) – Sentir tudo de todas as maneiras» in Jornal de Letras, ano XXV, n.º 913, Lisboa, 28/9/2005, p. 6-8.LATINO, Adriana, «Luís de Freitas Branco» in Boletim da Associação Portuguesa de Educação Musical, n.º 64, Lisboa, Janeiro/Março de 1990, p. 3-5.LATINO, Adriana, «Luís de Freitas Branco (já) em Disco» in O Diário, Suplemento Cultural, 29/8/1987, p. 6-10.LEAL, Sousa, «Schumann – Algumas palavras apenas…» in Arte Musical Ano XIV, n.º 332, Lisboa, 15/10/1912, p. 182-185.LEÇA, Carlos de Pontes, A Música em Portugal nos Anos 40, catálogo do ciclo de concertos de música de câmara por ocasião da exposição «Os Anos 40 na Arte Portuguesa», Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Abril de 1982, 42 p.LEÇA, Carlos de Pontes, «Luís de Freitas Branco Compositor de Música para Cinema» in Arte Musical, IV série, n.º 10-11, Lisboa, Juventude Musical Portuguesa, Janeiro-Junho 1998.LOPES-GRAÇA, Fernando, «Luís de Freitas Branco» in Gazeta Musical, Ano VI, n.º 64, Lisboa, Academia de Amadores de Música, Janeiro de 1956, p. 177-178.LOPES-GRAÇA, Fernando, «Luís de Freitas Branco» in Gazeta Musical, XXIV, série IV, n.º 245, Lisboa, Academia de Amadores de Música, Dezembro de 1990, p. 2.LOPES-GRAÇA, Fernando, «Luís de Freitas Branco e o Início do Modernismo Musical Português» in O Comércio do Porto, 11/5/1954 (in A Música Portuguesa e os seus Problemas II, Lisboa, Editorial Caminho, 1989, p. 81-83.)PAIS, João, «A Poesia Francesa na Obra de Luís de Freitas Branco» in Gazeta Musical, XXIV, série IV, n.º 245, Lisboa, Academia de Amadores de Música, Dezembro de 1990, p. 7-10.PAIS, João, «Recordações de 50 Anos de Música em Portugal» in Portugal nas Artes, nas Letras e nas Ideias 1945-95, Lisboa, Centro Nacional de Cultura, 1998, p. 89-90.PAIS, João, «Recordações do Tio Luís» in VIII Festival Internacional de Órgão de Lisboa, Lisboa, Juventude Musical Portuguesa, 2005, p. 6-7.PEREIRA, Ana, «Luís de Freitas Branco e o Modernismo Musical Português» (Prova de Aptidão Profissional), Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, 2003, 90 p.PORTUGAL, José Blanc de, «Música Portuguesa Contemporânea» in Atlântico, n.º 3, SPN, Lisboa, 1943, p. 183-191.RODRIGUES, José Júlio, «A Aurora de um Compositor» in Serões, Revista Mensal Ilustrada, n.º 71, Lisboa, Maio de 1911, p. 340-352.SANTOS, Joly Braga, «Luís de Freitas Branco – Compositor» in Arte Musical, Ano XXVIII, n.º 10, Lisboa, Juventude Musical Portuguesa, Abril de 1960, p. 297-301.SANTOS, Joly Braga, «Luís de Freitas Branco et Les paradis artifiels» in Jeunesses Musicales, n.º 4, 1968.SANTOS, Joly Braga, «Luís de Freitas Branco – o compositor e a sua mensagem renovadora» in Colóquio Artes, n.º 23, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Junho de 1975, p. 54-56.SANTOS, Joly Braga, «Recordando Luís de Freitas Branco – a propósito do 5.º aniversário da sua morte» in Távola Redonda, Lisboa, Março de 1962, p. 5 e 12.SANTOS, Joly Braga, «D. João IV, Músico, um livro póstumo de Luís de Freitas Branco» in Panorama, Revista Portuguesa de Arte e Turismo, n.º 30, IV série, Lisboa, Junho de 1969, p. 31-39.TELLES, Ana, «Luís de Freitas Branco compositeur portugais (1890-1955)», Mémoire de D.E.A., Université de Paris IV Sorbonne, Junho 2003, 76 p. ENTREVISTAS sobre Luís de Freitas BrancoBRANCO, João de Freitas, «Luís de Freitas Branco, Meu Pai», entrevista realizada por Paulo David, in Diário de Lisboa, 1/8/1989, p. 12-14.BRANCO, João Maria de, «Revelações de um Pensador», entrevista realizada por M. H., in Jornal de Letras, ano XXV, n.º 913, Lisboa, 28/9/2005, p. 12.FREITAS, Maria Helena de, «Luís de Freitas Branco – o homem e a sua obra», entrevista com realizada por J. Coutinho, in A Voz de Paço de Arcos, n.os 13-14, 2.ª série, 1993, p. 28-33.LOPES-GRAÇA, Fernando, «Luís de Freitas Branco – Retrato Falado», in Contraponto, n.º 3, Lisboa, Juventude Musical Portuguesa, 1990, p. 2-3. MENÇÕES EM LIVROS DE HISTÓRIA DA MÚSICABRANCO, João de Freitas, História da Música Portuguesa, 3.ª ed., Mem Martins, Publicações Europa-América, col. «Biblioteca da História», 1995, p. 297-298.BRITO, Manuel Carlos de e CYMBRON, Luísa, História da Música Portuguesa, Lisboa, Universidade Aberta, 1992, p. 162-164.NERY, Rui Vieira e CASTRO, Paulo Ferreira de, História da Música, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, col. «Sínteses da Cultura Portuguesa» 1991, p. 159-162. OBRAS DE CONSULTAANGLÉS, Higino, Dicionário de la Música Labor, Barcelona-Madrid, Labor, 1954.BERTINO, Daciano, Primeiro Esboço duma Bibliografia Musical Portuguesa, Porto, Imprensa Portuguesa, 1947, p. 72.BORBA, Tomás, LOPES-GRAÇA, Fernando, Dicionário da Música, 2.ª edição, vol. I, Lisboa, Mário Figueirinhas, 1996, p. 552-554.CANDÉ, Roland de, Dictionnaire des Musiciens, Paris, Microcosme: Éditions du Seuil, 1964.HONEGGER, Marc, Dictionnaire de la Musique, Paris, Bordas, 1979.Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, vol. IV, Bärenreiter, Vverlag Kassel und Basel, 1955, p. 910.Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, PICOTO, J. Carlos, vol. VIII, Lisboa, Verbo, 1969.Everyman’s Dictionary of Music (BLOM, Eric), Londres, Dent, 1946.Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XI, Lisboa, Editorial Enciclopédia, Lda / Livraria Bertrand, 1944, p. 850-1.Grove’s Dictionary of Music and Musicians (ed. Eric Bloom), 5.ª ed., Londres, Macmillan, 1954, vol. III, p. 491.The New Grove Dictionary of Music and Musicians (ed. SADIE, Stanley, TYRRELL, John), 2.ª ed., Londres, Macmillan Publishers, 2001, vol. IV, p. 234-235. ENTRADAS EM GUIAS DE REPERTÓRIOFernandez, Claude, «Luís de Freitas Branco» in Les oeuvres pour piano et orchestre, Paris, Champion/Slatkine, 1988, p. 212.Hinson, Maurice, «Luís de Freitas Branco» in Guide to the Pianist’s Repertoire, 3.ª Ed., Bloomington, Indiana University Press, 2000, p. 316. DISCOGRAFIA ORQUESTRAAntero de Quental, 1.ª SinfoniaOrquestra Filarmónica de Budapeste, András Kórodi (dir.), 1987, Portugalsom, SP 4314. Paraísos Artificiais, 3.ª Sinfonia, Solemnia VerbaOrquestra Filarmónica de Budapeste, Gyula Németh (dir.), 1990, Portugalsom, SP 4165. Paraísos Artificiais (+ Ernesto Halffter: Rapsódia Portuguesa, etc.)Orquestra Sinfónica Nacional, Pedro de Freitas Branco (dir.), 1996, Portugalsom, SP 4115 (Pedro de Freitas Branco Edition, vol. 11). Três Fragmentos das «Tentações de São Frei Gil», Concerto para Violino e Orquestra Orquestra Sinfónica da RDP, Silva Pereira (dir.), Vasco barbosa (vl.), 1995, Portugalsom, SP 4045. Concerto para Violino e Orquestra (+ Braga Santos: Encruzilhada, 1.º Divertimento)Orquesta de Extremadura, Jesús Amigo (dir.), Alexandre da Costa (vl.), 2005, Disques XXI, XXI-CD 2 1521. Vathek, 2.ª Suite AlentejanaOrquestra Filarmónica de Budapeste, András Kórodi (dir.), 1988, Portugalsom, SP 4130. 1.ª Suite Alentejana, 2.ª SinfoniaOrquestra Sinfónica do Estado Húngaro [1.ª Suite], Orquestra Filarmónica de Budapeste, Gyula Németh (dir.), 1991, Portugalsom, SP 4073. 1.ª Suite Alentejana, 1.ª SinfoniaRussian Philarmonic Orchestra, Álvaro Cassuto (dir.), Marco Polo (a sair). 4.ª SinfoniaOrquestra Filarmónica de Budapeste, János Sandor (dir.), Portugalsom, CD 870018/PS 4.ª SinfoniaOrquestra Sinfónica Nacional, Pedro de Freitas Branco (dir.), Portugalsom, SP 4073 (Pedro de Freitas Branco Edition, vol. 7). MÚSICA DE CÂMARA
1.ª Sonata para Violino e Piano, 2.ª Sonata para Violino e PianoTibor Varga (vl.), Roberto Szidon (pn.), 1995, Portugalsom, SP 4045.Quarteto de Cordas, Sonata para Violoncelo e PianoQuarteto Takács, Miklós Perényi (vc.), Jenö Jandô (pn.), 1988, Portugalsom, CD 870007/PS.Sonata para Violoncelo e Piano (+ Dez Madrigais Camonianos para coro misto)Irene Lima (vc.), João Paulo Santos (pn.), 1991, EMI-Valentim de Carvalho, 754496 2.Quarteto de Cordas (in Música Portuguesa para Quarteto de Cordas)Quarteto Lacerda, 2006, Dargil/Diálogos, DI 00004 2.VOZ E PIANOAquela Moça, Minuete [in Evocação]Filomena Amaro (sop.), Gabriela Canavilhas (pn.), 1995, Movieplay MP Classics 3-11040.Aquela Moça, Contrastes [in Canções de Amor]Ileana Cotrubas (sop.), Adriano Jordão (pn.), 1995, edição exclusiva do Montepio Geral.Trilogia «La mort», Ciclo Maeterlinckiano, Ciclo «A Ideia»José Oliveira Lopes (bar.), Noel Lee (pn.), 1997, Portugalsom, SP 4132.Ciclo Maeterlinckiano, Duas Poesias de Lorenzo Stecchetti (in A Canção Portuguesa)Carlos Guilherme (ten.), Armando Vidal (pn.), 1996, Numérica, NUM 1076.Três Sonetos de Antero (in Depois de Tordesilhas)Elsa Saque (sop.), Nuno Vieira de Almeida (pn.), 1994, Numérica, NUM1030.PIANOMirages, SonatinaNella Maissa, 1994, JorSom, J-CD 0105.SonatinaMaria Fernanda Wanderschneider, 1995, Numérica, NUM 22.Dez Prelúdios dedicados a Viana da Mota, Quatro Prelúdios dedicados a Isabel Manso, Prelúdio dedicado a António Arroio.Tatiana Pavlova, 1995, Numérica, Num 1032.Dez Prelúdios dedicados a Viana da Mota, Quatro Prelúdios dedicados a Isabel Manso,António Rosado, 2006, Numérica, NUM 1143.CORODez Madrigais Camonianos para coro misto (+ Sonata para Violoncelo e Piano)Elementos do Coro do Teatro Nacional de São Carlos, João Paulo Santos (dir.), 1991, EMI-Valentim de Carvalho, 754496 2.Madrigais Camonianos, excerto (in Música Coral Portuguesa do Século XX):Se me desta terra for e Verdes são as hortas (coro masculino); Falso cavaleiro ingrato e A dor que a minha alma sente (coro feminino); Pois meus olhos (coro misto).Coro de Câmara de Lisboa, Teresita Gutierrez Marques (dir.), 1999, Numérica, NUM 1083.

Manuel Viegas Guerreiro, por João David Pinto Correia
O Prof. Doutor Manuel Viegas Guerreiro nasceu em Querença, concelho de Loulé, em 1 de novembro de 1912. Aprovado no Curso Geral dos Liceus, com dezasseis valores, e no Curso Complementar, com dezassete, veio a licenciar-se, em 1936, em Filologia Clássica, na Faculdade de Letras de Lisboa, com dezasseis valores. Foi aprovado no Exame de Estado para professor do 1º. grupo de disciplinas liceais, com dezasseis valores. Foi professor agregado dos liceus em 1939, professor auxiliar em 1940, e professor efetivo no Liceu de Lamego, em 1940.Entre 1940 e 1941, foi equiparado a bolseiro para auxiliar o Doutor Leite de Vasconcellos, na sua atividade literária. A ajuda prolongou-se por seis anos, tendo ajudado o Mestre Leite "em tudo o que pôde", para utilizar palavras do próprio. Entre 1941 e 1944, é professor efetivo do Colégio Militar e também do Colégio Infante de Sagres, em Lisboa. Foi sucessivamente professor efetivo no Liceu de Faro (1945-1953), com passagem pelo Liceu Diogo Cão, em Sá da Bandeira (1948-1950), e ainda no Liceu de Oeiras (1953-1970).De 1955 a 1970, foi bolseiro no País, a fim de ordenar e publicar os manuscritos de Leite de Vasconcellos, sobretudo da Etnografia Portuguesa, em 10 volumes (1948-1989), a partir do 4º. volume.Doutorou-se em Etnologia na Universidade de Lisboa, em 1969, com a classificação de 19 valores. Em novembro de 1970, concluiu as provas do concurso para provimento de uma vaga de professor extraordinário de Etnologia e, em outubro de 1971, de professor catedrático, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi também investigador do Centro de Estudos Geográficos a funcionar na mesma Faculdade de Letras de Lisboa. Aposentado em setembro de 1982, faleceu em Carnaxide, em 1 de maio de 1997.Durante a sua vida de universitário, foi encarregado de várias missões no País e no Estrangeiro. Foi membro de várias instituições, entre as quais a Associação Brasileira de Folclore (desde 1967) e da Academia das Ciências de Lisboa (cadeira nº 27).A vasta atividade do Prof. Viegas Guerreiro inclui inúmeras iniciativas, como, por exemplo, a criação dos Estudos Gerais Livres e do Centro de Tradições Populares Portuguesas, a Revista Lusitana - Nova Série, e ainda a organização de dois colóquios realizados com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian sobre "Literatura Popular / Oral / Tradicional" (Paris, 1986, e Lisboa, 1987).Nas suas publicações, distinguem-se alguns importantes vetores. Em primeiro lugar, temos as obras com preocupação pedagógico-didática: Da Indispensabilidade do Latim na Leitura dos Nossos Clássicos, Lisboa, 1963; A Nossa Pátria, seleta de Português para o 1º. ciclo liceal (livro único entre 1961 e 1965); "Introdução" a Cultura e Anafalbetismo, de F. Adolfo Coelho, Lisboa, 1984; a comunicação "A educação de adultos em comunidades rurais. Actividades comunitárias", Braga, 1978.Na área principal da sua formação, a Etnografia e a Antropologia, publicou - para além da Etnografia Portuguesa, que é, como atrás fica dito, em parte escrita por ele, a partir dos apontamentos de Leite de Vasconcellos, de quem também reeditou com uma apresentação desenvolvida Tradições Populares de Portugal - o volume Sabedoria, Linguagem, Literatura e Jogos, de 1966, que faz parte da obra coletiva Os Macondes de Moçambique, e ainda Bochimanes !khu de Angola, de 1968, e também Pitões das Júnias. Esboço de Monografia Etnográfica, de 1981, e, em colaboração com Diogo de Abreu e Francisco Melo Ferreira, Unhais da Serra. Notas Geográficas, Históricas e Etnográficas, de 1982. Saliente-se a edição póstuma da obra Povo, Povos e Culturas (Portugal, Angola e Moçambique), de 1997, na qual se coligem artigos e colaborações diversas.Mencione-se, em terceiro lugar, o interesse por aspetos particulares da História, Literatura, Geografia perspetivados antropologicamente: artigos sobre "Judeus", "Mouros" e "José Leite de Vasconcellos" no Dicionário da História de Portugal, dirigido por Joel Serrão; a "Introdução" à Carta de Achamento do Brasil de Pero Vaz de Caminha, de 1974; A Carta de Pero Vaz de Caminha lida por um Etnógrafo, de 1985; "Gil Vicente e os motivos populares: um conto na Farsa de Inês Pereira", RL-NS, nº. 2, 1981, pp. 31-60; Frei João de S. José e a sua Corografia do Reino do Algarve (1577), de 1980; Temas de Antropologia em Oliveira Martins, de 1986; Colombo e Portugal, de 1994.Um domínio foi particularmente caro ao Prof. Viegas Guerreiro: a "Literatura Popular". Recolector incansável, enriqueceu, com as versões que recolheu por todo o Portugal e também no Brasil, volumes como os do Romanceiro Popular Português, de Maria Aliete Galhoz, de 1987 e 1988, e ainda as suas antologias Contos Populares Portugueses, de 1956, e Adivinhas Portuguesas, de 1957. Escreveu duas obras imprescindíveis de iniciação e história neste campo: Guia de Recolha da Literatura Popular, de 1976 (2ª. ed., 1982) e, sobretudo, Para a História da Literatura Popular Portuguesa, de 1978.As qualidades de homem e académico tornaram Viegas Guerreiro uma personalidade singular que muito marcou os seus alunos e colaboradores.Para informação mais completa: João David Pinto-Correia, "Evocação Afectiva de um Mestre e Amigo: o Prof. Doutor Manuel Viegas Guerreiro", Revista Lusitana - Nova Série, nº. 12, 1994, pp. 83-94; e Maria Lucinda Fonseca e Francisco Melo Ferreira, Manuel Viegas Guerreiro - Mestre da Sabedoria do Mundo, Centro de Tradições Populares Portuguesas e Instituto de Cultura Ibero-Atlântica, Lisboa, 1997.

Maria de Lourdes Belchior, por Maria Idalina Resina Rodrigue
Em algumas das suas últimas intervenções (Doutoramentos Honoris Causa na Universidade do Porto, em 1996, e na Universidade Nova de Lisboa, em 1998), embora com a inevitável modéstia, de si própria esboçou Maria de Lourdes Belchior um retrato em que alunos e colegas sem dificuldade a reconhecem. Falou da sua paixão pelo ensino, do seu entendimento das aulas como espaço de convívio e aprendizado mútuo, do seu ofício de intérprete dos textos literários, enquanto cruzamento da história e da estética, da certeza tranquila de que se ensina tanto dentro como fora da escola; não se esqueceu da gratidão aos mestres e aos companheiros que a ajudaram a formar, não se esqueceu de referenciar as suas andanças pelo mundo fora, nem o modo como sempre as conciliou com o apego à Faculdade de Letras de Lisboa.Complementando, com um breve comentário, as suas palavras, poderemos dela afirmar que teve da cultura um conceito simultaneamente amplo e rigoroso, da Universidade uma noção de que pode e deve abrir-se ao exterior, da vida em geral uma visão humanista cristã que se adivinhava nas aulas, no entusiasmo da comunicação, na disponibilidade para servir.Maria de Lourdes Belchior licenciou-se em 1946 com uma dissertação intitulada Da Poesia de Frei Agostinho da Cruz - Tentativa de Análise Estilística e, depois de uma curta passagem pela Escola Veiga Beirão, foi contratada como Segundo Assistente, em 1947, pela Faculdade onde estudara, a de Letras da Universidade de Lisboa, aí prestando provas de Doutoramento, em 1953, após uma estadia como leitora do Instituto Católico de Paris (1950-1952), com uma tese sobre Frei António das Chagas - Um Homem e um Estilo do Século XVII; em 1959 obteve o título de Professora Extraordinária, por concurso em que se apresentou com um trabalho sobre o Itinerário Poético de Rodrigues Lobo; entretanto, e dum ponto de vista da lecionação, ocupara-se já de várias disciplinas no âmbito da Filologia Românica, entre as quais foram recorrentes a Literatura Portuguesa II (classicismo e barroco), a Literatura Espanhola e a Cultura Portuguesa.Entre 1963 e 1966, desempenhou funções de Conselheiro Cultural na Embaixada de Portugal no Brasil, país que percorreu largamente, efetuando conferências e orientando debates sobre questões da sua especialidade; entre 1966 e 1970, regressada a Portugal, foi Conselheira para a Direção do Instituto de Alta Cultura, tendo, em 1969, concorrido a vaga de Professora Catedrática na Universidade do Porto onde, durante um ano, assegurou a cadeira de Literatura Portuguesa I (Idade Média), na Faculdade de Letras, assim iniciando uma colaboração que se ampliaria com o apoio ao Centro Inter-Universitário de História da Espiritualidade ali sediado.De novo em Lisboa, foi, entre 1970 e 1973, Presidente do Instituto de Alta Cultura e, em seguida, membro do Conselho Fundador da Universidade Nova; entre maio e dezembro de 1974, assumiu o cargo de Secretária de Estado da Cultura e Investigação Científica mas, rapidamente desobrigada, por sua iniciativa, de cargos políticos, veio a ser, em maio de 1975, cofundadora do Semanário Nova Terra, assinando, como Diretora, grande parte dos editoriais.
O ano letivo de 1976-1977, passá-lo-ia como Professora Associada na Sorbonne e, a partir de 1978, iniciaria, na Universidade de Santa Bárbara, um longo período de regência de disciplinas na área das literaturas e culturas lusófonas (cerca de dez anos), em boa parte em acumulação com serviço docente semestral na Faculdade de Letras de Lisboa. A partir de 1989 e até 1998, aceitou o lugar de Diretora do Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, que exerceu com extraordinário entusiasmo, promovendo cursos de Português, seminários multidisciplinares, lançamentos de livros, recitais, traduções de autores nacionais.Tanto de um ponto de vista de preferências periodológicas como no que a escolhas de métodos respeita, os três grandes estudos acima indicados, prioritariamente resultantes de exigências da carreira académica, mas justamente acolhidos, ainda hoje, como excelentes e indispensáveis contributos pelos investigadores das letras, sinalizam inequivocamente um percurso que nunca seria abandonado: os séculos XVI e sobretudo XVII (os tempos do barroco) como balizas cronológicas e a estilística como orientação na travessia pelos textos.Se, em seu entender, o arrábido Frei Agostinho da Cruz (1540-1619), quer pelo feixe temático (o remorso do passado, a inquietação no presente, a meditação do Cristo sangrento), quer pelos recursos linguísticos (os paralelismos, os contrastes, os hipérbatos) é já um profeta do barroco, e, se o mesmo se pode dizer de Rodrigues Lobo (1580-1622?), poeta do desengano e discípulo de Góngora, será Frei António das Chagas (1631-1682) quem, para Maria de Lourdes Belchior, na vida (os contrastes, as peripécias, os acidentes) e na obra (as metáforas e imagens, as simetrias e plurimembrações) melhor documenta essa rica e nem sempre bem compreendida fase da nossa vida cultural.O que nos obriga a acrescentar que à autora destes trabalhos se ficou a dever em boa parte a reabilitação de uma época literária que a vizinha Espanha já desde a década de vinte vinha ensaiando e que muitos dos artigos que, em seguida, na mesma linha publicou, claramente mostraram confirmar-se a razão de ser do trilho encetado. Reunidos em 1971, formaram alguns deles o volume a que deu o título de Os Homens e os Livros - Séculos XVI e XVII, a anteceder em nove anos outro volume sobre Os Homens e os Livros II - Séculos XIX e XX.São as duas introduções a estas obras e as reflexões sobre ciência da literatura, incluídas no segundo tomo, fundamentais para bem se compreenderem as certezas e as dúvidas da autora na tentativa de encontro com o objeto literário, muito clara ficando a sua opção, progressivamente pontuada, pela recusa de qualquer caminho que à desumanização das letras pudesse conduzir, embora para as correntes estruturalistas, com os seus inevitáveis excessos de terminologia, fossem endereçados os principais remoques.Paralelamente, no volume de 1981, logo a designação nos lembra que a autora também de escritores modernos se ocupou, aqui revisitando sobretudo a geração de 40, mas sendo também verdade que, com alguma frequência, escreveu sobre poetas e homens que bem conheceu e estimou como Vitorino Nemésio, Sebastião da Gama, Ruy Belo e sobre ensaístas ou romancistas que igualmente de perto contactou como Hernâni Cidade, Prado Coelho, Ruben A..Precisemos ainda que, se no interesse pelo período barroco Maria de Lourdes Belchior inegavelmente desfruta de um certo pioneirismo, está fora de dúvida ter sido ela a grande e convicta pioneira da estilística em Portugal, defendendo e aplicando um tipo de análise imanente (embora situada) da obra literária, afetuosamente olhada como um microcosmos significante, a alertar para uma busca de sentidos recorrentes, a partir da atenção à força contagiante das palavras entre si enredadas. Isto ao longo de todo o seu percurso de estudiosa, embora naturalmente sem rigidez porque, e matizemos as suas censuras ao estruturalismo, nunca recusou beneficiar dos contributos que a muita bibliografia doutrinária, a cada passo, reformulando saberes, lhe ia proporcionando. Modelos, teve alguns, sempre os identificou, mas dois a marcaram de modo especial: Rodrigues Lapa e Dámaso Alonso.Na década de 80, a professora-ensaísta aventurou-se à poesia, e legou-nos uma Gramática do Mundo (1985) e um Cancioneiro para Nossa Senhora - Poemas para uma Via-Sacra (1988), às vezes recuperando, na primeira coletânea, temas e tópicos bíblicos também do agrado do maneirismo e do barroco, mas sempre pessoalizando uma interpelação a Deus quanto ao sentido de um mundo que desejava decifrado sem rejeição, e reservando para o Cancioneiro os versos de louvor e saudação, lamento e súplica a Maria - mediadora, no quadro de uma tradição religiosa portuguesa que o seu saber fazer valorizava sem constrangimentos. Apesar de inegáveis pontos de contacto com alguns poetas da geração de 50, a que, em parte, pertenceu, Maria de Lourdes Belchior nem por isso deixou de estar próxima de autores dos anos 70, um dos quais, aliás, a prefaciou.Era membro da Sociedade Hispânica na América (1970), da Academia Latina (1970) e da Academia das Ciências de Lisboa (1975); foi galardoada com o grau de Comendador da Ordem do Rio Branco (1967), da Ordem de Santiago da Espada (1971) e da Ordem de Mérito da R. F. A. (1973); era Grão Oficial da Ordem da Instrução Pública (1973) e Officier de la Légion d'Honneur de França (1975); foram-lhe concedidos o Prémio Europa da Académie de Marches de I'Est (1996) e a Grã Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (1998).Foram-lhe dedicados os seguintes volumes de estudos: O Amor das Letras e das Gentes. In Honor of Maria de Lourdes Belchior Pontes, edited by João Camilo dos Santos and Frederick G. Williams, Center for Portuguese Studies, University of California, Santa Bárbara, 1995; Românica. Revista de Literatura, 1/2, Lisboa, Cosmos, 1993; Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, XXXVII, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa - Paris, 1998.Bibliografia de Maria de Lourdes Belchior Pontes Elaborada por Ernesto RodriguesUniversidade de Lisboa19461. «Da Mulher (Duas concepções de vida)». Aqui e Além (Lisboa), n.º 4, Abril de 1946: 47-50.2. «Da Poesia de Frei Agostinho da Cruz - Tentativa de Análise Estilística» [Tese dactilografada]. Lisboa: Faculdade de Letras, 1946. 126 p.19503. Bibliografia de António da Fonseca Soares (Frei António das Chagas). Lisboa: Centro de Estudos Filológicos, 1950. 125 p.19514. «As glosas do salmo 136 e a saudade portuguesa». Bulletin of Hispanic Studies (University of Liverpool), vol. XXVIII, n.º 109, Jan.-March, 1951: 42-48.5. «Estilística e ciência da literatura: a propósito do recente livro do Prof. Dámaso Alonso, Poesía Española - ensayo de métodos y limites estilísticos». Revista da Faculdade de Letras (Lisboa), 2.ª série, t. XVII, 1951: 112-127.6. «Helmut Hatzfeld, Two types of mystical poetry illustrated by St. Teresa and St. John of the Cross (vivo sin vivir en mi)», Revista Portuguesa de Filologia (Coimbra), vol. IV, t. II, 1951: 450-456.19527. « Mário Martins, Laudes e Cantigas espirituais de Mestre André Dias». Id., vol. V, 1952: 327-330.19538. «Álvaro Galmés e [y] Diego Catalán, El tema de la boda estorbada. Proceso de tradicionalización de un romance juglaresco». Boletim de Filologia (Lisboa), vol. XIV, fascs. 3 e 4, 1953: 365-372.9. Frei António das Chagas - Um Homem e Um Estilo do Século XVII. Lisboa: Centro de Estudos Filológicos, 1953. XX + 501 p.1954/5510. «Helmut Hatzfeld, A critical Bibliography of the New Stylistics applied to Romance Literatures». Boletim de Filologia, vol. XV, fascs. 1 e 2, 1954/55: 198-201.11. «Pierre Guiraud, La Stylistique». Id., ibid., 202-204.12. «J. Mattoso Câmara Jr., Contribuição à Estilística Portuguesa». Id., ibid., 204-207.13. «António de Melo, Libro de Varios Sonetos, Romances, Cartas y Décimas (con los proverbios de Barros) ». Id., fascs. 3 e 4: 366-367.195514. «Ramón Menéndez-Pidal, Tradicionalidad de las Crónicas generales de España», Revista da Faculdade de Letras, 2.ª série, t. XXI, n.º 1, 1955: 211-215.15. «Claudel e a Poesia Perene». Diário de Notícias [sup. Artes e Letras (Lisboa)], 3-III-1955.195616. «A Ásia Extrema do P. António Gouveia. Relato seiscentista da evangelização da China nos séculos XVI e XVII». Revista da Faculdade de Letras, 2.ª série, t, XXII, n.º 1, 1956: 271-286.17. «Sobre romances e romancistas católicos» [Crónica]. Encontro - Órgão dos Universitários Católicos, ano 1, n.º 2, Fevereiro de 1956.18. «Herculano, Trovador do Exílio». Graal (Lisboa), n.º 1, Abril-Maio de 1956: 66-72.19. «David Mourão-Ferreira, Tempestade de Verão». Id., n.º 2, Junho-Julho de 1956: 210-212.20. «Tempo e Escatologia na Poesia de Afonso Duarte». Diário de Notícias [Sup. Artes e Letras], 21-VI-1956.21. «Um prosador da Idade Barroca: Frei Luís de Sousa, biógrafo de Frei Bartolomeu dos Mártires». Graal, n.º 3, Outubro-Novembro de 1956: 221-231.22. Historiadores do Portugal Antigo. Lisboa: Companhia Nacional de Educação de Adultos, 1956. 164 p.23. «J. Ares Montes, Góngora y la poesia portuguesa del sigio XVII». Boletim de Filologia, vol. XVI, fascs. 1 e 2, 1956: 151-156.195724. «7 parágrafos sobre crítica literária». Rumo (Lisboa), n.º 1, Março de 1957: 89-92.25. José Maria Valverde, História da Literatura Espanhola. Tradução, prefácio e notas de -. Lisboa: Estúdios Cor, 1957.26. «Bibliografia do Prof. Hernâni Cidade». Revista da Faculdade de Letras, 3.ª série, vol. 1, 1957: XXI-XXXV = Miscelânea de Estudos em Honra do Prof. Hernâni Cidade. Publicações da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1957: XXI-XXXV.195827. «Pesadumbre y esperanza in Hijos de la ira». Insula (Madrid), n.º 138/139, Maio-Junho de 1958.28. No Centenário das Aparições de Nossa Senhora de Lourdes [Trad. francesa: A l'Occasion des Apparitions de Notre-Dame de Lourdes]. Braga, 1958, 18 p.195929. «Roteiro de 'Poesia-58'». Colóquio - Revista de Artes e Letras (Lisboa), n.º 3, Maio de 1959: 59-61.30. Itinerário Poético de Rodrigues Lobo. Publicações da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1959. Reedição fac-similada, com novo prefácio, Lisboa IN-CM, 1985. X + 355 p.196031. «Leonardo Mathias, Sonho da Passagem». Colóquio - Revista de Artes e Letras, n.º 7, Fevereiro de 1960: 67.32. « Carta do Brasil ». Id., n.º 10, Outubro de 1960: 41-42.33. «Nótula sobre a lira usada por poetas portugueses dos séculos XVI e XVII». Studia Philologica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso..., I, Madrid: Gredos, 1960: 237-245.34. «Barroco. Na literatura portuguesa». Jacinto do Prado Coelho (dir.), Dicionário das Literaturas Galega, Brasileira e Portuguesa, Porto: Figueirinhas, 1960. 3.ª ed., Dicionário de Literatura, 1.º vol., 1973: 90-93. [O 1.º fascículo desta obra saiu em Agosto de 1956.]35. «Bernardes, P. Manuel». Id., ibid., 98-99.36. «Bíblia. Influência na Literatura Portuguesa». Id., ibid., 99-101.37. «Bibliotecas e Arquivos. Em Portugal». Id., ibid., 105-107.38. «Céu, Soror Maria do (1658-1753)». Id., ibid., 176.39. «Céu, Soror Violante do». Id., ibid., 176.40. «Chagas, Frei António das (1631-1682)». Id., ibid., 176-177.41. «Cruz, Fr. Agostinho da (1544-1619)». Id., ibid., 242-243.42. «Desengano. Na Literatura Portuguesa». Id., ibid., 252-253.43. «Fénix Renascida ou Obras poéticas dos melhores engenhos portugueses». Id., 2.º vol, 329-331.44. «Gouveia, P. António de». Id., ibid., 375.45. «Harpa (A) do Crente». Id., ibid., 385-386.46. «Lobo, Francisco Rodrigues». Id., ibid., 571-572.47. «Melo, D. Francisco Manuel de». Id., ibid., 619-623.48. «Mística, Literatura. Em Portugal». Id., ibid., 645-650.49. «Mitologia. Na Literatura Portuguesa». Id., ibid., 651-653.50. «Monstruosidades do Tempo e da Fortuna». Id., ibid., 663.51. «Noronha, D. Tomás de». Id., 3.º vol., 737.52. «Nova Floresta». Id., 740-741.53. «Postilhão de Apolo». Id., 864-866.54. «A oratória sacra em Portugal no século XVII, segundo o manuscrito 362 da Biblioteca Nacional de Lisboa». Arquivo de Bibliografia Portuguesa (Coimbra), n.º 23/24, Julho-Dezembro de 1960: 107-113.196155. «Evocação de Claudel». Encontro [Jornal de Universitários Católicos (Lisboa)], n.º 33, Março-Abril de 1961.56. Sebastião da Gama: Poesia e Vida. Castelo Branco, 1961. [Conferência proferida no Liceu Nun'Álvares em 26-XI-1960, a convite da Biblioteca Municipal de C. B.]; ver Humboldt (Hamburgo), I, n.º 2, 1961: 47-52; Sebastião da Gama, Campo Aberto, 2.ª ed., Lisboa: Ática, 1962; Livros de Portugal, n.º 98, Fevereiro de 1967: 2-10.57. António Ribeiro Chiado, Prática de Oito Figuras (Edição fac-similada]. Nota preambular de -. Lisboa: O Mundo do Livro, 1961.196258. «Helena Cidade Moura, O Tempo e a Esperança». Colóquio - Revista de Artes e Letras, n.º 19, Julho de 1962: 63-64.59. «Tempo Espanhol [de Murillo Mendes]. Um abecedário poético de Espanha». Jornal de Letras e Artes (Lisboa), n.º 64, 19-XII-1962.60. «'Humanismo'- Nova Dimensão da Poesia? A propósito de Poesia (1925-40) de Vitorino Nemésio». Colóquio - Revista de Artes e Letras, n.º 17, Fevereiro de 1962: 62-64, 71.61. «Frei António das Chagas». Hernâni Cidade (org.), Os Grandes Portugueses, II, Lisboa: Arcádia, s.d. [1962]: 103-108.62. «A poesia neo-realista». Palestra (Lisboa), n.º 14, Abril de 1962: 75-88.63. «Da Estética de Fialho». Costa Barreto (org.), Estrada Larga 3, Porto: Porto Editora, s. d. [1962?]: 184-187.196364. «Um Adeus aos Deuses de Ruben A.» [O Livro da Semana, sup. Artes e Letras]. Diário de Notícias, 25-VII-1963.65. «Poesia portuguesa contemporânea: a 'geração de 40'. I - Novo Cancioneiro e Poesia Nova». Brotéria (Lisboa), vol. LXXVI, n.º 6, Junho de 1963: 649-661.66. «Poesia portuguesa contemporânea: a 'geração de 40'. II - Cadernos de Poesia». Id., vol. LXXVII, n.º 1, Julho de 1963: 23-34.67. «Alarcón (Juan Ruiz de)». Verbo - Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. Lisboa: Editorial Verbo, vol. 1, 1963: 839-840.68. «Alarcón (Pedro Antonio de)». Id., ibid., 840-841.69. «Alas (Leopoldo)». Id., ibid., 844.70. «Alberti (Rafael)». Id., ibid., 874-875.196471. «Do romance espanhol contemporâneo». Romance Contemporâneo, Lisboa: Sociedade Portuguesa de Escritores, 1964: 51-70. [Excerto sob o título «O romance contemporâneo espanhol...» saiu em Vida Literária, n.º 91, suplemento do Diário de Lisboa, 21-IV-1960.]72. «Poesia e mística: Frei Agostinho da Cruz». Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte (Münster Westfalen), 4. Band, 1964: 138-158.73. «Antíteses, oposições e contrastes na poesia de Frei Agostinho da Cruz». Crítica e História Literária [Anais do I Congresso Brasileiro, Univ. do Recife], Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1964: 123-140.196574. «The Literary Baroque in the Iberian Peninsula». Literary History and Literary Criticism, New York University Press, 1965.196675. «Gôngora e os cultos, segundo a retórica conceptista de Francisco Leitão Ferreira Nova Arte de Conceitos». V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros [1963], Actas, vol. III, Coimbra, 1966: 437-448.196776. «O III Congresso Mundial para o Apostolado dos Leigos. Factos e perspectivas». Brotéria, vol. LXXXV, n.º 12, Dezembro de 1967: 702-711.77. «Meditação sobre a cultura». Colóquio - Revista de Artes e Letras, n.º 43, Abril de 1967: 51-53.78. «Fernando Pessoa, Poésie». Id., n.º 44, Junho de 1967: 70.196879. «Basta de Camões!». Id., n.º 47, Fevereiro de 1968: 68-69.80. «Estruturalismo - Um Anti-Humanismo?». Brotéria, vol. LXXXVI, n.º 4, Abril de 1968: 489-499.81. «Crítica Literária e Estruturalismo». Id., n.º 6, Junho de 1968: 790-805.82. «A crise do Ensino Superior: relações com o Ensino Secundário». Análise Social (Lisboa), vol. VI, n.º 20/21, 1968: 147-162.196983. «História literária e história das ideias estéticas -A teorização do barroco na Península Ibérica. Gracián impugnado por F. Leitão Ferreira». Philologische Studien für Joseph M. Piel, Heidelberg: Car Winter Universitatsverlag, 1969: 172-176.84. «A teorização do barroco na península ibérica». Universitas [Revista de Cultura da Universidade Federal da Bahia (Salvador da)], n.º 2, Janeiro-Abril de 1969: 5-11.85. «Túlio Ramires Ferro, Tradição e modernidade em Camilo (A Queda dum Anjo)». Colóquio - Revista de Artes e Letras, n.º 52, Fevereiro de 1969: 82.86. «Isabel de Almeida, Ressurreição do Sal». Id., 82-83.87. «F. Gama Caeiro, Santo António de Lisboa. Vol. I. Introdução ao Estudo da Obra Antoniana». Id., 83.88. Curriculum Vitae. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1969. 18 p.89. «Futurismo» [na História da Lit. Port.]. Verbo - Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 8, 1969: 1840-1841.90. «Gracián y Morales (Baltasar)». Id., vol. 9, 1969: 869.91. «Guillén (Jorge)». Id., ibid., 1325-1326.197092. «Verlaine e o simbolismo em Portugal». Brotéria, vol. XC, n.º 3, Março de 1970: 305-319.93. «Uma tarde em Portalegre» [Crónica em página de homenagem a Régio, sup. Artes e Letras]. Diário de Notícias, 14-V-1970.94. «Nota preliminar». Camilo Castelo Branco, Noites de Lamego, 6.ª ed., Lisboa: Parceria A. M. Pereira, 1970.95. «Requiem para Cecília Meirelles, Manuel Bandeira e outros mais». Sérgio Telles (dir.), Encontro, Lisboa: Centro do Livro Brasileiro, 1970: 169-174.197196. «Poesia e Realidade». Revista da Faculdade de Letras, 3.ª série, n.º 13, 1971: 47-59 = Miscelânea de Estudos em Honra do Prof. Vitorino Nemésio. Publicações da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1971: 47-59.97. Os Homens e os Livros - Séculos XVI e XVII. Lisboa: Editorial Verbo, 1971. 240 p.98. «Conceptismo». Joel Serrão (dir.), Dicionário de História de Portugal, vol. I, Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1971: 654.99. «Cultismo, ou Culteranismo». Id., ibid., 766-767.100. «Filologia e Filólogos». Id., vol. II, 1971: 239-242.101. «Seiscentismo». Id., vol. III, 1971: 827-830.102. «Lobo (Francisco Rodrigues)». Verbo - Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 12, 1971: 400-401.1972103. «Apresentação». Cancioneiro de Luís Franco Corrêa - 1557-1589. Lisboa: Comissão Executiva do IV Centenário da Publicação de Os Lusíadas, 1972.1973104. «Inquérito sobre a Literatura Maior e Literatura Menor» [Resposta de M. de L. B.]. Arnaldo Saraiva, Encontros Des Encontros. Porto: Livraria Paisagem, 1973: 88.105. «Análise vocabular e sentido do homem em Os Lusíadas». Homenaje a Luís de Camoens. Madrid: Real Academia Española, 1973: 17-23.106. «A literatura e a cultura portuguesa na viragem do século XIX para o século XX». Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Série Filologia, vol. I, 1973: 11-30. [A separata traz 1974.]1974107. «Maria de Lourdes Belchior ao 'D. N.': // Estimular sem dirigismos todas as iniciativas válidas // - declaração de princípios da secretária de Estado dos Assuntos Culturais» [Entrevista de Esteves Pereira]. Diário de Notícias, 30-X-1974.1975108. «Homenagem a Hernâni Cidade». Colóquio/Letras (Lisboa), n.º 24, Março de 1975: 11-13.1976109. «A escola privada não pode ser o refúgio da liberdade e do pluralismo pedagógico» [O ensino debatido em mesa-redonda (conclusão), com, ainda, Mário Pinto e Sottomayor Cardia]. A Luta (Lisboa), 22-IV-1976.1977110. «'Ano novo vida nova' significa recomeçar». Nova Terra (Lisboa), 5-1-1977.111. «Direitos! e deveres?». Id., 26-1-1977.112. «Problema de solidariedade e de comunhão». Id., 9-11-1977.113. «A mulher de sempre». Id., 16-11- 1977.114. «Que jornal queremos? Que jornal merecemos?» Id., 23-11-1977. [Com Fernando Cristóvão, director-adjunto deste semanário nascido em 15-V-1975, e de que deixamos os últimos editoriais assinados pela sua directora.]115. «Cultura contemporânea (1927-1971)». Études Portugaises et Brésiliennes, nouvelle série, vol. XIII, Rennes: Université de Haute-Bretagne, 1977: 81-96.116. «Afonso o Africano (poema)». João José Cochofel (dir.), Grande Dicionário da Literatura Portuguesa e de Teoria Literária, vol. I, Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1977: 67.117. «Agudeza». Id., ibid., 86-87.1978118. « Evocação de Vitorino Nemésio». O Jornal (Lisboa), 24-11-1978.119. «Prof. Dr. Hernâni Cidade (1887-1975)». Revista Portuguesa de Filologia, vol. XVII, t. I e II, 1975-1978: 1175-1176.1979120. «Portugal: O Labirinto da Saudade». Revista de História Económica e Social (Lisboa), 4, Julho-Dezembro de 1979: 1-14.121. «O espaço ascético-místico na poesia de Vitorino Nemésio». Brotéria, vol. 108, n.º 2, Fevereiro de 1979: 135-162.1980122. «A História da Inteligência Brasileira de Wilson Martins». Colóquio/Letras, n.º 53, Janeiro de 1980: 59-61.123. «João David Pinto Correia, Luz e Calor do Padre Manuel Bernardes. Estrutura e discurso». Id., ibid., 85-86.124. «Lucília Gonçalves Pires (org.), Imagens da obra do Padre Manuel Bernardes». Id., n.º 55, Maio de 1980: 86-87.125. «A propósito do dia da Igreja diocesana de Lisboa / Uma reflexão necessária». O Jornal, 23-V-1980.126. «Cristo e a poesia portuguesa contemporânea». Reflexão Cristã (Lisboa), n.º 24, Setembro-Outubro de 1980: 11-22.127. «Realidade sócio-cultural». III Congresso Nacional de Religiosos. Fátima, 1980: 63-75.128. Os Homens e os Livros II - Séculos XIX e XX. Lisboa: Editorial Verbo, 1980. 250 p.129. «Da Poesia de Manuel da Fonseca ou a demanda do Paraíso». M. de L. B., Maria Isabel Rocheta, Maria Alzira Seixo, Três Ensaios sobre a Obra de Manuel da Fonseca: A Poesia, O Fogo e as Cinzas, Seara de Vento. Lisboa: Seara Nova/Editorial Comunicação, 1980: 11-49.1981130. «Grave degradação da língua portuguesa» [Entrevista]. Diário de Notícias, 16-II-1981.131. «Os Açores na Poesia de V. Nemésio». Brotéria, vol. 112, n.º 3, Março de 1981: 306-314.132. «Fernando Pessoa e Luís de Camões: heróis e mitos n'Os Lusíadas e na Mensagem». Persona (Porto), n.º 5, Abril de 1981: 3-8.133. «Festa Redonda e Sapateia Açoriana - Testemunhos da Tradição». Revista Lusitana (Lisboa), nova série, n.º 1, 1981: 19-26.134. «O mar na poesia de Jorge de Sena». Harvey L. Sharrer and Frederick G. Williams (eds.), Studies on Jorge de Sena, Santa Barbara: UCSB Jorge de Sena Center and Bandanna Books, 1981: 15-23.135. «O mundo à procura de Ruben A.». In Memoriam Ruben Andresen Leitão, I, Lisboa: IN-CM, 1981: 117-119.1982136. «Sobre o carácter nacional ou para uma 'explicação' de Portugal». Nação e Defesa (Lisboa), n.º 21, Janeiro-Março de 1982: 13-31.137. «Sebastião da Gama - poeta e pedagogo». JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias (Lisboa), n.º 30, 13-IV-1982.138. «Experiência de operário / Karol Wojtyla: operário e intelectual». O País (Lisboa), 13-V-1982.139. «Um santo para os nossos dias: S. Francisco de Assis». Francisco de Assis 1182-1982: testemunhos contemporâneos das letras portuguesas, Lisboa: IN-CM, 1982: 297-301.1983140. «O Dia da Paz». A Capital (Lisboa), 11-II-1983.141. «Fernando Pessoa e o carácter nacional». Id., 18-11-1983.142. «Imagens do Homem português». Id., 25-11-1983.143. «A Castro - Um mito nacional». Id., 4-III-1983.144. «Como subsistir como povo autónomo?». Id., 11-III-1983.145. «Consciência de crise e demanda de identidade». Id., 18-III-1983.146. «25 de Março Festa de Maria». Id., 25-III-1983.147. «A Paixão e a Palavra». Id., 2-IV-1983.148. «Portugal: o Labirinto da Saudade». Id., 8-IV-1983.149. «Repensar Portugal». Id., 15-IV-1983.150. «Cultura Portuguesa nos E.U.A. - I». Id., 29-IV-1983.151. «Cultura Portuguesa nos E.U.A. - II». Id., 6-V-1983.152. «Os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento». Id., 13-V-1983.153. «O Brasil revisitado». Id., 20-V-1983.154. «Raízes profundas da Cultura Brasileira». Id., 27-V-1983.155. «A Literatura Portuguesa no Brasil». Id., 3-VI-1983.156. «Camões e o Brasil». Id., 9-VI-1983.157. «O Brasil visto por Alexandre Herculano». Id., 17-VI-1983.158. « Sobre a situação actual da Língua Portuguesa no Mundo - I». Id., 1-VII-1983.159. «Sobre a situação actual da Língua Portuguesa no Mundo - II». Id., 8-VII-1983.160. «A situação actual da Língua Portuguesa no Mundo - III». Id., 15-VIII-1983.161. «O Anúncio Feito a Maria de Paul Claudel». Id., 22-VII-1983.162. «Em memória de Ruy Belo». Id., 12-VIII-1983.163. «A Obra Poética de Ruy Belo». Id., 19-VIII-1983.164. «Um livro de Jean Giraudoux sobre Portugal». Id., 26-VIII-1983.165. «A solidão de Kafka». Id., 2-IX-1983.166. «Ilhas Desconhecidas - A Ilha de Porto Santo». Id., 9-IX-1983.167. «Lembrança de Ortega em Portugal». JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 59, 24-V-1983.168. «Os Descobrimentos Portugueses: do Império Colonial ao Quinto Império». Id., n.º 60, 7-VI-1983.169. «É preciso despertar o amor pelo Português» [Entrevista de Carlos Oliveira Santos]. Id., n.º 63, 19-VII-1983.170. «Gosto apaixonadamente do meu ofício de professor» [Entrevista]. A Tarde (Lisboa), 21-VII-1983.171. «Problemática religiosa na poesia de Jorge de Sena». Quaderni Portoghesi (Pisa), n.º 13/14, Primavera-Autumno, 1983 [1985]: 53-75.172. «João Palma-Ferreira, Academias Literárias dos Séculos XVII e XVIII». Colóquio/Letras, n.º 73, Maio de 1983: 93-95.173. «Gramática do mundo» [Três poemas]. Id., n.º 75, Setembro de 1983: 69-70.174. «Problemática religiosa na lírica de Camões». Revista da Faculdade de Letras [Cinquentenário da - ], Dezembro de 1983: 85-99. Cf. M. de L. B. and Enrique Martínez-López (eds.), Camoniana Californiana1984175. «Depoimento» [Sobre a Língua Portuguesa no Mundo]. Revista Progresso Social e Democracia (Lisboa), vol. II, n.º 2, Fevereiro de 1984: 28-31.176. «A evolução dos estudos literários na Secção de Filologia Românica da Faculdade de Letras (1890-1980)» [Com Jacinto do Prado Coelho]. Revista da Faculdade de Letras, 5.ª série, n.º 1, Abril de 1984: 15-23.177. «Homenagem a Jacinto do Prado Coelho». Colóquio/Letras, n.º 80, Julho de 1984: 16-18.178. «A educação do sentimento poético ou a utopia da formação do gosto?». Afecto às Letras-Homenagem da Literatura Portuguesa Contemporânea a Jacinto do Prado Coelho. Lisboa: IN-CM, 1984: 499-505.179. «Santa Teresa 'vista' por poetas populares e poetas cultos de expressão portuguesa». Boletim de Filologia [Homenagem a Manuel Rodrigues Lapa, vol. II], tomo XXIX, fascs. 1-4, 1984: 273-279.1985180. «Um perfil / Um testemunho» [Na morte do Padre Manuel Antunes]. Semanário (Lisboa), 26-1-1985.181. «Evocação do Padre Manuel Antunes». Diário Popular (Lisboa), 4-11-1985.182. «Evocação de Jacinto do Prado Coelho». JL -Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 150, 21-V-1985.183. «Nótula sobre o poema XIX de Alberto Caeiro e a problemática da heteronímia». Colóquio/Letras, n.º 88, Novembro de 1985: 61-65.184. «Os clássicos redivivos» [Dossier «O prazer dos clássicos», com apresentação de M. de L. B.]. JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 178, 3-XII- 1985.185. «Ode Marítima: a 'construção' do poema». Persona, n.º 11/12, Dezembro de 1985: 6-13.186. [Portugal - Spiritualité] «B. 16e-18e siècles» [Com José Adriano de Carvalho]. Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique, fascs. LXXX-LXXXI-LXXXII, Paris: Beauchesne, 1985: 1958-1973.187. Ciência e Poesia. Lisboa: Universidade Nova/Faculdade de Ciências e Tecnologia, 1985. 23 p.188. Gramática do Mundo. Posfácio de Joaquim Manuel Magalhães. Lisboa: IN-CM, 1985. 125 p.189. «Documentação e informação sobre a língua portuguesa: intercâmbio» [Mesa-redonda moderada por M. de L. B.]. Congresso sobre a Situação Actual da Língua Portuguesa no Mundo [Lisboa, 1983], Actas, I, Lisboa: ICALP, 1985-1987: 491-528.1986190. «Dr. Jacinto do Prado Coelho (1920-1984)». Revista Portuguesa de Filologia, vol. XVIII, 1980-1986: 1186-1190.191. «Itinerário poético de Sophia». Colóquio/Letras, n.º 89, Janeiro de 1986: 36-42.192. «Lourdes Belchior: 'A poesia, a vida e a fé'» [Entrevista de João Gonçalves]. Semanário, 8-11-1986.193. «Em memória de Ducla Soares». O Médico (Porto), ano 37, vol. 114, n.º 1782, 27-III-1986.194. «Para uma reflexão sobre as comemorações do cinquentenário da morte de Fernando Pessoa» [Com Fernando J. B. Martinho]. Revista da Faculdade de Letras, 5.ª série, n.º 5, Abril de 1986: 7-21.195. «Três antologias da poesia de Jorge de Sena». Colóquio/Letras, n.º 91, Maio de 1986: 59-63.196. «Marinhas», «Sodoma e Gomorra», «Exercício de linguística». Reflexão Cristã, n.º 50, Julho-Setembro de 1986: 44-47. [Três poemas precedidos de «Maria de Lourdes Belchior. Uma experiência de Deus», por José Leitão, 42-43.]197. O Brasil visto por Herculano. Sep. das Comemorações do Dia da Comunidade Luso-Brasileira. Ponte de Lima, 1986 = «Alexandre Herculano e o Brasil». Luís Forjaz Trigueiros, Lélia Parreira Duarte (orgs.), Temas Portugueses e Brasileiros. Lisboa: ICALP, 1992: 357-366.1987198. «As grandes linhas de uma Obra» [No centenário de Hernâni Cidade]. Colóquio/Letras, n.º 96, Março-Abril de 1987: 10-14.199. «José Bento, Antologia da Poesia Espanhola Contemporânea». Id., ibid., 113-114.200. «Uma leitura do Diário» [Homenagem a Miguel Torga]. Colóquio/Letras, n.º 98, Julho-Agosto de 1987: 22-24.1988201. «Tempo e eternidade na poesia de Vitorino Nemésio». Arquipélago (Univ. dos Açores, Ponta Delgada), vol. X, 1988: 27-39.202. «Prefácio». Thomé Pinheiro da Veiga (Turpin), Fastigimia. Lisboa: IN-CM, 1988: 7-19.203. Cancioneiro para Nossa Senhora - Poemas para Uma Via-Sacra, s.l., 1988. 68 p.1989204. «Ai do escritor que só é adulado» [Declaração como jurada do Prémio Camões]. JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 361, 6-VI-1989.205. «Maria de Lourdes Belchior, a palavra de Portugal na Europa» [Entrevista de Custódia Domingues]. Id., n.º 364, 27-VI-1989.206. «Jorge de Sena em Santa Bárbara». Nova Renascença (Porto), vol. VIII, n.º 32/33, Outono de 1988-Inverno de 1989: 351-353.1990207. «Nos vinte e cinco anos do Centre Culturel Portugais». Arquivos do Centro Cultural Português (Paris-Lisboa), vol. XXVII, 1990: XI-XVI.208. «Homenagem a Fernando Namora»; «Evocação de Ruy Belo»; «António Ramos Rosa - Prémio Fernando Pessoa» [Três brevíssimas apresentações]. Id., vol. XXVIII, 1990: 5-6; 55-56; 85-86.209. «Apresentação». Paul -Teyssier, Etudes de Littérature et de Linguistique. Paris: Centro Cultural Português, 1990: IX-XI.210. «Postfácio». Merícia de Lemos, 12 Poemas. Lisboa: IN-CM, 1990: 43-47.211. «Deus e deuses na poesia de Fernando Pessoa e heterónimos». Actas do IV Congresso Internacional de Estudos Pessoanos (Secção Brasileira). Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 1990: 11, 147-159.1991212. «Memórias do Brasil, dos EUA e de França». JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 461, 7-V-1991.213. «Há ainda muito a fazer pela Cultura Portuguesa» [Entrevista de Carlos Câmara Leme]. Público (Lisboa), 13-VI-1991.214. «Raízes culturais portuguesas despertam jovens em França» [Entrevista de Álvaro Morna]. Diário de Notícias, 14-VI-1991.215. «Nótula sobre as traduções portuguesas e francesas da canção En una noche oscura de São João da Cruz». Nova Renascença, n.º 42/43, Verão-Outono de 1991: 253-255.216. «Hommage à Baltasar Lopes»; «Guerra Colonial e Ficção Portuguesa»; «Commémoration du Centenaire de la mort de Camilo Castelo Branco (1825-1890)» [Brevíssimas introduções]. Arquivos do Centro Cultural Português, vol. XXIX, 1991: 5-6; 37-38; 51-52.1992217. «Os livros de uma vida» [Resposta a inquérito]. JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 531, 8-IX-1992.218. «Carta [de Camilo Castelo Branco, inédita] a João de Andrade Corvo». Apresentação de -. Colóquio/Letras, n.º 125/126, Julho-Dezembro de 1992: 33.219. «Jorge de Sena: Ética e poesia». Francisco Cota Fagundes, José N. Ornelas (eds.), Jorge de Sena: O Homem Que Sempre Foi. Lisboa: ICALP, 1992: 99-105.220. «Introdução». O Sagrado e as Culturas [Colóquio realizado entre 18 e 22 de Abril de 1989]. Lisboa: FCG/ACARTE, 1992: 11-17.1993221. «Les traductions d'auteurs portugais». Lire le Portugal. Bulletin Paris: FCG, n.º 2, Juin 1993: 1-3.222. [Apresentação]. AA. VV., Antero de Quental et l'Europe. Paris: FCG/Centre Culturel Portugais, 1993: 9-10.1994223. «Littérature et identité nationale». Association Internationale des Critiques Littéraires (Paris) [XIVe Congrès International (Lyon, 1993)], n.º 41/42, Hiver 1993/1994: 81-83.224. «Campo Aberto» [Setembro de 1969]. Letras & Letras (Porto), Ano VIII, Porto: Abril de 1994: 17.225. «Prefácio». Sebastião da Gama. Cartas. I. Introdução, selecção e notas de Joana Luísa da Gama. Lisboa: Ática, 1994: 9-16.226. «Les églogues de Bernardim Ribeiro». Bernardim Ribeiro, Chagrins & Amours de Quelques Bergers. Edição de Anne-Marie Quint. Bordéus: L'Escampette, 1994: IX-XVII.227. «Apresentação». Antologia de Espirituais Portugueses. Apresentação de -, José Adriano de Carvalho e Fernando Cristóvão. Lisboa: IN-CM, 1994: 9-23.228. «Gaspar de Leão». Id., 255-262.229. «A 'família românica' da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa». Românica. Revista de Literatura. Lisboa: Edições Cosmos/Dep. de Literaturas Românicas, 1994: 7-14.230. «A literatura portuguesa no espaço das outras línguas. França» [Resposta a inquérito]. O Escritor (Lisboa), n.º 4, Dezembro de 1994: 217-227.1995231. «[Orlando Ribeiro] Um geógrafo humanista». JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 636, 1-III-1995.232. «Contribuir para a cultura europeia» [Entrevista de Isabel Vilanova]. Público, 27-III-1995.233. «Jacinto do Prado Coelho». Association Internationale des Critiques Littéraires [L'Année Littéraire 1994/1995], n.º 43, 1995: 36-39.234. «Jacinto do Prado Coelho - Critique humaniste» [XVII Colóquio da AICL (Lisboa, 1994): A Literatura e a Cidade]. Lisboa, 1995: 11-16.235. «Cidade (Hernâni António)». Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portuguesa. I. Lisboa: Editorial Verbo, 1995: 1131-1132.236. «Cintra (Luís Filipe Lindley)». Id., 1154-1157.1996237. «Le Portugal et l'Europe». Arquivos do Centro Cultural Português, vol. XXXV, 1996: 193-200.238. «A secreta viagem de uma poesia» [Sobre David Mourão-Ferreira]. JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 660, 31-I-1996.239. «Crítica ao ensino do Português em França» [Entrevista de Rodrigues da Silva]. Id. [Supl. JL/Educação], n.º 682, 4-XII-1996.1997240. «Pour David Mourão-Ferreira, In Memoriam». Evocation de David Mourão-Ferreira. Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 1997: 17-24. [Introdução: 9-11.]241. «Ecrire/décrire la ville. La ville de Lisbonne». Regards sur la Ville et la Campagne au XXe Siècle. Toulouse Le Mirail, 1997: 37-44.242. «Vieira revisitado». Margarida Vieira Mendes, Maria Lucília Gonçalves Pires e José da Costa Miranda (orgs.), Vieira Escritor. Lisboa: Edições Cosmos, 1997: 13-19.243. «Matura Idade» [Sobre David Mourão-Ferreira]. Colóquio/Letras, n.º 145/146, Julho-Dezembro de 1997: 186-190.1998244. «Os 'julgamentos' da História: Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa». Brotéria, vol. 146, n.º 2, Fevereiro de 1998: 195-199.No prelo245. «Três perfis: Osório Mateus, Margarida Vieira Mendes e David Mourão-Ferreira». Letras. Sinais - Para David Mourão-Ferreira, Margarida Vieira Mendes e Osório Mateus. Lisboa: Edições Cosmos. 1998.246. «Teresa Rita Lopes, Cicatriz». Colóquio/Letras.247. «Rumos e valores da estilística». Actas do Colóquio Internacional 'Filologia, Literatura e Linguística'248. «Vieira e a oração em vernáculo: a defesa do uso da língua portuguesa contra o uso do latim». Biblos. Coimbra. [Commemorating the Quadricentennial of the Death of Luís Vaz de Camões], Santa Barbara/Lisboa: UCSB Jorge de Sena Center/ICALP, 1985: 40-55. [Comemorações do Centenário do Nascimento do Professor Doutor Manuel Rodrigues Lapa, Curia (Anadia), 17, 18 e 19 de Abril de 1997].

Mário Botas, por Maria João Cantinho
A CORRIDA DE NARCISOÁguas correntes de regatos imensos, que não estão no corpo mas na alma e desaguam sempre noutro rio até chegarem àquele a quem os Antigos chamavam Letes...Mário Botas
É neste tom elegíaco que, a alguns dias do seu vigésimo quinto aniversário, entre 18 e 19 de dezembro, Mário Botas inicia uma irreversível despedida, a que Almeida Faria chama a sua “litania dos adeuses”. Mário Botas desenha dez ciprestes que se alinham e, no texto que aí escreve, despede-se das manhãs e das madrugadas, das “queridas nuvens” e das águas correntes que desaguam no leito do mítico Letes. Desde os 24 anos que sabe sofrer de leucemia e é sob o signo dessa urgência que se coloca toda a sua obra.A obra de Mário Botas aparece no panorama da pintura portuguesa como uma pintura avessa a classificações, resistindo em toda a sua singularidade face ao aparecimento das correntes pós-modernas que ocorreram na sua geração. Nascido em 1953 e precocemente desaparecido em 1983, Mário Ferreira da Silva Botas nasce no dia 23 de dezembro, na Nazaré. Filho único, criança tímida, passa a sua infância e adolescência na sua vila Natal, concluindo os seus estudos primários e secundários com excelentes classificações. Nessa época convive com um primo da sua avó, António Laranjo, um pintor amador dos motivos locais e, com ele, inicia o seu primeiro contacto com a pintura.Em 1970, Mário Botas muda-se para Lisboa, ingressando na Faculdade de Medicina e, no ano de 1971, faz uma primeira exposição individual de 20 quadros, na Comissão Municipal de Turismo da Nazaré. Os seus condiscípulos de medicina no Hospital de Santa Maria contam que ele passava aulas inteiras a desenhar, o que não impediu de se licenciar em 1975 com boas classificações. Continuou a praticar o seu semiautomatismo pictural, enquanto ouvia os pacientes durante o seu estágio e o seu método, semelhante à técnica surrealista, assentava nessa arte de “poetar sem o controlo da consciência”, própria da escrita automática.É em 1973 que toma contacto com os pintores portugueses surrealistas, conhecendo Cruzeiro Seixas e Mário Cesariny, aprendendo as suas técnicas e realizando cadavres exquis e colagens com estes autores. Trabalhou igualmente com Paula Rego, Manuel Casimiro e Raul Perez. O surrealismo interessou-o nessa primeira fase como ponto de partida, confessando posteriormente a sua desilusão. Reconhecerá nele uma agónica forma artística, pois era absurdo, nos anos 70 recuperar o que já não tinha expressão artística. No entanto, as técnicas surrealistas, combinando-se com as leituras do autor deram origem a um universo estranho e inquietante, que será a sua principal característica artística e plástica.Mário Botas interpretou o maio de 68 como o "elogio fúnebre do surrealismo", defendendo a ideia de que se torna necessário repensar um "novo dadaísmo" que conduza, não ao dogma surrealista, mas que se dirija antes para a mais extrema consciência da liberdade individual. O afastamento do "dogma surrealista" deveu-se em grande parte aos contactos cosmopolitas que procurava manter, em especial com o editor holandês Laurens vans Krevelen, com quem manteve correspondência até ao ano de 1977. Essa cesura revela-se no álbum Confessionário (1976), fundindo um estado de espírito iconoclasta com uma ironia mordaz incidente nos recentes acontecimentos políticos (a revolução dos cravos e as suas consequências e excessos). A cisão com o surrealismo confirmar-se-á no álbum seguinte, Afrodisíacos (1976-1980), onde o papa do surrealismo é representado num desenho a tinta da china intitulado Cesariny, the waiter...Leitor de apetite voraz, Mário Botas teve uma formação não apenas artística, como também literária. Intelectualmente esteve sempre muito próximo da literatura e da poesia e teve um contacto estreito com vários poetas portugueses (Eugénio de Andrade, António Osório, Raul de Carvalho, Herberto Hélder), os quais lhe deram a oportunidade de se expressar plasticamente, nessa simbiose entre o literário e o pictórico. Grande parte da sua pintura consiste em "ilustração" de livros de Gunter Künert, Raul Brandão, Almeida Faria, António Osório, bem como uma série de desenhos sobre temas do Antigo Testamento, outros comentando poemas de Mário de Sá-Carneiro e de Rimbaud, referências a Fausto, Le Horla, revisitações de vários temas mitológicos, como Réa, Ixion, Hécate. Um tema recorrente e ironicamente tratado é a história de Portugal: Leonor Teles, Fernandus Rex Portucalensis, O Enigma de Alcácer Quibir, A História Secreta de Portugal, A morte de Inês de Castro, os D.Sebastião, O Milagre das Rosas. O gosto pelo retrato de escritores que o fascinaram é igualmente uma tónica dominante, tal como o retrato de Kafka, Pessoa, Camões, Mário de Sá-Carneiro, Tristan Corbière, Rilke, Baudelaire (que dará origem à obra-prima final, Le Spleen de moi-même).Esta tendência afasta-o das correntes pós-modernas, mais em voga na altura, conferindo à sua obra um estatuto muito peculiar, fantástico, complexo e encerrado nas suas metáforas. Aliás, esta tendência para a literatura e a consequente indecibilidade entre os dois universos é bem expressa por Mário Botas, num texto em que se reconhece “um pintor do lado da escrita”, confessando: “O que pinto gosta de se encontrar com as palavras, sobretudo com as palavras dos outros. Raramente parto de um texto para a imagem, mas quase sempre esta precede aquele”. Esta formação transforma-o, assim, no panorama nacional, num pintor sui generis, em que a sua originalidade e o caráter visionário da obra, aliados ao caráter trágico da sua vida, lhe conferem uma aura mítica e marginal.É em fevereiro de 1978 que Mário Botas parte em busca de tratamento em Nova Iorque. Nesse mesmo ano expõe na Galeria Martin Summers e expõe coletivamente em The Drawing Center. É precisamente aí que encontra o mítico John Cage, o músico que lhe inspira A Dip in the Lake, aguarela de uma planta da cidade que pode ser Lisboa. Esses meses vividos nos Estados Unidos, numa solidão fecunda, proporcionar-lhe-ão elementos que se entranham profundamente na sua obra. Essa vivência na megalópole configurar-se-á como um elemento mítico, magma fantástico ou metáfora poética que lhe ocupa a obra, tal como a leitura recorrente de mitos. A preferência pela literatura fantástica de autores como Borges, Blake, Swift e outros, paralelamente à de autores como Pessoa, Cervantes, Rousseau (que o marcará com a ideia do "bom selvagem"), Rimbaud, Lautréamont, Lewis Carroll, etc., inscrevem-lhe na obra essa contaminação entre o mítico e o histórico. E é nesse mesmo ano que conhece a obra de Egon Schiele, na galeria Serge Sabarsky, em Nova Iorque, contacto fulminante que o leva a reconhecer o pintor como um dos seus mestres, a par de Paul Klee.Nos cinco anos seguintes, a influência da representação agressiva e insistente dos retratos de Schiele marcá-lo-á de tal forma que António Osório o apelidará de "arqueólogo de seu rosto". Como admiravelmente o diz Almeida Faria, “A pintura de Mário Botas é uma corrida de Narciso.” Não um narcisismo imaturo, mas um modo algo cínico e doloroso de confessar a sua própria morte, esse acontecer do “dente da morte” na sua própria vida. Um desejo violento de afirmar a sua presença, numa antecipação da sua tragédia, a um tempo, numa atitude de cariz romântico e uma arrogância moderna e bem alegórica.A fronteira entre retrato e autorretrato é ténue - tal como em Egon Schiele, a osmose entre ambas é uma constante, visível sobretudo nos desenhos de Camões e Pessoa - e percorre um registo diversificado na mimese. Em alguns desses desenhos identificamos de imediato o pintor, ainda que os modelos dos restantes retratos nem sempre sejam claramente reconhecíveis. O que lhes confere esse tom onírico, entre o que se oculta e o que se desvenda, como se ele não se preocupasse com as similitudes do rosto, mas antes com a representação de uma imagem-matriz, inquietante e interior. Alguns dos retratos, em especial o de Tristan Corbière, possuem esse lado arrepiante e assustador que parece provir do pesadelo. Uma contaminação do horror que se sobrepõe à representação do rosto parece ser, muitas vezes, a tónica dominante, condensando o visionarismo que se associa à antecipação da própria morte.Como se estabelece o modelo subversivo que atravessa toda a sua obra? E que a transforma nesse universo de uma irredutível singularidade? Se a presença de um erotismo hermafrodita a perpassa, no entanto, esse erotismo conduz-nos mais longe, arrasta-nos na vertigem que se encontra no limiar entre a vida e a morte, entre o orgânico e o petrificado. Conviva próximo de Botas, a morte emerge como pano de fundo em toda a sua extensão, contrastando essa violência com a delicadeza das suas aguarelas, o que torna a atmosfera ainda mais estranha. O corpo, seja o do próprio ou de outras figuras (com particular relevo na fase final da obra), aparece sempre representado com a marca da ruína, trespassado ou meio corroído, num território de transgressão que vai desde a travessia das fronteiras (homem/mulher, inteiro/fragmentado, vivo/morto), recuando mesmo aos dogmas de religiões judaico-cristãs, tocando e subvertendo os dispositivos sacrificiais, anulando a distinção entre sagrado e profano, puro/impuro. Todavia, é a partir dos laços entretecidos entre morte e feminilidade, que atravessam toda a simbologia judaico-cristã, que retira o maior dos efeitos estéticos e pictóricos.A inquietação (e extrema riqueza do universo simbólico) na obra de Mário Botas advém-lhe da recusa de uma mimese da natureza, em que as representações são apresentações, num sentido próximo ao que Paul Klee defendia, de que a obra radicava numa crença no poder mágico do homem em criar novas realidades que conferem à vida esse excesso que não é da ordem do visível, mas sim metafísica. Por toda a parte, a alegoria revela o seu rosto melancólico, numa apresentação da ruína, dos monstros interiores, do corpo mutilado e da doença invasora, da morte que se anuncia, como no autorretrato em que a ampulheta surge sobre o coração, anunciando o escoar do tempo de um modo obsceno, como nos quadros em que se autorretrata como criança e o rosto se encontra dividido, uma parte ainda intacto, a outra imersa em escuridão. Ao longe, minúscula, espreita a figura expectante da morte. De um lado a infância, a nostalgia de um tempo perdido, a criança segura uma rosa na mão, a frágil flor da sua vida, do outro, a figura anunciada da catástrofe. Esse jogo dialético e de feroz violência repete-se amiúde em toda a sua obra, revelando cada rosto, cada corpo, cada figura, esse excesso do inominável, sob a forma de monstros, animais, figuras diabólicas e arrepiantes.A atmosfera dos seus quadros também evoca a pintura de Bosch e, em especial, o tríptico "O Jardim das Delícias", com toda a sua galeria de imagens sinistras de híbridos monstros, situada entre o onirismo e o erotismo. Contra a delicadeza da representação surge o absurdo da apresentação, numa imagem surreal, próxima do pesadelo. Por outro lado, há uma encenação teatral, em que o tempo se encontra espacializado sob a forma de casas, no quadro as "Quatro Estações", essa dialética entre a nostalgia e a ruína apresenta-se frequentemente, nos quadros em que as árvores se ligam simbolicamente às diversas fases do tempo/casas. Entre a palmeira, árvore que se encontra ligada à esperança e ao passado, e o cipreste, hirto símbolo da morte. Toda a sua pintura oscila entre esta dialética alegórica, tão cara ao espírito de Baudelaire e ao sentimento do spleen. Se, por um lado, é antecipada a ruína e a destruição do orgânico (sempre na figura da morte, do monstruoso e da doença), por outro, também se mantém a ténue réstea de esperança, pelo apontar de retorno nostálgico à origem (a palmeira, evocando um tempo puro, a rosa na mão da criança, o verão). Sobre este choque que nos provoca a sua obra, da experiência de fragmentação e de cisão do sujeito, quer como autor, quer enquanto espectador da obra, é que nos parece importante refletir, pensando-o como modo estético operatório muito peculiar, uma apresentação do irrepresentável, que nos toma e engole por inteiro, que nos arrasta ao abismo e que nos coloca diante da fragilidade da vida como um espelho côncavo e distorcido, hiperbólico.Todavia, esse narcisismo vai-se obscurecendo e fechando no final da vida. A morte assume a forma de um escândalo, remetendo para um descrédito relativamente à religião e a Deus, acentuando-se o pessimismo e a fragilidade, definindo os contornos do mais desesperado nilismo. Em Botas, a beleza procurada a cada instante, revela-se um ardil, mostrando o horrível, tal como a bela mulher, em Baudelaire, revela a caveira, a morte: Esconde-se na luxúria da beleza (daí que a figura da morte seja feminina, na sua pintura), assalta o que por ela se deixa cativar e deslumbrar. Tal como o rosto de Narciso, o paradigma desse paradoxo, refletindo-se no espelho das águas, o que não é senão a visão última e derradeira, reveladora, a verdade a que Narciso sucumbe. Mas esse espelho é ainda e sempre a alma humana. Bibliografia / Catálogos:Mário Botas – Visões Inquietantes, Lisboa, Quetzal, 1999 (catálogo da exposição retrospectiva organizada pelo Centro Cultural de Belém em 1999).Mário Botas – O Pintor e o Mito, Lisboa, Sá da Costa, 2002 (edição bilingue em português e castelhano).

Mário Sottomayor Cardia, por Carlos LeoneMário Augusto Sottomayor Leal Cardia (Matosinhos, 1941 – Lisboa, 2006)
Mário Sottomayor Cardia foi uma das figuras cimeiras do pensamento e ação políticos em Portugal, em particular da Esquerda, nos anos decisivos da transformação de Portugal no atual regime democrático. Entre meados da década de 1960 e meados da década de 1980 foi grande a sua influência na condução, sucessivamente, da Oposição comunista, socialista (antes do 25 de Abril de 1974), dos preparativos das eleições para a Assembleia Constituinte e seus trabalhos, dos I e II Governos (como Ministro da Educação) e, por fim, da atividade parlamentar socialista na Assembleia da República, durante a década de 1980. Esta preponderância, contudo, não se baseou em jogos malabares mas numa capacidade (e Obra) intelectual singular em Portugal e numa autoridade pessoal resultante da sua coragem moral e física, antes e depois de 1974. A sua história é, por isso, não só a de um ator político influente mas igualmente a de um pensador político e filosófico de relevo na segunda metade do século XX português.Oriundo de uma família burguesa bem integrada no Estado Novo, mas com antecedentes liberais, cedo a sua capacidade argumentativa lhe trouxe dissabores, expulso do Liceu aos 14 anos por apoiar a independência da Índia portuguesa. Terminou os estudos liceais no Porto onde apoiou a campanha de Humberto Delgado (1958) antes de rumar a Lisboa para cursar Direito mas rapidamente passou para Filosofia, na Faculdade de Letras. Depressa se tornou dirigente estudantil e, depois de aderir ao PCP em 1961, trabalhou no setor intelectual durante a crise estudantil de 1961/2. Desde meados da década de 1960 a sua capacidade de intervenção na Imprensa está registada, pois desempenhou grande papel na condução da Seara Nova, então em nova fase de influência comunista. Aí discutiu com os seus camaradas questões políticas usando de grande vigor, tendo depois organizado, em 1971, uma antologia em 2 volumes representativa da história da revista. Ideólogo rígido, participou de forma determinada na estratégia comunista, apesar de a sua primeira discordância com o PCP datar de 1968, aquando da ocupação soviética de Praga. Discutiu o caso com Álvaro Cunhal, que o convenceu a ficar no Partido e a participar na coordenação das eleições de 1969. Mas, mesmo depois de ter participado, com O Antimarxismo Contestatário (1972) em mais uma polémica célebre contra um conhecido dissidente do PCP (António José Saraiva, que publicara Maio ou a crise da civilização burguesa), o seu afastamento dos comunistas foi inevitável: em 1973, esteve na génese do PS. Figura já cimeira nos meios oposicionistas, preso quatro vezes pela PIDE/DGS e objeto de torturas de invulgar dureza (que descreveu sumariamente em O Dilema da Política Portuguesa, de 1971), a sua participação foi um contributo de primeira grandeza para a credibilidade do novo partido como Oposição ao regime quer do ponto de vista moral quer do ponto de vista intelectual (era já autor de diversas pequenas obras de análise da evolução do regime que não eram tributárias da vulgata comunista de então, como Por uma Democracia Anticapitalista, de 1973).De imediato, e sobretudo durante o primeiro ano de democracia, Sottomayor Cardia torna-se, a par de Salgado Zenha e de Mário Soares, a principal voz das políticas do Partido Socialista, em clara demarcação de quaisquer estratégias «frentistas» que lhe obscurecessem a identidade e tolhessem a liberdade de iniciativa. Depois, em 1975, destaca-se como orador e legislador na Assembleia Constituinte. Sem surpresa, integra o governo saído das eleições de 1976, como ministro da Educação. Dificilmente a sua ação pode ser sobrestimada, com efeitos que se sentem ainda hoje: criou o ano propedêutico (agora 12º ano), ganhando tempo para repor ordem nas Universidades; criando o regime de numerus clausus e enfrentando em pessoa greves aparentemente capazes de o afastar do governo, chegando a fazer encerrar a Universidade de Coimbra durante seis semanas mas deslocando-se à baixa da cidade para afirmar a sua autoridade. Saneou a influência ideológica comunista no ensino, consumou a introdução das ciências sociais no ensino superior português, influenciou a criação de novas instituições como a Universidade Nova de Lisboa. Em 1978, deixando o governo e a direção do PS, inicia o último ciclo ativo de vida política, como deputado do PS (desde 1983 até 1991). A década de 1980 fica marcada pela proposta de retirada do cunho marxista do programa do PS pela publicação em 1982 de Socialismo Sem Dogma, (com prefácio de Mário Soares) e por crescentes tensões com a direção da bancada parlamentar socialista, que, tendo atingindo a rutura durante a chefia de Jorge Sampaio, começaram antes, na direção de Victor Constâncio. Só abandonou o partido, contudo, em 1997, sem contemplações com o estilo de António Guterres (e já depois de um anúncio de candidatura à presidência da República, da qual veio a abdicar). Este percurso de marginalização política foi alimentado por uma crescente autonomização do seu pensamento, patente tanto no livro de 1982 como em Prosas Sem Importância (recolha de textos de 1985) e noutras obras.Entretanto passara de convidado a efetivo nos quadros de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa, onde se doutorou em 1992 com a dissertação intitulada «Da Estrutura da Moralidade», publicando no mesmo ano Ética, obra de extrema minúcia analítica. Autor de diversos trabalhos sobre António Sérgio e Vieira de Almeida, na área da Filosofia, e de temas de teoria política (foi docente de Ciência Politica na UNL até perto do seu falecimento), deixa Obra variada e original, na Filosofia, Teoria Política, História da Cultura Portuguesa, ficando por editar as suas memórias, nas quais trabalhava à altura da sua morte. Deixa ainda uma das maiores bibliotecas particulares do país e um arquivo de valor histórico muito apreciável. Como Professor, mais do que o tantas vezes referido racionalismo (real, de facto), um seu antigo aluno, que aqui subscreve, guarda a memória do homem mais livre e decente que encontrou numa sala de aulas – o que também lhe trouxe alguns problemas entre alunos e colegas com hábitos menos anti- dogmáticos.
O seu desaparecimento, inesperado, atraiu de novo alguma atenção sobre si. Foi parte de um período de Portugal que se perdeu, depois de anos de desinteresse geral. Nas reações imediatas foi visível quanto a sua ação e a sua pessoa marcaram tanto a política como a vida intelectual do país, em textos de pessoas tão diferentes como José Medeiros Ferreira, José Pacheco Pereira, José Leitão, Miguel Castelo-Branco ou Manuel Alegre (apenas alguns nomes entre numerosos blogs e jornais). Para o futuro, planeia-se um volume de estudos, mais longo, sobre o seu trajeto, que poderá contribuir melhor do que é aqui possível fazer para dar conta da real dimensão intelectual e cívica de Mário Sottomayor Cardia.

Orlando Ribeiro, por Suzanne DaveauOrlando Ribeiro, Renovador da Geografia em Portugal
Um longo hiato, durante o qual a Geografia foi muito pouco praticada em Portugal, seguiu-se ao florescimento brusco mas breve que tinha conhecido no século XVI, pela obra de alguns brilhantes geógrafos exploradores. Nem os Jesuítas, nos seus colégios, nem os reformadores dos séculos XVIII e XIX deram verdadeira importância a esta ciência, considerada auxiliar da História. Apenas trabalharam alguns corógrafos compiladores, mas a Geografia não tinha lugar na Universidade.Alguns precursores apareceram nos fins do século XIX: o engenheiro florestal Barros Gomes, o oficial do Exército Gerardo Pery, o médico Silva Telles. Mas será apenas em 1922, quando Amorim Girão se doutorou em Geografia em Coimbra e desenvolveu aí a sua obra original, que a Geografia ganhou realmente uma dimensão universitária, mas sem sair de um quadro regional e nacional.Deve-se a Orlando Ribeiro a criação de um novo foco, em Lisboa, que atingiu logo dimensão e fama internacional. Ainda estudante, sentiu a necessidade em alargar a formação recebida, frequentando as aulas dos melhores professores em diversas ciências, ajudando o velho Leite de Vasconcellos na preparação da sua obra, trabalhando no campo sob a direção do geólogo suiço Fleury. Não hesitou em seguir para Paris, em 1937, como Leitor de português, aproveitando para alargar e aprofundar a sua formação em Geografia, História e Geologia e para participar, em 1938, no Congresso Internacional de Geografia de Amesterdão.Voltando para Portugal em 1940, nomeado sucessivamente Professor em Coimbra e Lisboa, cria em 1943 o Centro de Estudos Geográficos, publica em 1945 a brilhante síntese Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico (na sua 7ª edição, continua hoje um dos textos básicos da cultura portuguesa), organiza em 1949 o primeiro Congresso Internacional de Geografia do pós-guerra, ocasião de abundantes publicações de difusão internacional (4 volumes de Actas e 6 Livros-guias das excursões, escritos em francês).Nos anos seguintes viaja muito através do Mundo, em especial pelos países tropicais marcados pela Expansão ibérica, ganhando assim uma vasta experiência que lhe permite entender melhor a originalidade de "Um Povo na Terra". Quando uma reforma curricular permite, enfim, que afluam alunos ao curso de Geografia, vê juntarem-se jovens esperançosos ao pequeno grupo dos primeiros discípulos, oriundos de horizontes universitários muito variados, que tinha reunido por ocasião do Congresso de 1949. Manda estagiar estes jovens em diversos centros vivos de investigação, em França, Alemanha, Suécia, Inglaterra e Estados Unidos, para incentivar, alargar e fortalecer as suas diversas vocações.Entretanto, prossegue as próprias investigações, aprofundando também os temas que mais interessam à orientação das teses dos discípulos, aos quais deixa, no entanto, uma total liberdade, acompanhada de uma forte exigência de rigor metodológico. Praticando a máxima de ser "um investigador que ensina", orienta pelo exemplo e não pela imposição. Organiza e dirige numerosas excursões, nacionais e internacionais, procurando sempre os profícuos confrontos de ideias e experiências. Aproveita todas as oportunidades para alargar a presença dos geógrafos na vida nacional e os seus discípulos encontram-se, em breve, a ensinar em várias escolas superiores e em novas Universidades.Mas as suas relações com as autoridades governativas e afins conservaram-se sempre tensas. A habitual frontalidade de expressão das suas opiniões fez com que, ainda que cientificamente respeitado, tenha sido considerado quase sempre incómodo e sistematicamente afastado dos órgãos de decisão. Não teve, portanto, o papel que podia ter tido na renovação do ensino e da investigação, e na reorganização do País. Mesmo as honras oficiais, que coroam normalmente uma obra científica ímpar e reconhecida internacionalmente, apenas apareceram muito tardiamente. A sua obra tem de descobrir-se nas suas abundantes publicações e nas realizações dos seus inúmeros discípulos, geógrafos mas também praticantes de muitas outras atividades, que aprenderam com ele, quer a ouvi-lo, quer a lê-lo.Visitar também o sítio sobre Orlando RibeiroBibliografiaA lista bibliográfica da obra científica de Orlando Ribeiro já foi publicada, em duas partes:Ana Amaral e Ilídio do Amaral, Bibliografia Científica de Orlando Ribeiro, Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, 1984, 85 p. [bibliografia anotada, que cobre os anos 1934-1981 e inclui 296 números].Suzanne Daveau, "Bibliografia Científica de Orlando Ribeiro (2ª parte, 1981-1995)", Finisterra, CEG, Lisboa, 61, 1996, pp. 87-97 [cobre os anos 1981 a 1995 e atinge o número 363].Em 1997-98 publicaram-se 5 obras, em reedição ou inéditas, 2 estão no prelo e algumas esperam ainda editor.Destacam-se a seguir as publicações mais importantes:1937 - "A Arrábida. Esboço geográfico", Revista da Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, p. 51-131.1945 - Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, Coimbra Editora, Coimbra, VIII + 246 p; 7ª edição, 1998, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 189 p.; edição ilustrada com fotografia de Jorge Barros, 1993, Edições João Sá da Costa, 223 p.1949 - L'Île de Madère. Etude Géographique, UGI, Lisbonne, 175 p.; tradução portuguesa, 1988: A Ilha da Madeira até Meados do Século XX, ICALP, Lisboa, 139 p.1949 - Le Portugal Central, UGI, Lisbonne, 180 p.1954 - A Ilha do Fogo e as suas Erupções, Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, 319 p. ; 2ª edição, 1960; nova edição, Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 1998.1955 - Portugal, Montaner y Simón, Barcelona, 290 p. (tomo V de Geografia de España y Portugal)1960 - Atitude e Explicação em Geografia Humana, Galaica, Porto, 71 p.; tradução francesa: "Conception et interprétation en Géographie humaine", Cahiers de Géographie du Québec, 11, 1961-62, p. 5-37.1961 - Geografia e Civilização. Temas portugueses. Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, 238 p.; 2ª edição, 1979, Livros Horizontes, Lisboa, 161 p.1962 - Aspectos e Problemas da Expansão Portuguesa, Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, 213 p.; edição ilustrada de parte do texto, 1994, Edições João Sá da Costa, com o titulo: Originalidade da Expansão Portuguesa, 159 p.1964 - Problemas da Universidade, Livraria Sá da Costa Editora, 114 p.1968 - Mediterrâneo. Ambiente e Tradição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 273 p.; 2ª edição, 1987; tradução italiana, Il Mediterrâneo. Ambiente e Tradizione, Murcia, Milano, edições de 1972, 1976 e 1983.1970 - A Evolução Agrária no Portugal Mediterrâneo, Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, 226 p.1970 - Variações sobre Temas de Ciência, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 269 p.1973 - La Zone Intertropicale Humide, Armand Colin, Paris, 276 p. (em colaboração com Suzanne Daveau).1977 - Introduções Geográficas à História de Portugal, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, 230 p.1981 - A Colonização de Angola e o seu Fracasso, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, 459 p.1985-86 - Les Bassins de Lousã e d'Arganil. Recherches Géomorphologiques et Sédimentologiques sur le Massif Ancien et sa Couverture à l 'Est de Coimhra, I. Le Bassin Sédimentaire, II. L'Évolution du Relief, Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, 231 p; 450 p. (em colaboração com Pierre Birot e Suzanne Daveau).1986 - Iniciação em Geografia Humana, Edições João Sá da Costa, Lisboa, 194 p.1987 - Introdução ao Estudo da Geografia Regional, Edições João Sá da Costa, Lisboa, 148 p; 2" edição, 1995.1988 - A Formação de Portugal, ICALP, Lisboa, 134 p.1987-91 - Geografia de Portugal (em colaboração com Hermann Lautensach e Suzanne Daveau, I. A Posição Geográfica e o Território, II. O Ritmo Climático e a Paisagem; III. O Povo Português; IV. A Vida Económica e Social, Edições João Sá da Costa, Lisboa, 1340 p.1989-91 - Opúsculos Geográficos, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, I. Síntese e Método, 409 p.; II. Pensamento Geográfico, 448 p.; III. Aspectos da Natureza, 356 p.; IV. O Mundo Rural, 432 p.; V. Temas Urbanos, 560 p.; VI. Estudos Regionais, 497 p. (Os Opúsculos Geográficos reúnem 179 artigos, dos quais 47 inéditos.)1994 - Finisterra, Encontros de Fotografia, Coimbra, (fotografias, com textos de Teresa Siza, Jorge Gaspar e Suzanne Daveau).