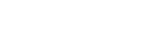Faras, Mestre João
Na Biblioteca da Ajuda encontra-se um códice com a cota 50-V-19, contendo dois manuscritos, um dos quais é uma cópia do século XVI da Tragédia de la Insigne Reina D. Isabel; o outro uma tradução do latim para castelhano do De Situ Orbis de Pompónio Mela. O autor desta tradução está claramente identificado : Mestre João Faras, bacharel em artes e medicina, "físico" e cirurgião de D. Manuel I. A data exacta em que foi efectuada a tradução não se encontra definida. No entanto, tudo indica, tendo em conta a referência D. Manuel I e o tipo de letra do manuscrito, tratar-se de uma tradução feita ainda nos últimos anos do século XV. Joaquim Barradas de Carvalho identificou, nas suas margens, para cima de cento e cinquenta notas feitas por Duarte Pacheco Pereira, que da tradução da obra de Pompónio Mela se serviu abundantemente como uma das fontes principais para redigir a sua própria obra - o Esmeraldo de Situ Orbis.
Muitos foram os autores a se ocuparem da identificação de Mestre João Faras. De Sousa Viterbo a Fontoura da Costa e Joaquim Bensaúde, de Carlos Malheiros Dias a Frazão Vasconcelos, passando pelos últimos estudos de Barradas de Carvalho todos, de uma forma ou de outra, invocaram valiosos elementos que se conjugam num consenso ainda hoje reinante : o autor da tradução do latim para castelhano "aportuguesado" do De Situ Orbis de Pompónio Mela é o mesmo autor que expediu em Maio 1500, para D. Manuel, uma carta sobre problemas náuticos e astronómicos, quando se encontrava a bordo de um dos navios da armada cabralina. A célebre carta, que aparece escrita num português castelhanizado, eivado de erros, é um testemunho esclarecedor dos problemas e das expectativas, técnicas e mentais, com que o meio náutico português se debatia na viragem do século XV. Pelo conteúdo da epístola percebe-se que Mestre João ia encarregado de fazer observações astronómicas. Os dois únicos documentos referenciados que testemunham a ligação ao meio náutico português de Mestre João Faras, a tradução do De Situ Orbis e a carta enviada a D.Manuel I, foram associados pela forma como o seu autor se identifica - pelo mesmo nome próprio, Mestre João; pelo mesmo grau académico, "bacharel em artes e medicina"; pela dificuldade com que escreve português; e pelo cargo que ocupava, "físico e cirurgião d'el rei D. Manuel". Nada de mais significativo se encontrou. Contudo, novos estudos, depois de uma leitura mais atenta da documentação, essencialmente os registos contidos nas Chancelarias reais, apontam para a sua origem sefardita, servidor dos duques de Bragança e morador na região entre Douro e Minho, tendo-se baptizado com o nome de João de Paz, quando D. Manuel I decretou o baptismo forçado dos judeus, por volta de 1496-97. Situação que terá permitido a Mestre João Faras continuar a exercer as suas funções, mas agora com outro sobrenome, que identificava a sua "devota" conversão. Ora, este "simples" facto veio relançar toda a interpretação sobre a figura do astrólogo, permitindo uma nova grelha de explicações tanto para as razões que motivaram a tradução do De Situ Orbis como para a carta enviada a D. Manuel, a 1 de Maio de 1500. A começar, por exemplo, pela forma como Mestre João se dirige ao rei na carta, queixando-se das acanhadas dimensões do navio onde trabalhava. De facto, os novos dados, que apontam Mestre João como um servidor da Casa de Bragança, dão-nos o ensejo de inferir que o astrólogo viajava no navio cuja propriedade era dividida entre D. Álvaro de Bragança, irmão do Duque D. Jaime, e alguns mercadores florentinos e genoveses proprietários de casas comerciais em Portugal. Tratava-se da caravela redonda, mercante, "Nossa Senhora da Anunciada" (porte: c.100 tonéis; tripulação: c.30 homens) comandada por Nuno Leitão da Cunha. Sem dúvida um dos navios mais pequenos da armada, que é referido em 1501 por Affaitadi como "lo piu pícolo de tuti" . Notória é a forma como Mestre João Faras, em 1500, se empenha nos cálculos das latitudes e nas observações dos astros no hemisfério sul, ao mesmo tempo que vai testando um novo instrumento de medição astronómica, importado do Índico - o Kamal. O seu conhecimento minucioso das regras e dos métodos de navegação, com referências, em determinado passo da sua carta, ao "regimento do astrolábio", deixa perceber que estava a par dos desenvolvimentos teóricos e práticos da náutica, não sendo de todo descabido supor o seu envolvimento nos estudos e traduções - trabalho geralmente entregue a judeus peninsulares - que conduziram aos regimentos que nós hoje em dia apelidamos de Guias Náuticos de "Munique " e "Évora", que se conhecem edições de cerca de 1508 e 1516 respectivamente. É muito provável que os seus préstimos, nesse domínio, continuassem a despertar a atenção do poder central, porque temos notícia de no ano de 1513 se apresentar em Lisboa para trabalhar como astrólogo, passando a auferir de uma tença. Este registo prova efectivamente que Mestre João não morava em Lisboa e que frequentemente prestava serviços ao rei no campo da náutica astronómica, permitindo-lhe o contacto os sectores mais ligados às navegações, pois só assim se explica a referência, na sua carta, a um mapa mundo, ainda hoje desconhecido, em posse de Pero Vaz Bisagudo, que assinalava onde estava a nova terra descoberta em Abril de 1500. Nos últimos registos de que dispomos, temos notícia de Mestre João se ter estabelecido no Porto com a sua família .Temos assim que, tal como Pero Vaz de Caminha, Mestre João Faras era originário das terras entre Douro e Minho, no qual o Porto constituía o seu centro; e tal como Pero Vaz de Caminha, também Mestre João não ocupava um cargo em exclusivo ao serviço de D. Manuel I.
Carlos Manuel Valentim
Bibliografia CARVALHO, Joaquim Barradas de, La Traduction Espagnole du "De Situ Orbis" de Pomponius Mela par Maître Joan Faras, Lisboa, J.I.U., 1974 COSTA, Abel Fontoura da, A Marinharia dos Descobrimentos, Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 4ª ed. 1983 VALENTIM, Carlos Manuel, "Mestre João Faras - Um Sefardita ao Serviço de D. Manuel I" in Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 1, 2000 pp. 167 –220.

Instrumentos de navegação
Os instrumentos utilizados em navegação foram surgindo com a necessidade de determinar, no mar, a posição do navio. E quase todos foram adaptados, de instrumentos já existentes e utilizados com outros fins, para a nova função. Um ponto comum a todos eles é o facto de pura e simplesmente medirem ângulos, entre um objecto e uma referência, ou entre dois objectos. A grande diferença entre os diferentes instrumentos aqui apresentados – quadrante, astrolábio e balestilha – é o rigor, a forma de utilização e a referência para a medição dos ângulos. Estes mesmos instrumentos foram os percursores de outros mais rigorosos, utilizando a dupla reflexão, como o octante e o sextante, que também servem para medir ângulos.
A utilização destes instrumentos para a determinação da latitude em que se navegava, exigia a existência de tabelas onde se pudesse consultar o valor da declinação, tanto do Sol como das estrelas mais utilizadas. Só a estrela Polar, por se encontrar próxima do pólo Norte terrestre, afastada apenas cerca de 3º,5 – com uma declinação de 86º,5 – não necessitava das tabelas referidas, mas, tão somente, de ter o piloto conhecimento do regimento da estrela Polar.
Quadrante – Este instrumento já se encontrava referenciado e descrito em várias obras medievais, nomeadamente nos Libros del Saber de Astronomia, do século XIII. Na sua forma primitiva era utilizado, certamente, para medir alturas e distâncias. Adaptado à náutica, foi muito provavelmente o primeiro instrumento de navegação astronómica que os pilotos portugueses utilizaram. Aliás, é Diogo Gomes, navegador do infante D. Henrique, referindo-se a uma viagem por si levada a cabo, cerca de 1462, que afirma ter «observado com o quadrante a altura do pólo ártico». Por seu turno, António de Naiera, na sua Navigación Especulativa y Pratica, publicada em Lisboa, em 1628, faz a seguinte afirmação relativa a este instrumento: «O quadrante náutico, semelhante ao astrolábio, que assim com ele se toma com facilidade e certeza a altura do Sol ao meio-dia, com a mesma facilidade e certeza se tomará com o quadrante a altura das estrelas sobre o horizonte, quando de noite chegam aos seus meridianos».
O quadrante era construído em madeira, tendo a forma de um quarto de círculo – daí a origem do nome. Numa das arestas rectilíneas eram colocadas as pínulas – pequenas peças também em madeira – com orifícios, por onde se «enfiava o astro». No vértice do quadrante era preso, num orifício, um fio-de-prumo de comprimento pouco maior do que o raio do instrumento. Na extremidade livre, encontrava-se um pequeno peso em metal. A aresta curvilínea era graduada com uma escala de 0º a 90º. Para medir a altura do Sol, por exemplo, o piloto tinha que fazer coincidir a luz deste astro, que passava pelo orifício da pínula superior, com o orifício da pínula inferior. Isso só era conseguido colocando o instrumento no meridiano do astro e com uma inclinação muito precisa. Nesse instante, o fio-de-prumo indicava a altura do astro – ângulo entre o horizonte e o astro – ou a distância zenital – ângulo entre o astro e o zénite do observador, dependendo apenas da forma como o instrumento estivesse graduado – de 0º a 90º ou de 90º a 0º, da aresta lisa para a aresta das pínulas.
O facto de estes instrumentos serem de madeira é, possivelmente, uma das razões pelas quais não chegou até aos nossos dias nenhum quadrante da época dos descobrimentos.
Astrolábio Náutico – Este instrumento resultou, muito provavelmente, da simplificação do astrolábio planisférico, que era utilizado pelos cosmógrafos para determinar a posição das estrelas no céu, a hora local a partir da altura do Sol, ou resolver problemas geométricos. Como algumas destas funções não tinham grande interesse para a navegação, o astrolábio náutico ficou apenas com a faculdade de medir a altura dos astros, pois era esta a necessidade de utilização a bordo dos navios, por parte dos pilotos. Se inicialmente era construído em madeira, ou em chapa de metal, cedo se concluiu que tal não servia para, com rigor, ser utilizado a bordo. Por isso passou a ser construído em bronze. Tal facto conferiu-lhe a robustez e o peso adequados para poder ser utilizado no mar e minimizar os efeitos do balanço do navio. Ainda assim, construído com um corpo maciço, tinha a desvantagem de oferecer demasiada resistência ao vento e dificultar as observações. Para obviar este problema, o seu corpo foi aberto, ficando apenas com os dois diâmetros ortogonais. No seu centro gira uma mediclina onde se encontram duas pínulas, com orifícios, por onde, a exemplo do quadrante, se «enfia o astro». Normalmente nos dois quadrantes superiores do astrolábio encontra-se gravada uma escala, de 0º a 90º – tendo esta sido inicialmente de alturas. Posteriormente passou a ser de referência zenital. Esta última implicava fazer menos um cálculo na determinação da latitude, pela passagem meridiana do Sol.
Para medir uma altura o observador segura o astrolábio pelo anel de suspensão – que minimiza o efeito do balanço do navio no instrumento – e faz coincidir a luz do Sol, que passa pelo orifício da pínula superior, com o orifício da pínula inferior. Se o astrolábio estiver bem construído, alinhado, e com orifícios de dimensões correctas, é ainda possível ver a luz do Sol, depois de atravessar os dois orifícios, incidir no convés.
A utilização deste instrumento pelos pilotos portugueses deve remontar ao último quartel do século XV. Prova disso é seguinte passagem de João de Barros, na descrição da primeira viagem de Vasco da Gama: «... Santa Helena... onde saiu em terra por fazer aguada e assi tomar a altura do sol. Porque, como do uso do astrolábio pera aquele mister da navegação, havia pouco tempo que os mareantes deste reino se aproveitavam,...». Muitos astrolábios náuticos chegaram até aos nossos dias, sendo a maior parte de origem portuguesa. A maior colecção destes instrumentos encontra-se reunida no Museu de Marinha em Lisboa.
Balestilha – As primeiras descrições da utilização da balestilha surgem apenas na documentação do século XVI. Mais concretamente no Livro de Marinharia, de João de Lisboa (c.1514). Em 1529, o navio de pesca de João Gomes foi assaltado ao largo da costa da Guiné, por corsários franceses. Entre as coisas levadas pelos assaltantes encontravam-se «agulha e astrolábio e balestilha e regimento para a arte de navegar».
Alguns historiadores defendem a sua origem na modificação do báculo de Jacob, instrumento medieval utilizado em agrimensura. Outros, defendem ser de concepção portuguesa.
Este instrumento é extremamente simples e é constituído por uma vara de madeira de secção quadrada – quatro escalas – denominada virote, com cerca de 80 centímetros de comprimento. Ao longo desta corre uma pequena peça de madeira – de dimensões diferentes para cada uma das escalas – chamada soalha. Em cada uma das arestas do virote encontra-se uma escala de acordo com as dimensões da soalha a utilizar. Numa observação nocturna o observador olha pelo orifício, na extremidade do virote, de forma a ver a estrela tangente à aresta superior da soalha e o horizonte tangente à aresta inferior. Porque o Sol não pode ser visado directamente, quando se pretendia medir a sua altura, a observação era feita de revés, isto é, de costas para o astro. Neste caso, a sombra da aresta superior deveria ser projectada no meio da soalha deslizante e, simultaneamente, fazer esta coincidir com a linha do horizonte. Se atentarmos bem no seu princípio de funcionamento facilmente se conclui que é idêntico ao do kamal, ou «balestilha do mouro», instrumento encontrado em uso nos pilotos árabes no Índico, e descoberto logo na primeira viagem de Vasco da Gama. A balestilha foi o primeiro instrumento de navegação astronómica a ter como referência o horizonte de mar.
A maior parte das balestilhas antigas que chegaram até nós são em marfim e foram construídas na Holanda, entre 1596 e 1805.
Com todos estes instrumentos tivemos oportunidade de fazer inúmeras observações, a bordo do Navio-Escola «Sagres», comparando-as com as leituras do sextante (rigor de 1/10 de minuto). Da larga experiência recolhida verificámos que a balestilha é o instrumento mais preciso para observar o Sol de revés. O astrolábio raramente dá erros superiores a 15 minutos, durante o dia. À noite, devido ao seu peso e forma de utilizar para «enfiar as estrelas», o seu erro aumenta bastante. Neste caso o quadrante é de mais fácil utilização e produz, por isso, melhores resultados.
António Gonçalves
Bibliografia BARROS, João de, Ásia - primeira década, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1945 COTTER, Charles H., History of the Navigator’s Sextant, Glasgow, Brown, Son & Ferguson, 1983 REIS, A. Estácio dos, Medir Estrelas, Lisboa, CTT Correios, 1997 OLIVEIRA, Fernado, A Arte da Guerra do Mar, Lisboa, Ministério da Marinha, s.d.

Latitude
As técnicas de navegação usadas pelos primeiros marinheiros que exploraram as costas africanas tinham a sua origem no Mediterrâneo. Aí navegava‑se recorrendo ao chamado método de “rumo e estima”. Sabendo qual o rumo e a distância que unia os pontos de partida e de chegada, bastava navegar ao longo dessa direcção, estimando o piloto a distância percorrida.
O processo acima indicado serve perfeitamente para ser usado em distâncias relativamente curtas, como acontece no Mediterrâneo ou no caso de se navegar próximo de costa. No entanto, os erros associados a este processo vão‑se acumulando. Este problema tornou‑se importante quando, no regresso das terras para sul do Bojador, se tornou necessário fazer a volta pelo largo, navegando bastante tempo sem avistar qualquer terra. Existem fortes indícios que nos levam a supor que esta volta era praticada pelo menos desde finais da primeira metade do século X.
A mais antiga referência conhecida ao recurso a observações astronómicas para rectificar a posição é atribuída a Diogo Gomes. Este, cerca de 1460, refere que teria utilizado um quadrante para saber onde se encontrava, pela altura do pólo árctico, pois a posição que obtivera pela carta era afectada de maiores erros.
As primeiras observações de estrelas, ou melhor da Polar, que se encontra praticamente sobre o pólo norte, não serviam para calcular a latitude de um local mas simplesmente para conhecer quando o navio se encontrava sobre o mesmo paralelo de um local conhecido. Para tal bastava registar no quadrante o valor da altura lido em vários locais, para depois usar essa informação como uma conhecença.
Entretanto foi desenvolvido um regimento no qual eram explicadas as regras de utilização da altura da Estrela Polar para obtenção da latitude. Este regimento é necessário porque de facto a Polar não se encontra exactamente sobre o pólo Norte, mas executa uma pequena rotação em torno deste. Por outro lado, conforme se caminha para sul a estrela vai ficando cada vez mais próxima do horizonte até que desaparece quando se cruza o equador. O dito regimento não tem qualquer utilidade para quem navegue no hemisfério sul, sendo necessário encontrar outro processo de determinação da latitude.
A solução do problema foi o recurso à observação da altura do Sol no momento da sua passagem meridiana, isto é quando ele atinge a altura máxima no seu percurso diurno. Foram também desenvolvidos regimentos com as regras para cálculo da latitude, assim como almanaques que forneciam o valor da declinação do Sol para os diferentes dias do ano. João de Barros informa‑nos que na primeira viagem de Vasco da Gama teria sido determinada a latitude de um local com recurso a este processo, sendo ele conhecido, portanto, desde finais do século XV.
O cálculo da latitude pelo Sol poderia ser realizado em ambos os hemisférios. No entanto, conforme iam conhecendo melhor o céu do hemisfério sul os marinheiros portugueses, com o apoio dos astrólogos, desenvolveram também um regimento que permitia a determinação da latitude, durante a noite, recorrendo a estrelas que apenas são visíveis naquele hemisfério. Infelizmente nos céus do sul não existe uma estrela tão próxima do pólo como acontece com a Polar no hemisfério norte. O regimento do Cruzeiro do Sul estava elaborado nos primeiros anos do século XVI, embora a estrela desta constelação que era utilizada para o cálculo, a a Crucis, se encontre a uma distância de cerca de trinta graus do pólo sul.
Resumindo, a latitude é uma coordenada que pode ser obtida, com relativa facilidade, recorrendo a observações astronómicas. A observação do facto de que navegando para Norte ou para Sul, isto é variando a latitude, conduzia a uma alteração da altura da Estrela Polar levou ao aproveitamento desta variação para conhecer melhor a posição do navio no mar. Posteriormente foram desenvolvidos processos para cálculo desta coordenada, recorrendo à Polar, ao Sol ou a outras estrelas, quando aquela não se encontrava visível.
António Costa Canas
Bibliografia ALBUQUERQUE, Luís de, Introdução à História dos Descobrimentos Portugueses. 4ª ed., Mem Martins, Publicações Europa‑América, 1989. COSTA, Abel Fontoura da, A Marinharia dos Descobrimentos, 4ª ed., Lisboa, Edições Culturais de Marinha, 1983.

Livros de Marinharia
«A designação de “Livros de Marinharia”, ligado a documentos de natureza náutica do período da expansão, não corresponde a nenhum termo da época, e usa-se apenas pela necessidade de classificar um conjunto de textos do século XVI (até princípios do XVII), que constituem compilações de regras de navegação, associadas a colecções de roteiros, cujo número e abrangência depende da própria actividade do piloto que manuseou o trabalho. E é interessante seguir a explicação de Fontoura da Costa, sobre o termo “marinharia”, porque isso nos permite entender melhor o papel que desempenharam estes escritos. Segundo a sua opinião, “Marinharia, Arte de navegar, Sciência náutica” são três estádios do saber sobre a navegação, que podem comparar-se à “adolescência, juventude e virilidade” do Ser Humano. Hoje, com melhor propriedade, diríamos infância, juventude e idade adulta, mas o que importa reter do paralelismo estabelecido é a ideia de que a navegação teve uma fase primeira dominada pelo praticismo, que se caracteriza pela aplicação de procedimentos (mais do que conhecimentos) concretos que serviam para conduzir um navio a bom porto. E esta fase decorreu até ao final do século XVI, entendendo eu que mesmo a navegação astronómica – indispensável ao domínio do Atlântico e do Índico – se consubstanciava num sistema de regras práticas, tão simplificadas quanto possível, que funcionavam mas que não eram perfeitamente compreendidas pela maioria dos pilotos.
Os “Livros de Marinharia” são, assim, uma espécie de cadernos de apontamentos e notas de carácter utilitário, reunidas pelo piloto ao longo da vida, de acordo com a sua própria aprendizagem e experiência. Têm, na sua origem, um carácter pessoal, pressupondo muitos saberes não expressos, e, por isso, não lhe encontramos coerência científica ou didáctica. A sua leitura deixa-nos a impressão de uma enorme insuficiência técnica, que só era superada pela perícia profissional adquirida durante as sucessivas viagens. De forma mais ou menos exaustiva, os que até nós chegaram, contêm “regimentos da altura” do sol e de outras estrelas (Polar, Cruzeiro do Sul, etc.), com as respectivas tabelas; regras para cálculo de marés, com as fórmulas de cálculo da idade da lua; um “regimento das léguas” apresentado de forma gráfica ou tabular; normas para aterragem (“demandar um porto”); e uma colecção de roteiros elaborados pelo compilador, ou copiados e passados de mão em mão, acrescentados com notas pessoais.
Conhecem-se oito exemplares de documentos náuticos deste tipo. São eles o Livro de Francisco Rodrigues (ci. 1512); João de Lisboa (até meados do século XVI); Manuel Álvares (ci.1535); Bernardo Fernandes (ci. 1548); André Pires (ci. 1552); Pero Vaz Fragoso (ci. 1566); anónimo (ci. 1573); e o de Gaspar Moreira (posterior a 1595). As datações efectuadas são muito imprecisas, baseando-se em parâmetros largos, e a própria atribuição do nome de um piloto a cada um deles não quer dizer que o mesmo tenha sido elaborado por essa pessoa (provavelmente, nenhum deles foi elaborado por uma só pessoa). A prática historiográfica recente foi atribuindo nomes aos documentos, facilitando a sua identificação, mas o critério resulta do facto desse nome aparecer como referência dentro do texto. Nalguns casos porque há um ou outro roteiro cuja autoria se conhece, mas noutros apenas porque se identificou um dos múltiplos textos.
Os “Livros de Marinharia” são, pois, a expressão de um conhecimento prático e pouco sistematizado da navegação – a infância da navegação oceânica – que, apesar de tudo, foi aquele com que os navios portugueses do século XVI desbravaram todo o Atlântico e Índico, alcançando o Extremo Oriente.
Luís Jorge Semedo de Matos
Bibliografia
ALBUQUERQUE, Luís, O Livro de Marinharia de André Pires, Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1963.
ALBUQUERQUE, Luís, O Livro de Marinharia de Pero Vaz Fragoso, Coimbra, Centro de Estudos de Cartografia Antiga, 1977.
COSTA, Fontoura da, A Marinharia dos Descobrimentos, 4ª Ed., Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 1983.
REBELLO, Jacinto Ignacio de Brito, Livro de Marinharia, Tratado da Aguha de Marear de João de Lisboa, Lisboa, Imprensa de Libânio da Silva, 1903.

Moreira, Gaspar
Gaspar Moreira poderá ter sido o autor ou pelo menos o compilador, embora com fortes reservas, de um livro de marinharia comumente chamado de Livro de Marinharia de Gaspar Moreira. Com fortes reservas, pois nada há em toda a estrutura que compõe o dito Livro que autorize a afirmar inquestionavelmente a autoria, a não ser, e daí advir o seu título, a assinatura de "um" Gaspar Moreira nas suas páginas iniciais. Uma certeza existe porém: que um certo Gaspar Moreira manuseou o dito "Livro de Marinharia", ou pelo menos alguns dos seus textos.
A personagem e o seu percurso histórico são muito pouco conhecidos, pois dele apenas nos ficou a referida assinatura. Existe porém um homónimo com um percurso bem documentado na História das Navegações; desempenharia o ofício de sota-piloto nas embarcações que demandariam o Oriente, nos inícios do século XVII. Não podemos, porém afirmar que se trata de uma só pessoa, pois Frazão de Vasconcelos, que estudou esta biografia, encontrou na documentação uma assinatura bem díspar daquela que se encontra no manuscrito da Biblioteca Nacional de Paris.
O Livro de Marinharia dito de Gaspar Moreira foi organizado provavelmente após 1595, pois o mesmo contém as tábuas solares publicadas no Regimento Náutico de João Baptista Lavanha, precisamente nesse ano. É constituído por um conjunto de textos, entre os quais regras para a navegação e para a determinação de latitudes a partir das alturas meridianas de algumas estrelas, bem como roteiros de viagens para o Oriente.
O códice encontra-se actualmente no Fundo Português da Biblioteca Nacional de Paris, com o número 58, e foi publicado em 1977 por Léon Bourdon e Luís de Albuquerque.
José Alexandre Sousa
Bibliografia ALBUQUERQUE, Luís de, "Moreira, Gaspar", in Luís de Albuquerque (dir.), Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, vol. II, Lisboa, Caminho, 1994, p. 764.^ MOREIRA, Gaspar, Le "Livro de Marinharia" de Gaspar Moreira, introdução e notas de Léon Bourdon e Luís de Albuquerque, Lisboa, Junta de Investigações Científicas do Ultramar, 1977. VASCONCELOS, Frazão de, "Gaspar Moreira", in Pilotos das Navegações Portuguesas dos séculos XVI e XVII, Lisboa, Instituto para a Alta Cultura, 1942, pp. 22-23.

Náutica Mediterrânica (s. XIII-XIV)
Toda a problemática da náutica do Mediterrâneo, neste período, está de alguma forma centrada na questão dos portulanos. No entanto, outras questões fundamentais se colocam. Na realidade, o portulano, segundo Bacchisio Motzo (c.1250-1265), seria composto por duas partes: a primeira, um guia escrito com indicações relativas à navegação no Mediterrâneo e, a segunda, uma carta náutica que o ilustrava. Numa primeira fase o portulano corresponderia, grosso modo, ao roteiro português do século XVI e ao Périplo da Antiguidade. Esta equivalência é facilmente admitida se observarmos o conteúdo da informação aí existente. Basicamente, o que encontramos no portulano é a mesma linguagem simples e técnica dos roteiros destinada aos pouco cultos, e muito práticos, homens do mar: os pilotos. Pode, desta forma, considerar-se o antepassado dos actuais Pilots e Roteiros que descrevem, com grande pormenor, as costas, portos, conhecenças, distâncias, ventos e correntes de todo o globo. Por seu turno, a carta-portulano, porque criada numa época ainda com poucos recursos técnicos, limitava-se a definir os rumos e as distâncias entre os pontos referenciados, e que mais não eram do que os portos que serviam de escala, por motivos comerciais, ou não, à navegação coeva. Os rumos assinalados referiam-se, muito provavelmente, a rumos magnéticos e as distâncias, em milhas, e posteriormente em léguas. Este auxiliar precioso para a navegação terá aparecido no século XIII, segundo tudo o indica. O grande pormenor de toda a orla costeira, com quase total ausência de informação e definição do interior, seguramente atesta a origem náutica da carta-portulano. Tudo leva a crer, por isso, que se a carta-portulano servia as navegações, certamente terá tido nesse meio a sua origem. A existência de cartas-portulano a bordo encontra-se documentada pelo menos a partir de 1294. Embora não comprovada, a sua origem foi, muito provavelmente, genovesa ou veneziana. É que as mais antigas cartas-portulano conhecidas ilustram, com maior rigor, as zonas navegadas por estes marinheiros. Posteriormente, os conhecimentos necessários à sua elaboração terão passado para os marinheiros aragoneses, maiorquinos, franceses e portugueses. As cartas mais antigas continham 16 linhas de rumo a partir da rosa-dos-ventos. Mais tarde, já no século XV, passaram a ter 32 linhas de rumo. Esta melhoria no rigor esteve certamente ligada ao aperfeiçoamento das agulhas magnéticas, e da sua graduação, existentes a bordo. Não menos importante é o facto de ser a partir da referência magnética que se passou a orientar as cartas para o Norte, ou seja, com o aspecto que ainda hoje têm: o Norte «para cima». Quanto à navegação levada a cabo no Mediterrâneo, ela era do tipo «rumo e estima», ou navegação estimada. Ao navegar a uma determinada proa magnética, e com conhecimento do abatimento do navio, provocado por ventos e correntes, o piloto conseguia, com algum rigor, determinar a posição futura e corrigir esse abatimento. Deveria também existir, a exemplo das tábuas utilizadas pelos navios portugueses, para determinar a distância percorrida em função da intensidade do vento, um processo idêntico tanto para navios à vela como a remos. É que de outra forma seria impossível fazer estima, sem se ter uma noção do andamento do navio. Peça fundamental neste tipo de navegação era a agulha magnética, ou bússola, utilizada no Mediterrâneo, de acordo com a documentação, a partir do final do século XII ou, mais seguramente, início do século XIII. Este instrumento de simples concepção não terá sofrido grandes alterações ao longo dos tempos.
Quanto à toleta de marteloio, que muitos autores julgam ter sido amplamente utilizada, esta requeria, da parte dos pilotos, alguns conhecimentos de aritmética e matemática. Conhecimentos estes que, de acordo com a formação dos homens do mar, eles não teriam. Para além disso, existindo nas cartas uma, ou mais, escalas de distâncias, pensamos que de uma forma gráfica, e muito mais simples, se poderiam conhecer os factores alargar, avançar, retorno e avanço, que constam da tabela. Não devemos esquecer que a carta de Andrea Bianco, onde se encontra a toleta, não era uma carta para homens do mar, mas um objecto de luxo acerca do conhecimento geográfico coevo.
O prumo de mão, já conhecido dos romanos, foi certamente utilizado neste período para determinar as profundidades que eram implantadas nas cartas e, mais importante, saber se o navio podia praticar, em segurança, um determinado porto ou fundeadouro.
António Gonçalves
Bibliografia ALBUQUERQUE, Luís de, Os antecedentes históricos das técnicas de navegação e cartografia na época dos Descobrimentos, Lisboa, CNPCDP, 1988 CORTESÃO, Armando, Cartografia Portuguesa Antiga, Lisboa, Comissão das Comemorações do Infante D. Henrique, 1958 COSTA, Abel Fontoura da, A Marinharia dos Descobrimentos, 4ª edição, Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 1983 MOTA, Avelino Teixeira da, «A Arte de Navegar no Mediterrâneo nos séculos XIII-XVII e a criação da Navegação Astronómica no Atlântico e Índico» (1957), in Anais do Clube Militar Naval, número especial, Lisboa, 1997, pp.7-26.

Nunes, Pedro
Nascido em Alcácer do Sal, em 1502, e falecido em Coimbra a 11 de Agosto de 1578, também conhecido pela versão latinizada do seu nome, Petrus Nonius Salaciensis (determinativo derivado do velho nome romano de Alcácer), foi um dos grande vultos da cultura humanista em Portugal e porventura o maior matemático e cientista português do século XVI.
Parece indiscutível ter ascendência judaica, mas ao contrário do que viria a suceder, no século seguinte, com os seus netos, nunca teve problemas com o Santo Ofício, talvez devido ao grande prestígio de que sempre gozou nos meios intelectuais e junto da Corte. Além disso, mesmo tendo tido antepassados judeus, os seus escritos não denunciam qualquer indício de ter sido judaizante - ainda que Diogo de Sá lhe tenha dirigido um ataque em De Nauigatione Libri Tres (1549), por algo que Nunes teria escrito numa dos seus textos, o que poderia denunciar, como sugeriu Joaquim Bensaúde, que as suas obras de carácter científico encontrariam alguma resistência junto dos meios mais fervorosamente católicos (isto numa época em que se exacerbavam as diferenças entre credos numa Europa dividida pela Reforma); pelo contrário, o corpus das suas obras comprova antes a sua forma-ção cristã, dentro dos princípios da Igreja Católica, e de que talvez a dedicatória do seu De Crepusculis (1542) constitui o melhor exemplo.
Sabemos pouco sobre os seus primeiros anos (ironicamente, os principais testemunhos sobre essa fase da vida de Pedro Nunes encontram-se coligidos nos processos que a Inquisição moveu aos seus netos, na década de 1620). Passou a sua infância em Alcácer, então uma das mais prósperas vilas da comarca de Entre-Tejo-e-Odiana, onde permaneceu até vir para Lisboa; na capital do Reino iniciou os estudos em Artes, Matemática e Medicina (bacharelando-se na primeira daquelas discipli-nas em 1526).
Durante muito tempo, assumiu-se que tivesse também frequentado as Universidades de Salamanca e de Alcalá de Henares, embora o seu nome não constasse nos arquivos de nenhuma dessas escolas; porém, graças ao estudo de Joaquim Veríssimo Serrão sobre os alunos portugueses em Salamanca, comprovou-se a sua presença, pelo menos, na primeira daquelas escolas, desde 1517 (um documento datado de 29 de Maio de 1526 dá-o como tendo sido eleito conselheiro da Universi-dade salamantina). Em 1523, entretanto, havia-se casado com Guiomar Áreas, enlace do qual nasce-ram quatro filhas e dois filhos.
Ignoram-se as condições em, entretanto, que regressou a Portugal. O testemunho dos netos dá conta do interesse que D. João III tinha no promissor matemático, tendo-o mandado chamar de Salamanca. Tão-pouco se sabe o que esteve por trás da estima régia; sugerem alguns que a família de Pedro Nunes tivesse boas ligações com elementos da Corte, mas sem provas que o sustentem. Ao retornar à Pátria, é nomeado docente na Universidade de Lisboa (4 de Dezembro de 1529), onde irá reger as velhas disciplinas do triuuium. Assim, começa por leccionar a cadeira de Filosofia Moral; a partir de 15 de Janeiro seguinte, é nomeado também para a regência de Lógica. Contudo, parece que o seu ensino - pensa-se que regido pelas teses nominalistas - não cativaria os estudantes, sendo que, a partir de 4 de Abril de 1531, por decisão do Reitor, as suas duas lições de Filosofia deve-riam ser substituídas por somente uma de Metafísica.
Em 16 de Fevereiro de 1532 obteve o grau de Doutor em Medicina pela Universidade de Lisboa, após o que renuncia ao ensino público, talvez descontente com a decisão da Universidade no ano transacto; manteve-se, no entanto, como Mestre de Matemática dos irmãos mais novos de D. João III - os infantes D. Luís (Duque de Beja e futuro Prior do Crato) e D. Henrique (o futuro Cardeal-Rei) - facto a que alude na já citada dedicatória do De Crepusculis. Retorna à docência universitária, leccionando Matemática a partir de 16 de Outubro de 1544 (já com a Universidade sediada em Coimbra), até se aposentar, em 4 de Fevereiro de 1562. Porém, essa docência foi bastantes vezes entrecortada por deslocações periódicas mais ou menos longas a Lisboa, ditadas pelo seu exercício do cargo de cosmógrafo real (para o qual fora nomeado por alvará régio de 16 de Novembro de 1529), pelo qual recebia uma tença anual de vinte mil réis (que passaram a quarenta mil quando em 1541 foi confirmado no cargo, talvez como recompensa pela sua boa prestação); em 1547, D. João III designou-o para o cargo de cosmógrafo-mor do Reino, passando a auferir de um vencimento que se elevava aos cinquenta mil réis anuais. No exercício desse cargo terá composto um Regimento do Cosmógrafo-mor (1559), o qual no entanto, não chegou até nós, deduzindo-se a sua existência apenas pelo Regimento de 1592. Um ano após a sua nomeação como cosmógrafo-mor, o Rei fê-lo também cava-leiro da Ordem de Cristo, o que lhe conferia ainda mais prestígio e maiores rendimentos. O monarca, de resto, dispensava tanta protecção a Pedro Nunes que ordenou mesmo à Universidade que pagas-se os vencimentos correspondentes aos períodos de ausência do matemático em Lisboa, no exercí-cio das suas funções oficiais, o que muito irritava os membros da academia conimbricence.
A partir da sua jubilação, e ao longo dos dez anos subsequentes, manteve-se afastado da Corte, em Coimbra, não exercendo mais as funções de cosmógrafo-mor (embora não tivesse sido substituído no cargo); nesse período coligiu diversos privilégios, entre os quais uma significativa tença por haver sido mestre do Infante D. Luís. Em 25 de Abril de 1572, contudo, D. Sebastião chama-o de volta a Lisboa (oferecendo-lhe oitenta mil reais anuais), a fim de volver aos seus trabalhos de cosmogra-fia, e à leccionação de uma «Aula de Esfera», onde ensinaria os novos pilotos, procurando articular o saber científico adquirido na escola com a prática empírica dos mareantes (evidenciando-se assim em defesa do experimentalismo); tal, porém, não só não teve grandes resultados, como também lhe valeu vários atritos com os homens do mar (de resto, no Tratado em Defensão da Carta de Marear, de 1537, já houvera escrito: «bem sey quam mal sofrem os pilotos que fale na Índia quem nunca foy nella, e pratique no mar quem nelle nam entrou»).
Em 1577, tão estabelecida se achava já a sua fama, que o Papa Gregório XIII encarregou-o do seu último grande trabalho, pedindo-lhe para se pronunciar acerca da reforma do calendário (que veio a ser conhecido como «gregoriano», e que viria a ser adoptado em 1583); a sua morte, um ano mais tarde, porém, tolheu-lhe essa tarefa.
Desta figura do Renascimento português conhecem-se os seguintes escritos (mencionados por ordem cronológica de edição):
a) Tratado da Esfera (1537), tradução cuidada e comentada do De Sphæra do inglês John of Holywood (aliás, João de Sacrobosco), acompanhado das versões em português da Teórica do Sol e da Lua, do alemão Georg von Peuerbach (Jorge Purbáquio), e do Livro I da Geografia de Ptolomeu, bem como ainda de dois pequenos tratados originais de sua autoria: o Tratado de Certas Dúvidas da Navegação (onde responde às questões que Martim Afonso de Sousa lhe colocara sobre as navegações a Sul do Equador) e o Tratado em Defensão da Carta de Marear (no qual introduz o conceito das loxodrómias - linhas cruzando todos os meridianos a um mesmo ângulo - mais tarde aproveitado pelo neerlandês Gerard Mecator para conceber a projecção cartográfica que ostenta o seu nome); b) Astronomici Introductori de Sphæra Epitome, pequeno opúsculo não datado, um resumo do Tratado da Esfera, que a maior parte dos investigadores supõe ter sido elaborado posteriormente a 1537; c) De Crepusculis (1542, reeditado em 1571), porventura a sua obra mais original, foi (ao contrário do Tratado da Esfera) publicada em latim - dado ser a lingua franca dos humanistas -, o que lhe deu maior projecção e prestígio (não só a nível nacional como também internacional); nela descreve a variação do crepúsculo de acordo com as latitudes e as estações do ano, e alude ainda ao nónio (ins-trumento de medição cujo nome retirou do seu patronímico latino, e que seria mais tarde aperfeiçoa-do por Pierre Vernier); d) De Erratis Orontii Finei (1546, reeditado em 1572), onde rebate a solução encontrada pelo matemático francês Oronce Finé para resolver três problemas clássicos da geometria (duplicação do cubo, quadratura do círculo e trissecção de um ângulo); e) Petri Nonii Salaciensis Opera (1566), impresso em Basileia, onde compila vários dos seus trabalhos anteriores e outros até então inéditos; foi um grande sucesso, ao ponto de ter tido nova reimpressão em 1592; f) Libro de Algebra en Arithmetica y Geometría (1567), editado em castelhano, em Antuérpia, ainda que o próprio Pedro Nunes afirme tê-lo escrito trinta anos antes em português, e no qual critica os algebristas do seu tempo; g) De Arte atque Nauigandi Libri Duo (1573, embora se admita uma edição anterior de 1546), onde aborda, como o título indica, questões ligadas à arte de navegar; h) enfim, a Defensão do Tratado de Rumação do Globo para a Arte de Navegar, inédito até ao século XX, descoberto por Joaquim de Carvalho na Biblioteca Nazionale di Firenze e dado à estampa em 1952.
Pedro Nunes alude ainda a outras obras por si escritas (Tratado sobre os Triângulos Esféricos, Anotação à Mecânica de Aristóteles, De Ortu et Occasu Signorum, De Astrolabio Opus Demonstratiuum, De Planisphærio Geometrico, De Proportione in Quintum Euclidis, De Globo Delineando ad Nauigandi Artem), as quais estão dadas como perdidas. É provável que também tivesse efectuado uma tradução comentada do De Architectura, de Vitrúvio.
As suas obras cedo conheceram significativa repercussão na Europa, sendo reconhecido como génio ainda vivo; a sua notoriedade, porém, não esmoreceu após a morte. Assim, por exemplo, John Dee, cosmógrafo da rainha Isabel I de Inglaterra, alude a «Petrus Nonius Salaciensis» numa das suas cartas a Gerard Mercator, chamando-lhe «uiro [& ] eruditissimo grauissimoque» (homem eruditíssimo e ilustríssimo) - de resto, Dee, temendo a sua morte (numa Inglaterra agitada por grandes convulsões religiosas), e testemunhando uma viva e profunda amizade pelo sábio português, afirma nessa mesma carta desejar legar os seus escritos e demais pertences a Pedro Nunes. De igual forma, sabe-se que Pedro Nunes também manteve correspondência epistolar com outros humanistas da época.
O mais importante cultor noniano, porém, terá sido o jesuíta alemão Christopher Clavius, que estudou em Coimbra entre 1555 e 1560, quando o matemático português ainda aí leccionava (embora talvez nunca tenha sido seu aluno), e que demonstra um profundo conhecimento da sua obra, tendo-a comentado em vários dos seus trabalhos e divulgado no seio da Companhia de Jesus. Foi por essa via, de resto, que o seu nome passou a figurar ao lado de outros grandes matemáticos e que a sua obra tem vindo a ser continuamente estudada desde então. André Leitão
Bibliografia
ALBUQUERQUE, Luís de, «Pedro Nunes e os homens do mar do seu tempo», Oceanos. Pedro Nunes, n.º 49, [Lisboa], CNCDP, 2002, pp. 143-147.
International Conference Petri Nonii Salaciensis Opera. Proceedings, ed. by Luís Trabucho de Campos, Henrique Leitão and João Filipe Queirós, [Lisboa], Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa / Departamento de Matemática, 2003.
LEITÃO, Henrique de Sousa, O Comentário de Pedro Nunes à Navegação a Remos. In Problema Mechanicum Aristotelis de Motu Nauigj ex Remis, Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 2002.
NUNES, Pedro, Obras, 3 vols., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 2002- [em curso de pulbi-cação].
Oceanos. Pedro Nunes, org. de Francisco Contente Domingues e Henrique Leitão, n.º 49, [Lisboa], CNCDP, 2002.
Pedro Nunes, 1502-1578. Novas terras, novos mares e o que mays he: novo ceo e novas estrellas, coord. de Henrique de Sousa Leitão, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2002.
Pedro Nunes e Damião de Góis. Dois Rostos do Humanismo Português, coord. de Aires A. Nascimento, Lisboa, Guimarães Editores, 2002.

Perestrelo, Manuel de Mesquita
Viajante, aventureiro, hidrógrafo e cartógrafo, Manuel Mesquita Perestrelo nasceu provavelmente na segunda década de Quinhentos em Santo Estêvão, concelho de Alenquer (onde estará enterrado), sendo parente de Cristóvão Colombo pelo lado materno. A primeira viagem à Índia é de 1547 e em 1549 inicia a segunda. No regresso (1554) a nau em que seguia (a S.Bento) naufraga perto do rio do Infante na África do Sul. Da sua experiência que incluiu uma marcha forçada até Moçambique nasceu um relato do naufrágio, publicado em Coimbra em 1564, que mais tarde foi incluído na História Trágico Marítima. Depois de uma breve passagem por S. Jorge da Mina, que lhe valeu o cárcere e o exílio em Espanha, regressa ao Oriente em 1570 (já depois de perdoado) como capitão de Maluco. Em 1575-6 é enviado à costa sul e sueste de África fazer um levantamento cartográfico dessa área. Após esta tarefa escreve um importante Roteiro dos portos, derrotas, alturas, cabos, conhecenças, resguardos e sondas, que ha perto da costa desde o Cabo da Boa Esperança até o das Correntes, descrevendo uma zona de navegação difícil mas de forma que este roteiro foi utilizado até aos inícios do século XVIII, pelo menos. Conhecem-se três exemplares; um na Biblioteca Pública de Évora, um na Biblioteca Pública Municipal do Porto e o terceiro no British Museum. À importância náutica do Roteiro acresce o valor da carta que o acompanha e as oito vistas altimétricas da costa. O Roteiro e o relato do naufrágio são duas obras que deram relevo ao seu autor e que nos dão grande parte das informações sobre a vida de uma figura de relevo na vida marítima do século XVI português.
Rui Godinho
Bibliografia
PERESTRELO, Manuel Mesquita, Roteiro da África do Sul e Sueste desde o Cabo da Boa Esperança até ao das Correntes, notas por A. Fontoura da Costa, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1939.
VELEZ, Ilda Azinhais, Manuel Mesquita Perestrelo. Naufrágio da Nau S.Bento, Coimbra, [Dissertação de Mestrado em Literatura Portuguesa apresentada à Faculdade de Letras de Coimbra], 1992.

Guias náuticos
Clique na imagem para a ampliar
A designação de Guias Náuticos e a sua definição têm o cunho do historiador Luís Albuquerque, que pela primeira vez a eles se refere numa pequeno artigo publicado em Abril de 1960, na Revista da Universidade de Coimbra, com o título � O primeiro guia náutico português e o problema das latitudes na marinharia dos séculos XV e XVI". Admito como provável que o ambiente de discussão historiográfica que rodeou as comemorações henriquinas, tenha admitido e aceite a designação, de que não conheço qualquer contestação e que é corroborada por alguns pares do autor. O texto em causa - como o próprio indica - é � tirado da introdução escrita para uma edição comentada dos guias náuticos de Munique e Évora� que só viriam a ser publicados em 1965. Mas antes ainda desta publicação, o mesmo autor escreveu um pequeno (mas denso) artigo no Dicionário de História de Portugal (dirigido por Joel Serrão), onde anuncia a breve edição comentada dos textos de Évora e Munique, fornecendo mais alguns dados sobre o que lhe parece poder ser a base de definição de um Guia Náutico. Trata-se, no seu essencial, de um compêndio onde constam noções de geometria esférica - neste caso uma tradução parcial e adaptada do Tratado da Esfera de Sacrobosco - a apresentação de tábuas solares, destinadas ao cálculo de latitudes pela (não vale a pena discutir os pormenores que diferem de um para outro texto), um regimento do Norte, um importantíssimo regimento das léguas, indispensável à compreensão da variação dos graus de paralelo com a latitude do lugar, e ainda umas listas de longitudes de portos frequentados pelos portugueses, numa das obras apenas até ao Equador, mas na outra até ao Oceano Índico com acrescentos de locais do Extremo Oriente.
Pouco importa discutir agora as questões técnicas que envolvem os dois textos portugueses, aceitando a ideia de que foram reunidos e publicados com o objectivo explícito de concorrerem na formação técnica dos pilotos, dada a importância desse cargo. Albuquerque identifica-lhes este objectivo que parece não ter tido contestação, numa altura e que seriam fáceis as controvérsias, mantendo a designação por toda a década de sessenta (corroborado por Armando Cortesão no prefácio da Edição de 1965), e reiterando-a aquando da publicação da Arte de Navegar, de Manuel Pimentel em 1969. Neste último texto encontramos uma introdução onde os três colaboradores anuem no facto de que se está na presença de mais um livro que podia ter sido chamado de Guia Náutico, apesar de que a técnica de navegação e a estrutura destes mesmos compêndios tinha evoluído, o que é próprio de duzentos anos de aprendizagem.
Sobre os primeiros Guias Náuticos tinham passado, entretanto, todo o século XVI, onde proliferaram textos práticos como compilações recolhidas de forma aleatória e acrescentadas ou corrigidas por pilotos mais aplicados ou atentos. Texto que, de um modo ou de outro, se chocam com a própria concepção de ensino da náutica (Pedro Nunes), que preconiza uma sólida formação teórica em matemática, exigindo uma compreensão da esfera para um manuseamento correcto das cartas e delineamento das derrotas. É uma discussão que também não cabe aqui analisar, mas importa referir que o Tratado da Esfera (tradução de Sacrobosco), publicado em 1537 por Pedro Nunes, incluindo o primeiro capítulo da Geografia de Ptolomeu, e mais alguns comentários e textos explicativos sobre derrotas e cartas de navegar, tem a estrutura de um Guia Náutico e, de certo modo, vem na continuidade da sua nomeação para o cargo de Cosmógrafo-Mor, em 1529. Não sabemos até que ponto conseguiu lançar as sementes de uma seara que desejava fosse vastíssima, mas é verdade que não teve grande êxito a curto prazo. Segundo as críticas de quem navegava, os seus estudos e prédicas eram demasiado teóricas, inacessíveis aos parcos conhecimentos dos pilotos, que se revoltavam inconformados com tanta coisa complexa que tinham de estudar e aprender. No fundo, quando chegavam a altura de fazer o seu exame, já tinham muitos anos de mar, e não entendiam que a compreensão dos conceitos lhes daria outra dimensão de actuação e a possibilidade de descobertas e soluções que se tornavam impossíveis na rotina que aceitavam..
Clique na imagem para a ampliar
A revolução do ensino da náutica parece só ter ocorrido pelos anos 90 do século XVI, e pela acção de João Baptista Lavanha que em 1595 publica uma obra intitulada Regimento Náutico, com o objectivo expresso de dar formação aos pilotos e servir de guia na sua acção profissional. Trata-se de uma compilação conhecimentos de geometria e do movimento dos céus, sem as medições rigorosas que exigiam os matemáticos e cosmógrafos, aligeiradas para simplificar as contas de quem andava a bordo. Na entrada do Regimento de Lavanha, o próprio autor pede desculpa aos matemáticos dos erros que vão encontrar, justificando-o com a prática e as necessidades dos pilotos, que assim aprendem o indispensável ao exercício da sua profissão. O texto tem, indubitavelmente, um carácter inovador, mas é de justiça referir as semelhanças estruturais com alguns dos que, há alguns anos, vinham sendo publicados em Castela, nomeadamente os de Pedro de Medina e Rodrigo Zamorano. Todos estes caberiam dentro da designação de Guias Náuticos, se, entretanto, não se fosse popularizando o título de Regimento Náutico (de origem espanhola) e, mais tarde, a Prática da Arte de Navegar ou, simplesmente, Arte de navegar que vão ser os títulos das obras dos cosmógrafos Luís Serrão Pimentel e Manuel Pimentel. Estes últimos dão continuidade ao processo encetado por Manuel Figueiredo - o cosmógrafo que substituiu temporariamente Lavanha no princípio do sec. XVII - que em 1606 publicou a Hydrographia, Exame de Pilotos, no qual se contem as regras Que todo o Piloto deue guardar em suas nauegações, assi no Sol, variação da agulha ... etc.. Talvez que seja a primeira obra escrita por um cosmógrafo, com um intuito oficial directamente relacionado com formação e apreciação dos pilotos, correspodendo plenamente à definição de Luís Albuquerque para um Guia Náutico. Nele se encontram as regras da esfera, a geometria necessária, o uso das tábuas astronómicas, cálculos de altura de marés e muitas outras normas indispensáveis a uma navegação segura, agora acrescentadas por um conjunto vasto de roteiros. Um vade-mecum para qualquer piloto, a que deveria acrescentar-se a experiência adequada para bem ler e interpretar os sinais do mar, e usar as capacidades dos navios.
Apenas como comentário final ao desenvolvimento que tiveram os primitivos Guias Náuticos - depois Regimentos Náuticos e livros de Arte de Navegar - julgo interessante salientar que o carácter teórico ou generalista da formação parece acentuar-se cada vez mais, sendo notório com a passagem ao século XVIII. O conteúdo do livro de Manuel Pimentel - que já não é acompanhado de roteiros - segue uma linha de saber específico que obrigava ao estudo da matemática e geometria, cada vez menos substituíveis pela pura prática de mar. Na verdade, os pilotos já nada tinham a ver com os ofícios mecânicos medievais, a sua formação caminhava para uma institucionalização absoluta, desenhando-se progressivamente a formação global e integrada do oficial da marinha e do piloto. No Tratado Completo da Navegação publicado em 1779 por Francisco Xavier do Rego, esta vertente é ainda mais nítida. A definição que dá no princípio do primeiro capítulo é paradigmática do espírito que atravessa toda a obra: � He a navegação uma sciencia que ensina a governar hum Navio no mar, e a levallo a qualquer Porto� . Ou seja, a formação do piloto deixa de se cingir à aprendizagem concreta de umas quantas técnicas que lhe permitem trabalhar numa carreira específica, passando a ser vista como a aprendizagem de conceitos generalizáveis, que requerem o domínio de alguns conceitos científicos, e são aplicáveis em todas as circunstâncias e caminhos do mar. E a esta ideia se adaptam os novos Guias Náuticos, como não podia deixar de ser.
Luís Jorge Semedo de Matos
Bibliografia
ALBUQUERQUE, Luís, Curso de História da Náutica, Coimbra, Almedina, 1972.
ALBUQUERQUE, Luís, Os Guias Náuticos de Munich e Évora, Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1965.
FIGUEIREDO, Manuel de, Hydrographia, Exame de Pilotos,... etc., Lisboa, Vicente Alvarez, 1614
PIMENTEL, Manuel, Arte de Navegar, Comentada e anotada por Armando Cortesão, Fernanda Aleixo e Luís Albuquerque, Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1969

Junta de Badajoz-Elvas
A Junta de Badajoz-Elvas reuniu entre Abril e Maio de 1524 especialistas representantes do rei de Portugal e do imperador Carlos V (soberano do restante território peninsular), com o intuito de solucionar o problema do direito de posse das ilhas Molucas, no Extremo Oriente, onde recentemente tinham aportado dois navios da esquadra de Fernão de Magalhães, dos quais um tinha alcançado Sevilha, com uma carga de especiarias e outros produtos orientais.
Sem querer alongar-me muito sobre os antecedentes deste problema, é importante explicar que ele decorre dos termos do próprio Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, quando os reinos ibéricos dividiram o espaço Atlântico das suas navegações e conquistas, através de uma “linha direita de pólo a pólo” que deveria passar “a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde para a parte do poente”. Em termos práticos, este acordo resolvia os conflitos de interesses levantados pela recente viagem de Cristóvão Colombo, e as explorações portuguesas no Atlântico Sul, que já tinham dobrado o Cabo da Boa Esperança e procuravam encontrar um caminho marítimo de acesso à Índia. Não sei se a evolução do problema foi mais rápida do que a poderiam adivinhar os intervenientes de 1494, mas cerca de três décadas depois desta assinatura, os portugueses tinham conquistado Malaca e alcançado as Molucas, enquanto uma esquadra espanhola, inicialmente comandada por Fernão de Magalhães, cruzara o Pacífico e alcançara essas mesmas ilhas. Colocava-se, portanto, o problema de delimitar no Extremo Oriente as duas áreas para que havia apenas uma fronteira no Atlântico. Quando Fernão de Magalhães partiu de Sevilha em 1519, D. Manuel colocara a Carlos V o problema da invasão de regiões sob jurisdição portuguesa, ao que o Imperador garantira que isso nunca iria acontecer, e que tal fora ordenado de forma expressa ao Capitão-Mor. Mas quando, em 1522, a nau Victoria (única sobrevivente) chegava a S. Lucar de Barrameda carregada de cravo, noz-moscada e sândalo, o conflito parecia inevitável. O novo soberano português, D. João III, apresentava os seus protestos a Carlos V e a resposta era a que se podia adivinhar: as ilhas onde tinham estados os navios espanhóis, onde se contavam as Molucas, não podiam ser reclamadas pelos portugueses, porque, numa consequência óbvia de Tordesilhas, estariam no hemisfério castelhano.
O problema afigurava-se tecnicamente bicudo, logo à partida porque não tinha havido uma demarcação rigorosa da “linha direita de pólo a pólo” que devia passar 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Mas, pior do que isso, não vejo como fosse possível calcular e marcar os 180º de longitude terrestre indispensáveis para que se soubesse onde passaria o prolongamento oriental dessa linha, completando o meridiano e definindo os dois hemisférios em causa. Esta coordenada apenas se podia estimar, em função do andamento dos navios, ajustando (e ajustando-se) os dados tradicionais dos cosmógrafos antigos. De forma que na proximidade dos limites, quando dois ou três graus podiam fazer a diferença, as certezas são impossíveis, e a argumentação passa a ser política com mais ou menos fundamento jurídico.
Se olharmos para o planisfério português anónimo de 1502 (dito Cantino), tomando como escala da medida de um grau equatorial a distância entre os trópicos e o equador, veremos que, mesmo com as dificuldades referidas, está praticamente certa a largura do continente africano e a distância à Índia. Imaginando que as viagens sequentes, até Malaca, Banda e Molucas, deram uma noção (mesmo que vaga) do espaço percorrido, é impossível não pensar que os próprios portugueses foram tomando consciência do problema diplomático que vinha a caminho, quando os espanhóis percebessem até onde estavam a navegar os navios nacionais. Em boa razão, a disputa estava latente desde Tordesilhas, desencadear-se-ia mais dia ou menos dia, e foi nessa base que Magalhães apresentou o seu projecto a Carlos V, que não hesitou em aceitá-lo.
Os dois reinos decidiram, então, reunir uma “junta de especialistas” que debateriam o problema da delimitação oriental das suas zonas de influência, de forma a acordar a quem caberia a posse das longínquas Molucas, cujo comércio se revelava com valor significativo. Essa junta reuniu-se de 11 de Abril a 31 de Maio de 1524, sobre a ponte do rio Caia, entre Elvas e Badajoz, mas os resultados concretos foram absolutamente nulos, como seria de esperar.
D. João III sabia que não era possível fazer a delimitação com base em “verdades geográficas” incontestáveis, de forma que deu instruções para que fosse recusada toda a argumentação de cartógrafos e cosmógrafos, afirmando a sua soberania com base numa presença, de facto, desde há mais de uma década. Era um argumento juridicamente importante desde que tivesse força política para o impor, ou, por outras palavras, desde que Carlos V não estivesse disposto a combater pelas Molucas, o que era o caso. Nenhuma das partes queria que a dissidência resultasse em conflito violento, pelo que uma solução política era possível. Provisoriamente, ficou aceite que os direitos de comércio nas Molucas seriam portugueses, mediante o pagamento de 40 000 ducados anuais, que (ainda por cima) ficavam por conta do dote de D. Catarina, ainda em dívida a Portugal. E este foi o acordo imediato que se seguiu à “conversa de surdos” que foi a Junta de Badajoz-Elvas. Em 1529, com o tratado de Saragoça, foi concedida a posse definitiva do ocmércio das Molucas a Portugal, pela quantia de 350 000 ducados.
Não é certo que Portugal tenha pago esta quantia na totalidade e, hoje, pouco importa saber que as Molucas estavam, de facto, no hemisfério português, pela insignificante diferença de cerca de dois graus. O assunto, aliás, viria a perder importância nas últimas décadas do século XVI, fosse pela união das coroas ibéricas, fosse porque o comércio do cravo nunca atingiu a importância que se chegou a pensar.
Luís Jorge Semedo de Matos
Bibliografia
ALBUQUERQUE, Luís, O Tratado de Tordesilhas e dificuldades técnicas da sua aplicação rigorosa, sep. Revista da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1973.
FRADE, Florbela, A presença portuguesa nas Ilhas de Maluco: 1511-1605 (texto policopiado), Lisboa, 1999
MOTA, A. Teixeira da, A viagem de Fernão de Magalhães e a questão das Molucas, Actas do II Colóquio Luso-Espanhol de História Ultramarina, ed. org. por [...], Lisboa, Junta de Investigações Científicas do Ultramar, 1975.

Lisboa, João de
Foi um dos pilotos portugueses mais conhecidos do seu tempo. Quanto à data do seu nascimento ela situa-se, muito provavelmente, no início do segundo quartel do século XV, ou seja, ainda durante a vida do infante D. Henrique. Como foi prática durante muito tempo, João de Lisboa recebeu a sua instrução, como todos os outros pilotos coevos, a bordo dos navios. Apesar de diversos historiadores colocarem João de Lisboa nas armadas de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, ou mesmo a escrever o dito roteiro da primeira viagem de Vasco da Gama, atribuído a Álvaro Velho, nenhuma destas acções se encontra minimamente fundamentada para que o possamos admitir, sem reservas. No entanto, sendo João de Lisboa um bom e experiente piloto à data da realização das viagens acima mencionadas, não podemos excluir a hipótese de nelas ter participado. Segundo Varnhagen, citando o Resumo histórico chronologico e politico do descobrimento da América, de Alexandre Gusmão, João de Lisboa terá participado na expedição à costa brasileira, em 1501, capitaneada por Gonçalo Coelho. A sua estadia em terras brasileiras é quase uma certeza pois em várias cartas do século XVI – Lázaro Luís e Fernão Vaz Dourado – se encontra referenciado, no norte do Brasil – na latitude dos 3º S – um rio com o seu nome. No ano de 1506 João de Lisboa terá partido para o Oriente, talvez pela segunda vez, na armada de Tristão da Cunha. Em data incerta – 1513? – foi nomeado piloto-mor de Portugal e participou, possivelmente como piloto-mor, na expedição contra Azamor, comandada pelo duque de Bragança, D. Jaime. Na História Genealógica da Casa Real, Caetano de Sousa afirma, relativamente à composição da frota desta expedição, o seguinte: «... que segundo João de Lisboa diz éramos quatrocentas e trinta velas...». Cerca de 1514 compôs em Lisboa o seu Tratado da agulha de marear, com base nas suas observações levadas a cabo em Cochim, nos Açores e noutros locais. Parte novamente para a Índia em 1518, na armada que transportou o governador Diogo Lopes de Sequeira. Nesse mesmo ano D. Manuel atribui-lhe a tença de 10.000 reais que D. João III confirmou, em 1522. Em Fevereiro de 1523 o rei concede-lhe uma outra tença, de 4.000 reais. Entre 1521 e 1525 fez, tudo indica, outras viagens à Índia. Com a morte de Gonçalo Álvares, foi nomeado piloto mor da navegação da Índia e mar oceano, por carta de 12 de Janeiro de 1525. Voltou a embarcar para o Oriente onde provavelmente faleceu, em 1526. Prova disso mesmo é o facto de o seu cargo ter sido entregue, em 15 de Novembro desse ano, a Fernão de Afonso.
O seu Tratado da agulha de marear foi muito divulgado na época e muitos dos pilotos possuíam cópia das suas indicações, relativamente aos problemas das agulhas de bordo e ao seu noroestear/nordestear. Prova do que afirmamos é a existência de cópias do citado documento, ainda que com pequenas alterações, que se encontram nos Livros de Marinharia atribuídos a André Pires e Bernardo Fernandes. Relativamente à declinação magnética o autor critica o facto de os antigos não colocarem os ferros das agulhas – os ímanes – alinhados com a flor-de-lis. Isto permitia-lhes que a agulha indicasse o norte verdadeiro – pollo do mumdo – no local onde ela era construída, em vez de indicar o norte magnético. Mas quando daí se afastavam, começava a apresentar erros apreciáveis devido ao facto da declinação magnética variar de lugar para lugar. Constam também no seu texto as recomendações de João de Lisboa para se poder determinar, com rigor, a declinação magnética. É que não bastava azimutar a estrela Polar. Era necessário esperar que a estrela estivesse no meridiano do lugar. Isto, porque nessa altura, a estrela Polar estava afastada do Pólo celeste cerca de 3º40’, número que era arredondado para os 3º 30’. Hoje a estrela Polar está afastada do pólo cerca de 45’. Em função da declinação magnética, segundo João de Lisboa, o piloto podia determinar o meridiano em que se encontrava. Na realidade isto é falso pois não existe nenhuma relação entre a longitude e a declinação magnética. Mas nesta altura isso ainda não era conhecido. Foi D. João de Castro, no seu Roteiro de Lisboa a Goa, em 1538, que concluiu que este procedimento por parte dos pilotos era incorrecto.
Este tratado é o mais antigo texto conhecido acerca da forma de determinar a declinação magnética de um local. Para além disso descreve, de uma forma pormenorizada, os passos que devem ser dados na construção de uma agulha de marear. O códice tido como padrão, e que se encontra hoje nos ANTT, data de c.1550, mas no seu título é afirmado que este fora «achado», por João de Lisboa, em 1514. Nesta cópia, para além de se encontrar incompleta, o copista repetiu um capítulo com os números VII e IX, relativo à localização do meridiano vero.
António Gonçalves
Bibliografia ALBUQUERQUE, Luís de, O «Tratado da agulha de Marear» de João de Lisboa; reconstituição do seu texto, seguida de uma versão francesa com anotações, Coimbra, IICT, 1982. LISBOA, João de, Livro de Marinharia – Tratado da Agulha de Marear, copiado e coordenado por Jacinto Ignacio de Brito Rebello, Lisboa, Imprensa de Libanio da Silva, 1903 VITERBO, Sousa, Trabalhos Náuticos dos Portugueses – séculos XVI e XVII, Lisboa, INCM, s.d.

Longitude
Vimos que para a latitude existe um “ponto fixo” no espaço, a Estrela Polar, que permite a determinação dessa coordenada sem grande dificuldade. No caso da longitude a situação é diferente, sendo a determinação dessa coordenada bastante difícil. A diferença de longitude não é mais que uma diferença de tempo. Assim basta conhecer a diferença em tempo entre a ocorrência de um dado fenómeno astronómico em dois locais diferentes para conhecer a diferença de longitude entre eles. O problema reside na dificuldade que existe em determinar com rigor essas horas.
Esta questão da determinação da longitude foi especialmente importante em dois campos: a condução da navegação e a definição de limites territoriais. Esta última matéria conheceu um acentuado desenvolvimento com a assinatura do Tratado de Tordesilhas. O texto do acordo previa um prazo de dez meses para delimitação dos referidos limites. Por razões de ordem prática tal nunca foi realizado.
Entretanto a questão inicial, que era a definição da “fronteira” no Atlântico, estendeu‑se ao outro lado do mundo, com a questão das Molucas, suscitada pela viagem de Fernão de Magalhães. Recordemos que o objectivo deste navegador era demonstrar que aquele arquipélago, rico em especiarias se encontrava no hemisfério espanhol. Após aquela viagem realizou‑se, em 1524, uma reunião que ficou conhecida por Junta de Badajoz‑Elvas. Nesta foram apresentadas várias soluções, que na prática eram semelhantes às propostas para resolução do problema em termos de navegação.
Quais foram as soluções tentadas para obter a longitude e assim ser conhecida com rigor a posição do navio no mar? Uma vez que se notava uma certa urgência em resolver esta questão, essencial para a condução segura dos navios, surgiram diversos prémios destinados a incentivar a busca de soluções fiáveis para o mesmo. O mais antigo destes prémios foi instituído por Filipe III de Espanha, em 1598, e a ele concorreram diversas personalidades, entre as quais Galileu, não tendo sido apresentadas propostas que conseguissem resolver o problema. A oferta de prémios para quem conseguisse encontrar essa solução foi seguida por diversos estados: França, Veneza, Holanda e Inglaterra. Apenas este último foi atribuído, nos finais do século XVIII, a John Harrisson, inventor do cronómetro marítimo que solucionou o problema. Foram muitos os candidatos a estes prémios, muitos deles com soluções extravagantes. Nas próximas linhas falaremos daquelas que foram tentadas experimentadas com algum sucesso.
Pelo método de rumo e estima—A posição de um navio pode ser sempre determinada recorrendo a este processo. A utilização de outros processos, observação de marcas em terra ou de astros, serva para eliminar os erros associados à estima da posição. Uma vez que os processos de determinação da longitude nunca mereceram grande confiança, até ao século XVIII, muitos pilotos confiaram apenas neste método para conhecer esta coordenada.
Pela declinação magnética—Este processo aparece pela primeira vez no Tratado de Marear de João de Lisboa, datado de 1514. Baseava‑se no pressuposto que a variação da declinação magnética era proporcional à longitude do lugar. Apesar de D. João de Castro, na sua viagem para a Índia em 1538, ter efectuado diversas experiências demonstrando que este procedimento era errado, o mesmo continuou a ser seguido, existindo uma referência do século XIX à utilização do mesmo. Porque razão se continuou, durante muito tempo, a usar um método que se provou estar errado? Em primeiro lugar, porque embora essa relação directa entre declinação magnética e longitude não existisse, a utilização da declinação como uma “conhecença” permitia ter uma noção da proximidade a determinados perigos, razão pela qual era fundamental conhecer o seu valor ao longo das rotas mais praticadas. Como consequência deste conhecimento evoluiu-se para uma outra proposta que consistia na determinação da posição pelo cruzamento de paralelos de latitude com linhas de igual declinação. Foi desenvolvida em Portugal, no início do século XVII, pelo padre jesuíta Cristóvão Bruno, tendo sido também apresentada pelo inglês Edmund Halley, nos primeiros anos do século seguinte.
Pelos eclipses da Lua—Desde a Antiguidade que se sabia que a diferença de longitude entre dois lugares poderia ser calculada se fosse determinada a hora de início do dito eclipse em cada um desses lugares. A diferença entre essas horas, para cada um dos locais, seria convertida em diferença de longitude. Supõe‑se que Cristóvão Colombo teria utilizado este processo, em 1494, obtendo valores bastante errados. Também D. João de Castro menciona a sua utilização, sem no entanto indicar os resultados obtidos, talvez porque não confiou nos mesmos. A principal justificação para os maus resultados obtidos estará certamente relacionada com o pouco rigor conseguido, na época, em termos de previsão de ocorrência do fenómeno. Por outro lado, a sua utilidade era pouca pelo facto de ser um fenómeno cuja frequência era incompatível com as necessidades da navegação.
Pelas distâncias lunares—Em 1514, o alemão João Werner propôs a utilização da medição da distância angular entre a Lua e outros corpos celestes para obtenção da longitude. Esta proposta baseava‑se no facto de a Lua apresentar um movimento bastante diferente do dos outros astros, uma vez que é o único corpo celeste que descreve uma órbita em torno da Terra. Na viagem de Fernão de Magalhães teriam sido obtidas algumas longitudes recorrendo a este processo.
Tal como acontecia com os eclipses, também para este método a principal limitação era o pouco rigor das previsões dos movimentos dos astros. Além disso na época não existiam instrumentos que permitissem a leituras rigorosas dos ângulos. Estes dois tipos de problemas foram ultrapassados no século XVIII, tendo este processo sido desenvolvido, em simultâneo com o uso do cronómetro, sendo os resultados obtidos, por um e outro método bastante semelhantes, embora as distâncias lunares implicassem cálculos muito mais complexos.
Pelos satélites de Júpiter—Em 1610 Galileu observou pela primeira vez estes satélites. Verificou que os mesmos eram ocultados pelo planeta com uma frequência bastante elevada, podendo este facto ser usado para obtenção da diferença de longitude, tal como acontecia com os eclipses da Lua. A utilização deste processo no mar era muito complicada pois a observação dos satélites apenas era possível recorrendo a um telescópio, sendo impraticável o seu uso num navio sujeito a balanço. Por outro lado, as tabelas elaboradas por Galileu, com as posições relativas do planeta e dos satélites também eram pouco rigorosas. Esta última limitação foi ultrapassada pelo italiano Cassini, que desenvolveu tabelas muito mais rigorosas. Apesar do processo continuar a ser impraticável no mar foi bastante útil para a determinação de longitudes em terra, permitindo deste modo uma cartografia mais rigorosa dos locais, antes do advento do cronómetro.
Usando um relógio—Como se disse no início deste texto, a diferença de longitude entre dois locais pode ser estabelecida se medirmos a hora local em que determinado fenómeno ocorre e compararmos essa hora com a hora em que o mesmo ocorre no outro local. Para conhecermos esta última precisamos de um relógio que permita “conservar” a bordo a hora de um determinado local de referência. Este processo foi proposto por Fernando Colombo, em 1524, na Junta de Badajoz‑Elvas. Na época não existiam ainda condições técnicas que permitissem a construção de um relógio capaz de resolver o problema. Outros estudiosos que se dedicaram a apresentar propostas para solucionar o problema também sugeriram o uso de relógios, como foi o caso de Cristóvão Bruno. No entanto, o problema apenas foi resolvido por John Harrisson que dedicou a sua vida ao fabrico de relógios para uso no mar, tendo em 1761 sido testado o seu cronómetro que ficou conhecido como H4. Este apresentou uma precisão bastante superior à que era exigida pelo “Board of Longitude”, tendo Harrisson recebido o prémio de 20 000 libras. Estava finalmente resolvido o problema de determinar a longitude de um navio com o rigor necessário para a prática da navegação.
António Costa Canas
Bibliografia ALBUQUERQUE, Luís de, “Longitude”, Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses. Vol II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994, pp. 618‑621. The quest for longitude: the proceedings of the Longitude Symposium, Cambridge‑Massachussetts, Collection of Historical Scientific Instruments, 1993.

Mota, Aleixo da
Aleixo da Mota, piloto dos finais do século XVI, princípios do XVII, é um caso paradigmático da formação dos homens que conduziam os navios portugueses, nas diferentes carreiras, naquela época. Em 1586 iniciou a sua carreira naval como simples soldado nas armadas das Ilhas. Em seguida tornou‑se marinheiro, tendo feito duas viagens na Carreira da Índia. Nesta mesma carreira ascendeu a sota‑piloto, tendo participado em três viagens com estas atribuições. No Oriente foi piloto de uma galeaça. Mais tarde conseguiu ser piloto da Carreira da Índia. Faleceu em 1630, tendo passado quarenta e quatro anos como marinheiro, no sentido lato deste termo.
Mais de um século depois de ter sido iniciada a ligação regular com o Oriente ainda surgiam muitas dúvidas sobre a melhor forma de rentabilizar e tornar mais seguras as viagens. Assim, em 1615 foi convocada pelo vice‑rei uma junta de pilotos para se pronunciar sobre qual a melhor época para largada da Índia e qual o melhor percurso a ser seguido. Desta junta fazia parte o piloto Aleixo da Mota, certamente por ser um dos mais experientes da Carreira da Índia.
O conhecimento que ele foi acumulando sobre a navegação de e para o Oriente foi passado a escrito num roteiro de sua autoria. Deste texto é conhecida uma cópia, nos Reservados da Biblioteca Nacional, em letra do século XVII. Este manuscrito foi transcrito por Gabriel Pereira no seu texto Roteiros Portugueses da Viagem de Lisboa à Índia nos Séculos XVI e XVII publicado em 1898, por ocasião das comemorações do quarto centenário da viagem de Vasco da Gama. A referida cópia está incompleta pois não apresenta as ilustrações que Aleixo da Mota incluiu no seu texto para que os pilotos que pela primeira vez praticassem um determinado local o conseguissem identificar.
Algumas partes do roteiro de Aleixo da Mota foram transcritas por Manuel Pimentel na Arte Prática de Navegação. Além da difusão que o texto teria tido a nível nacional são conhecidas duas traduções do mesmo para francês. Em 1663 o texto de Aleixo da Mota foi incluído numa relação de viagens organizada por Jacques Langlois, sendo a outra tradução conhecida datada de 1696 da autoria de Melchisedec Thevenot, fazendo parte de uma obra intitulada Relations de divers voyages curieux... Também é conhecida uma referência ao roteiro na obra Apuntes para una biblioteca cientifica española del siglo XVI. Recordemos que na época em que o texto foi redigido, início do século XVII o monarca de Portugal era também o de Espanha.
Barbosa Machado, na sua Biblioteca Lusitana, afirma que Aleixo da Mota seria um dos melhores pilotos da Carreira da Índia adquirindo uma enorme experiência nas diversas viagens que realizou. O seu roteiro espelha bem o conhecimento que ele tinha relativo à navegação da Carreira da Índia. Ele dedica capítulos às diferentes situações que poderiam ser encontradas pelos pilotos. No Índico a navegação é condicionada essencialmente pelo fenómeno sazonal das monções, indicando as melhores alternativas para a viagem de ida ou de regresso em função do momento em que determinados pontos da viagem eram atingidos. O seu texto baseia‑se certamente na sua larga experiência pessoal, mas certamente também em informações recolhidas junto de outros pilotos igualmente experientes.
António Costa Canas
Bibliografia MOTA, Aleixo da, “Roteiro da Carreira da Índia”, in Gabriel Pereira, Roteiros Portugueses da Viagem de Lisboa à Índia nos séculos XVI e XVII, Lisboa, Imprensa Nacional, 1898, pp. 93‑210. TORRÃO, Maria Manuel, “Mota, Aleixo da”, in Luís de Albuquerque [dir.], Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, vol II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994, pp. 764‑765. VASCONCELOS, Frazão de, “Apontamentos sobre Aleixo da Mota. Notável piloto e roteirista da Carreira da Índia (Séc. XVI‑XVII), Boletim Geral do Ultramar, 33, nº 389, Nov 1957, pp. 109‑119.

Náutica Portuguesa
Quando as forças de D. Afonso Henriques conseguiram entrar na praça de Lisboa, aprisionando os navios que aí se encontravam e apoderando-se do respectivo porto, criaram-se as condições para o desenvolvimento de uma intensa actividade marítima, na costa ocidental da Península Ibérica. É seguro que nessa altura já o mar era sulcado por navios portugueses, em diversas direcções, e a conquista da barra do Tejo reforçou esta capacidade. No entanto não será antes do reinado de D. Dinis que se organiza e consolida o trato de comércio na costa portuguesa, protegido por uma esquadra permanente, que resulta do contrato efectuado entre a coroa e o marinheiro genovês, Manuel Pessanha, através do qual este se via obrigado a manter vinte homens de Génova, � sabedores do mar� , para servirem como alcaides das galés portuguesas. Nesta altura os navios portugueses já navegavam pela costa e até aos locais habituais do trato próprio da época, mas é normal que o incremento institucional da organização naval tenha concorrido para um aumento do número de práticos nessa arte, e, sobretudo, que a presença dos italianos tenha levado à divulgação de uma técnica náutica típica do Mediterrâneo, que se aceita como sendo a matriz dos conhecimentos desenvolvidos posteriormente, durante os séculos XV e XVI.
Em que consistia, então, esta náutica mediterrânica? Era uma técnica que permitia conduzir os navios nas condições exigidas pelo próprio Mediterrâneo, com troços de viagem curtos, quase sempre à vista de costa ou com pequenas travessias. Basicamente os navios seguiam direcções referenciadas no horizonte, estimando as distâncias percorridas, e confirmando a sua posição através de conhecenças costeiras. Sabe-se que, a partir do final do século XII ou princípios do XIII, o manter de uma direcção (um rumo) contou com a ajuda de um precioso instrumento que foi a agulha magnética (bússola), mas antes disso já havia outras técnicas ou outras formas de obter referências no horizonte, pelo conhecimento do local de nascimento e ocaso de certas estrelas (referência que não era permanente, como a da bússola, mas servia de orientação nas condições de uma navegação que era, necessariamente, lenta). O portolano (portulano) - velha compilação de instruções para a navegação - a partir do qual se terão desenhado as cartas portulano (designação do século XIX) é a expressão desta forma simples de navegar. O mais antigo documento deste tipo que chegou até nós assim o mostra (Lo compasso da navigare de meados do século XIII), e as cartas desenhadas a partir de compilações deste género, apontam-no claramente. São cartas onde sobressai a teia de rumos, a partir da qual se desenharam os contornos da costa onde foram inscritas as designações toponímicas.
Foi com esta herança de saber náutico que começaram as navegações portuguesas do século XV, nomeadamente as que decorreram sob a égide do infante D. Henrique, após a conquista de Ceuta em 1415. Discute-se quando é que o afastamento da costa exigiu a adopção de outras formas de navegar, tendo em conta que o número de dias sem avistar outra coisa que mar e céu poderá levar a que os erros de estima se possam tornar fatais. Ou seja, quando é que os navegantes portugueses começaram a servir-se dos astros para saber como conduzir os seus navios? Não é fácil responder a esta pergunta. A associação mais fácil que se pode fazer entre a configuração do céu e a posição do navio é a observação da Estrela Polar verificando que quanto mais alta ela está, mais para norte está o navio. A sua proximidade do pólo celeste faz com que seja visível em quase todo o hemisfério norte durante todo o ano (deixa de ser vista em latitudes abaixo dos 7º N ou 6º N), sendo intuitivo o estabelecimento de uma relação entre a sua altura e a latitude do lugar. Mesmo aqueles que desconheciam a noção de latitude, intrinsecamente ligada à ideia da Terra como um corpo esférico, observavam a variação de altura da Polar e associavam-na à regra que conheciam e que relacionava essa alturas com certos locais em terra. É desta forma que se supõe que terá começado a ser utilizada, imaginando eu que pode tê-lo sido mesmo sem o recurso a instrumentos próprios, como os astrolábios ou quadrantes que os astrólogos manipulavam desde a Antiguidade. Há, no entanto, uma referência concreta à observação da Estrela Polar que importa referir: numa viagem que deverá ter ocorrido entre 1456 e 1458 ou 59, Diogo Gomes avistou a ilha de Santiago e diz-nos � E eu tinha um quadrante, quando fui a estes países, e escrevi na tábula do quadrante a altura do pólo ártico� . Certamente que não foi a primeira vez que a técnica foi usada (o piloto parece familiarizado com ela), mas importa considerar o que é dito por Diogo Gomes, ao estabelecer a relação entre a observação pelo quadrante e a posição da ilha de Santiago. Deduz-se daqui uma técnica que me parece simples: navegava-se numa região onde - com excepção das ilhas - a terra ficava sempre a ocidente; ora, com uma simples observação astronómica, era possível localizar nesse � ocidente� , o local ou porto que se queria demandar: bastava saber qual a altura do pólo nesse porto e navegar na direcção correcta. Esta foi a técnica básica que acompanhou a náutica portuguesa até ao século XVIII (até ser conhecida a forma de determinar a longitude): saber a latitude de um lugar (saber a altura do pólo é saber a latitude do lugar); navegar para norte ou para sul até alcançar essa latitude; rumar depois a oeste (a leste, nalguns casos) até encontrar terra. Com os erros próprios do tempo, assim se aprendeu a demandar os portos atlânticos. Há apenas uma dificuldade a resolver ainda: o Pólo Norte não se localiza facilmente, porque não tem nenhuma referência exacta visível. Recorria-se à medição da altura da Estrela Polar, que dele estava afastada cerca de 3º 40', corrigindo-se o valor obtido, de acordo com um conjunto de regras consignadas nos Regimentos do Norte. Basicamente, o Regimento apontava (de forma tabular ou gráfica) o valor a somar ou subtrair à altura observada da estrela, para obter a altura do Pólo, que é também a latitude do lugar.
Regimento do Norte, Livro de Marinharia de João de Lisboa
Todas as navegações efectuadas até ao limite de observação desta estrela (cerca de 6º a 7º N) podiam ser feitas assim, mas quando se passou o Equador para sul explorando a costa africana até ao Cabo da Boa Esperança, isto deixou de ser possível. Julgo que, aqui, foi decisiva a intervenção dos astrónomos, na forma como souberam aproveitar o seu conhecimento da esfera celeste, encontrando uma forma simples - ao alcance de pilotos com formação matemática não muito desenvolvida - de utilizar a observação da altura do Sol. com os mesmos objectivos com que fora utilizada a altura da Polar. O movimento aparente do Sol não se faz sempre sobre um mesmo círculo, variando ao longo do ano, com uma consequência evidente na alteração do tempo próprias do decorrer das estações. Em termos concretos, o sol varia permanentemente a sua posição em relação à Terra, movimentando-se (movimento aparente) entre os 23º 27' S (em Dezembro) e 23º 27' N (em Junho). A determinação da latitude faz-se com base na altura do sol tirada na sua passagem meridiana (ponto mais elevado do Sol), mas é necessário incluir no cálculo o valor da declinação solar, que era dado por uma tabela construída pelos astrónomos. Um processo relativamente simples, apesar de tudo.
Com o decorrer das viagens cada vez mais para sul e com a abertura do caminho da Índia, outras estrelas foram observadas (nomeadamente no Hemisfério Sul), mas o método mais vulgar para determinação da latitude foi sempre a determinação da altura do Sol na sua passagem meridiana, observada com o auxílio de instrumentos que já eram usados pelos astrónomos, simplificados e adaptados às necessidades da navegação. Já foi dito que o quadrante era usado para medir a altura da Estrela Polar, e é seguro que também serviu para as observações solares, embora se saiba que, a partir de 1500, era preferido o astrolábio por ser mais rigoroso.
Medindo a altura de uma estrela com o quadrante
Medindo a altura de uma estrela com um astrolábio. Desenho de Sousa Machado (Revista da Armada)
A partir do momento em que a latitude passou a ser uma coordenada facilmente determinável no mar, e importante para a boa condução dos navios, o desenho das cartas náuticas adaptou-se a essas circunstâncias, aperfeiçoando-se a técnica de determinação da posição do navio. O mais antigo mapa que chegou à actualidade, em que está suposta uma escala de latitudes, é o planisfério anónimo português de 1502, vulgarmente chamado de � Cantino� . A marcação do Equador e dos Trópicos de Câncer e Capricórnio indica-nos uma distância na carta, afastada dos tais 23º 27' (23º e ½, como era genericamente suposto na época) que constituem a máxima declinação do Sol nos Solstícios. É uma carta ricamente ornamentada, que nunca serviu para navegar, mas que se supõe ter sido copiada de um padrão real, existente em Lisboa, onde estaria marcado todo o mundo conhecido dos portugueses. Nela encontramos a região da Europa e Mediterrâneo com a mesma configuração dos velhos portulanos, mas todo o resto da carta (nas zonas conhecidas pelos portugueses) teve em conta esta coordenada. Não faria sentido, aliás, que assim não fosse, porque a determinação da latitude no mar obrigava a uma interpretação na carta que não podia ser igual à velha técnica mediterrânica. onde apenas as linhas de rumos e as distâncias eram usadas. A estima continuou a ser fundamental, mas podia ser corrigida com a determinação de uma coordenada terrestre que permitia a sua correcção: navegando num determinado sentido (rumo) e tendo uma ideia aproximada da distância percorrida, o Ponto Estimado podia ser transformado no que se chamava de Ponto de Esquadria, muito mais próximo da realidade e mais adequado a uma boa navegação.
Ponto de esquadria para rumos a menos de 45º do meridiano inicial
Ponto de esquadria para rumos a 45º do meridiano inicial
Ponto de esquadria para rumos a mais de 45º do meridiano inicial
Resta-me referir que a par com a técnica de determinação da posição do navio, e o desenho de novas cartas onde estavam representadas as terras até então desconhecidas, apareceram também as regras ou as indicações práticas que apontavam os caminhos do mar. Refiro-me aos correspondentes dos velhos portulanos mediterrânicos, adaptados agora ao espaço atlântico e Índico: um conjunto de informações que permitiam encontrar o que chamo de � os caminhos do mar� . Os navios navegavam à vela, com limitações de autonomia, que exigiam um conhecimento razoável do regime de ventos, para que pudessem cumprir as viagens nas melhores condições. As � descobertas� do final do século XV e princípio do XVI, foram, sobretudo, o reconhecimento destes caminhos a seguir para aproveitar ventos e correntes, para evitar os baixos e outros perigos, saber as melhores épocas para certas viagens, aprender a reconhecer os sinais de terra, a interpretar e a compreender os perigos. Foi esta a função dos novos roteiros, elaborados para a carreira da Índia, depois para Malaca e Molucas, China, Japão, Brasil, enfim, para todos os mares onde andavam os navios portugueses, avisando os pilotos de como deviam escolher a sua rota no vasto espaço do oceano. Foram estes roteiros que se foram aperfeiçoando ao longo do século XVI, crescendo em pormenor e eficácia, tornando-se as mais importantes indicações para cada viagem específica.
Luís Jorge Semedo de Matos
Bibliografia
ALBUQUERQUE, Luís, História de la Navegación Portuguesa, Madrid, Mafre, 1991.
BARBOSA, António, Novos subsídios para a história da ciência náutica portuguesa da época dos descobrimentos, Porto, Instituto de Alta Cultura, 1948.
COSTA, Fontoura da, A Marinharia dos Descobrimentos, 4ª Ed., Lisboa, Edições Culturais de Marinha, 1983.
MATOS, Luís Semedo de, � A navegação: os caminhos de uma ciência indispensável� , História da Expansão Portuguesa, dir. Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri, 1º vol, Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, pp 72-87.
RIBEIRO, António Silva, A Hidrografia nos Descobrimentos Portugueses, Mem Martins, Publicações Europa América, 1994.
SILVA, Luciano Pereira da, Obras Completas, 3 vols, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1943-45

Pereira, Duarte Pacheco
Duarte Pacheco Pereira é uma das figuras emblemáticas dos Descobrimentos portugueses. Herói militar, navegador e cosmógrafo, autor de um famoso escrito que é dos mais representativos da denominada «literatura de viagens».
D. P. Pereira nasceu em Lisboa por volta de 1460, isto é, pela mesma altura em que o Infante D. Henrique falecia. Das suas ligações familiares sabe-se que era neto de Gonçalo Pacheco, tesoureiro da casa de Ceuta e um dos muitos servidores do Infante D. Henrique; e filho de João Pacheco que fez parte de uma expedição guerreira contra os turcos no Mediterrâneo oriental, mas que vem a morrer em combate na praça de Tânger.
Ao longo do seu único trabalho escrito que chegou até nós – o Esmeraldo de Situ Orbis – percebe-se que D. P. Pereira teve um papel activo como navegador e roteirista, fundamentalmente, nos «rios da Guiné» e um pouco por todo o ocidente africano. Segundo João de Barros, Bartolomeu Dias, em 1488, no regresso da viagem que o imortalizou encontra-o moribundo a bordo de um navio junto da Ilha do Príncipe, acabando por o trazer de volta ao reino depois de fazer escala em S. Jorge da Mina. Presume-se que de Janeiro a Outubro de 1490 Duarte Pacheco, fez parte da guarda pessoal de D. João II. No entanto, os seus conhecimentos cosmográficos e a sua experiência naval levaram certamente o soberano a incorporá-lo na delegação portuguesa que, na localidade de Tordesilhas, tenta encontrar uma saída, através de negociações com os castelhanos, para os complexos problemas levantados pela viagem que Cristóvão Colombo acabara de efectuar em 1493, revelando terras a Ocidente. Com a iniciativa de Colombo ruía o tratado diplomático de Alcáçovas (1479), firmado entre a coroa portuguesa e castelhana, e com ele toda uma antiga ordem naval, comercial e geográfica. Ainda hoje se discute se D. P. Pereira esteve, ou não, no ano de 1498 em território sul-americano. A polémica passagem no Esmeraldo (Lº 1 Capitº 2º) que refere "uma tão grande terra firme", não permite saber claramente se terá havido um pré –descobrimento do Brasil. Com um maior grau de certeza, sabe-se que o grande navegador embarcou em Abril de 1503 rumo ao Índico, inserido numa esquadra capitaneada por Afonso de Albuquerque. Pouco tempo depois de desembarcar na Índia (Janeiro de 1504), é nomeado para assegurar a defesa de Cochim contra o rajá de Calecute, com parcos meios humanos e materiais, o que não o impediu de ter um papel decisivo e eficaz, com o importante apoio da artilharia, na defesa dos interesses portugueses no Malabar. De regresso a Lisboa, no início do Verão de 1505, é aclamado como um herói, facto que sobressairá mais tarde nos relatos dos cronistas.É por esse ano de 1505 que D. P. Pereira começa a redigir a sua única obra conhecida. No dizer do próprio autor (no prólogo à Iª parte) pretendia ser "um livro de cosmografia e marinharia". Ultrapassando na verdade esse âmbito, o livro mais não é que um relato das suas viagens, um roteiro náutico, uma "memória" escrita de um navegador e homem de armas, ao serviço de um Estado em expansão, onde predominam os dados autobiográficos e uma avultada experiência pessoal no campo das navegações portuguesas. Todavia, existem no escrito heranças das crónicas medievais: permanência de uma certa mentalidade conquistadora aliada a escrita panegírica. O manuscrito original do Esmeraldo perdeu-se, existindo hoje apenas duas cópias da obra, que ficou inédita até ao século XIX. A cópia mais antiga, existente na Biblioteca Municipal de Évora é datada da primeira metade do século XVIII; a outra mais nova é da segunda metade do mesmo século, encontrando-se na Biblioteca Nacional da Lisboa.
No Esmeraldo de Situ Orbis perpassa a emergência de uma nova época, uma nova Idade onde se enfrentam os antigos e os modernos saberes. Essa confrontação com base num conceito de "experiência", onde ainda não cabe a "experimentação" ou a observação sistemática, mas sim o conhecimento prático e empírico, não deixa de ser condição propícia para o colapso de algumas ideias e teorias erróneas acerca da Geografia e do mundo natural, que circulavam nos manuais dos autores clássicos e medievais. Não se trata ainda de uma "verdadeira" ruptura frente aos paradigmas da tradição, contudo é uma etapa fundamental para estabelecer a dúvida e a descrença num edifício gnoseológico em processo de desarticulação.
Para conceber o seu livro D. P. Pereira serve-se de várias autores. O mais importante é sem dúvida uma tradução espanhola, feita por Mestre João Faras, do De Situ Orbis de Pompónio Mela, de onde extrairá o nome para o seu próprio livro. Plínio numa tradução italiana e Sacrobosco numa tradução portuguesa, são outros autores que não fugiram à sua leitura, mas em língua vernácula. Seria Pereira um fraco latinista? A confirmar-se esta asserção, o autor do Esmeraldo estava muito perto dos grupos sociais que se distanciavam dos centros eruditos onde imperava o «Renascimento» da cultura clássica, e que apostavam no triunfo de um "saber" mais técnico e mecânico.
D. P Pereira vive num período de profundas modificações no campo da náutica que corresponde à segunda fase da navegação astronómica, com recurso às observações solares e à determinação das latitudes, com inevitáveis implicações na cartografia; inovações que exigiram ensaios e verdadeiras explorações hidrográficas na costa da "Guiné" onde andou D. P. Pereira, tal como Mestre José Vizinho. Os regimentos de Munique (c.1508) e Évora (c.1516) testemunham essa azáfama que, em parte, o Esmeraldo também reflecte através da exposição de uma grelha de latitudes de vários locais e do cálculo do grau de meridiano (aproximando-se do seu valor real).
Em 1508 D. P. Pereira interrompe a redacção da sua obra, a fim de ser incumbido de vigiar a costa portuguesa, o estreito de Gibraltar e estancar o corso nas águas com interesse para as rotas comerciais. Em 1519 é nomeado capitão da fortaleza da Mina. Por motivos não completamente aclarados vem para o reino preso, passados dois anos. Depois de tentar emprestar os seus serviços a Carlos V , acaba os seus dias reconciliado com o poder real e auferindo de uma tença vitalícia. Veio a falecer no princípio do ano de 1533.
Duarte Pacheco Pereira é bem o exemplo do indivíduo nobre, oriundo de um estrato cimeiro da sociedade, que se incorpora na máquina militar e administrativa do Estado. Misto de cavaleiro e mercador, que não descura a oportunidade de negociar, e de colher informações úteis para o comércio é, também, o homem que lida com técnicas de navegação, que sabe orientar um navio em alto mar ou fazer a guerra quando se torna inevitável. É a esta espécie de homens que o Estado recorre com frequência para suprimir as suas necessidades administrativas e técnicas. Através do Esmeraldo de Situ Orbis constatamos, afinal, o quanto estes homens práticos nos tinham para dizer, da sua experiência, da sua vida, das suas aventuras e contactos, do seu saber técnico e prático.
Carlos Manuel Valentim
Bibliografia ALBUQUERQUE, Luís de, " Duarte Pacheco Pereira – O saber de experiência feito" Navegadores, Viajantes e Aventureiros Portugueses Sécs XV e XVI, Lisboa, Circulo dos Leitores, 1987, pp. 157-173.AUBIN, Jean, " Les Frustrations de Duarte Pacheco Pereira" in Le Latin et L'Astrolabe, Paris, Centre Culturel Caloust Gulbenkian, 1996, pp. 11-133. BARRETO, Luís Filipe, Descobrimentos e Renascimento, Formas de Ser e Pensar nos Séculos XV e XVI, Lisboa, I.N.-C.M., 2ª Ed., 1983. CARVALHO, Joaquim Barradas, A La Recherche de le Specificite de la Renaissance Portugaise, Paris, F.C.G.- Centre Culturel Portugais, 1983, 2 tomos. IDEM, Esmeraldo de Situ Orbis de Duarte Pacheco Pereira, Lisboa, F.C.G., 1991 MOTA, Avelino Teixeira da, " Duarte Pacheco Pereira- Capitão e Governador de S. Jorge da Mina ", in Mare Liberum, nº 1, 1990, pp. 1-27.

Pires, André
O nome de André Pires, piloto português do século XVI, surge-nos num códice existente na Biblioteca Nacional de Paris. Trata-se de um conjunto de diversos documentos de temática náutica e astronómica reunidas numa única obra, a qual é conhecida por Livro de Marinharia de André Pires.
Este Livro terá sido adquirido por Jean Nicot, embaixador francês em Portugal de 1559 a 1561, do qual é conhecido o interesse por obras e documentos relativos às descobertas e às navegações portuguesas. Alguns autores afirmaram que o Livro de André Pires teria sido adquirido, não em Portugal, mas em Espanha, uma vez que este piloto teria acompanhado Fernão de Magalhães, quando este deixou Portugal, e servido, de igual modo, os interesses espanhóis. No entanto, e como defende Luís de Albuquerque, não existem nenhuns dados concretos que comprovem este facto. Por outro lado, seria muito mais provável que o embaixador francês o tivesse adquirido em Lisboa, onde exerceu funções, uma vez que em Espanha o seu preço seria muito mais elevado, dada a raridade destas compilações portuguesas no reino vizinho, sendo que nesta cidade obras do mesmo género deveriam habitualmente circular entre os pilotos.
Com efeito, durante os séculos XVI e XVII, os pilotos e navegadores portugueses registavam, para seu uso pessoal, todas as informações de interesse náutico que chegavam ao seu conhecimento e que decorriam da própria experiência adquirida nas suas viagens. Deste modo, a designação de «livro de marinharia» foi o termo encontrado por Brito Rebelo para as classificar, aquando da publicação em 1903 de uma das compilações de textos náuticos mais antiga que conhecemos e que é atribuída ao piloto João de Lisboa, designação essa que reflecte perfeitamente a natureza destas compilações e das temáticas ali versadas.
Segundo Luís de Albuquerque, o Livro de Marinharia de André Pires terá sido organizado no segundo quartel do século XVI e, muito provavelmente, no final desse período, muito embora alguns dos textos possam ser datados, com grande probabilidade, entre 1500 e 1520. Isto porque muitos dos textos, senão a sua grande maioria, não são da autoria deste piloto. Tratam-se de regras para a navegação astronómica, com os respectivos regimentos do Sol, da Estrela Polar, da Estrela (Cruzeiro) do Sul; algumas noções elementares de cosmografia; tábuas de declinações solares; roteiros de navegação, como é o caso do incompleto «Livro de rotear de Portugal para a Índia, e da Índia para Portugal, e para todas as partes descobertas», bem como o roteiro dos «lugares que estão das portas do estreito (entrada do Mar Vermelho) para dentro», entre outros temas abordados. No entanto, a André Pires é claramente atribuível a autoria das observações para o uso das tábuas solares e dos dois primeiros regimentos do Sol constantes nesta obra, para além de algumas correcções e anotações do piloto resultantes da sua própria experiência, embora algumas vezes com erros evidentes. As restantes matérias teriam sido coligidas a partir de compilações anteriores que, como foi dito acima, circulariam entre os pilotos do reino. Deste modo, poderemos então comparar o Livro de Marinharia de André Pires com as obras da mesma natureza que conhecemos para o século XVI, pelo que, e apesar do seu número ser bastante diminuto, ser-nos-à possível traçar uma perspectiva aproximada acerca dos conhecimentos náuticos dos pilotos portugueses desse período.
Bruno Gonçalves Neves
Bibliografia ALBUQUERQUE, Luís de, O Livro de Marinha de André Pires, introdução de Armando Cortesão, Coimbra, Junta de Investigações do Ultramar, 1963. IDEM, Curso de História da Náutica, Coimbra, Livraria Almedina, 1972. IDEM, “Livros de Marinharia”, in Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, [..., dir.], vol. II, [s.l.], Caminho, 1994, pp. 615-616.