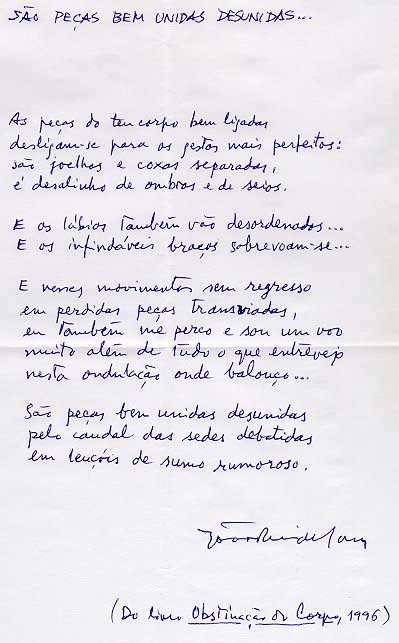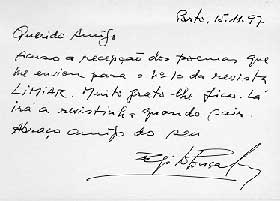| Como determinar critérios
para definir o que é do nosso tempo? Aceitar o que coexiste connosco?
Mas connosco, quem, de entre nós, uma vez que as idades são
diferentes, e as ideias, as sensibilidades e os valores também? Podemos
talvez considerar que essas diferenças são justamente marca de um
tempo ainda não filtrado pela sistematicidade de um ponto de vista histórico,
e atentar na sua coexistência como sinal de variedade e riqueza, ou
mesmo de imperfeição do nosso olhar, que em contrapartida nos
transmite a vibração da incompletude de tudo o que vive, e por isso
pulsa, dura e se transforma.
Contemporâneos a escrever, em Portugal.
Alguns vultos tutelares, personalidades maiores, escritores de referência,
mais ou menos afastados do nosso quotidiano, emergindo na imprensa, TV,
ou morando mesmo ao nosso lado, frequentando a nossa praia, indo, como nós,
ao supermercado ou ao cinema. Outros, menos tutelares, que escrevem nos
periódicos, que recebem prémios, mais jovens, mais precários. Todos a
fazer-nos pensar sobre o mundo e a vida, a fazer-nos emergir da nossa
condição de leitores à partida passivos, mas determinados na atitude
de escolha, que só pode exercer-se a partir do conhecimento. Tentemos,
pois, conhecer.
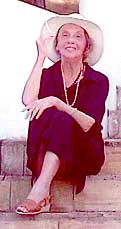 Em
Arte Poética II, Sophia de Mello
Breyner Andresen (n. 1919) escreve: Em
Arte Poética II, Sophia de Mello
Breyner Andresen (n. 1919) escreve:
A poesia é a
minha explicação com o universo, a minha convivência com as coisas, a
minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens.
Por isso o poema não fala duma vida ideal mas duma vida concreta: ângulo
da janela, ressonância das ruas, das cidades e dos quartos, sombra dos
muros, aparição dos rostos, silêncio, distância e brilho das
estrelas, respiração da noite, perfume da tília e do orégão.
Para Sophia, a poesia é, pois, encontro
do ser com o concreto do mundo, e repare-se como, explicitando o que
para si é a poesia, a autora insensivelmente já está a fazer poesia,
comunicando a sua percepção das coisas através da transfiguração da
palavra poética.
Publica livros desde 1944 (também prosa
de ficção, e livros para crianças como A Menina do Mar e A
Fada Oriana, 1958), e um dos seus grandes temas é o mar, com a
luminosidade de conhecimento solar e a regularidade de reconstrução do
movimento, ou respiração vital, que ele comunica, ou mesmo na epifania
do mundo. Em Dia do Mar (1947), «Navegação»:
Distância da distância derivada
Aparição do mundo: a terra escorre
Pelos olhos que a vêem revelada.
E atrás um outro longe imenso morre.
Muito sensível às implicações
culturais da política e do sentimento da liberdade, exprime por vezes a
pequenez dos ambientes que a opressão social sufoca. Em Livro Sexto
(1962), «Exílio»:
Quando a pátria
que temos não a temos
Perdida por silêncio e por renúncia
Até a voz do mar se torna exílio
E a luz que nos rodeia é como grades.

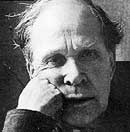 Em
Eugénio de Andrade (n. 1923), a
poesia dos elementos é também poderosa, mas quase sempre reportada ao
amor - da natureza, dos seres e do corpo. Muito sensual e literária, plástica
e musical, a sua poesia concebe-se como reelaboração da palavra até
um limite de despojamento que parte do mundo (agudamente percebido) para
reencontrar nele o ser eleito e, em última análise, a solidão como
reduto essencial. «As palavras interditas» (1951), poema de culto para
várias gerações: Em
Eugénio de Andrade (n. 1923), a
poesia dos elementos é também poderosa, mas quase sempre reportada ao
amor - da natureza, dos seres e do corpo. Muito sensual e literária, plástica
e musical, a sua poesia concebe-se como reelaboração da palavra até
um limite de despojamento que parte do mundo (agudamente percebido) para
reencontrar nele o ser eleito e, em última análise, a solidão como
reduto essencial. «As palavras interditas» (1951), poema de culto para
várias gerações:
Os navios
existem, e existe o teu rosto
encostado ao rosto dos navios.
Sem nenhum destino flutuam nas cidades,
partem no vento, regressam nos rios.
As palavras que
te envio são interditas
até, meu amor, pelo halo das searas
se alguma regressasse, nem já reconhecia
o teu nome nas suas curvas claras.
Eugénio tem a faculdade de articular o
circunstancial com o absoluto, de perceber num ambiente concreto a voz
de comunicação que o levará à inscrição poética, à transfiguração
modelar, numa expressão límpida e pura muito própria. Em Memória
Doutro Rio (1978), «Com a manhã»:
Vem dos lados do rio,
as mãos fresquíssimas, algumas gotas de água ainda nos cabelos. Com
a manhã chega o anónimo respirar do mundo. Um cheiro a pão fresco
invade o pátio todo. Vem dos lados do rio: para levar à boca, ou ao
poema.

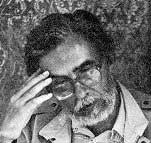 António
Ramos Rosa (n. 1924) intelectualiza (não só nos seus inúmeros
livros de poesia, mas também em ensaios sobre a criação literária e
de interpretação poética) a articulação entre os elementos naturais
e a cultura, mas mantém a vibração inteira do apelo pela expressão
livre do homem e pela sua sagração no labor da palavra. Em Viagem
através Duma Nebulosa (1960), ficou célebre este poema: António
Ramos Rosa (n. 1924) intelectualiza (não só nos seus inúmeros
livros de poesia, mas também em ensaios sobre a criação literária e
de interpretação poética) a articulação entre os elementos naturais
e a cultura, mas mantém a vibração inteira do apelo pela expressão
livre do homem e pela sua sagração no labor da palavra. Em Viagem
através Duma Nebulosa (1960), ficou célebre este poema:
Não posso
adiar o amor para outro século
não posso
ainda que o grito sufoque na garganta
ainda que o ódio estale e crepite e arda
sob montanhas cinzentas e montanhas cinzentas
(...)
não posso adiar para outro século a minha vida
nem o meu amor
nem o meu grito de libertação
não posso adiar
o coração
Posteriormente, a austeridade de expressão
apurou-se na sua poesia, extremamente reduzida no plano da sintaxe,
tanto quanto luxuriante nas insistências vocabulares e numa inexaurível
irradiação semântica, quase sempre em torno da relação amorosa e da
relação com a escrita. Em O Incerto Exacto (1982):
O desejo
A surpresa
Ou a maravilha
Não pela igual imagem
mas destroçando-a
Resíduos só ou
a passagem dos sinais
que dizem a passagem do que será
se for o contacto imprevisível
do obscuro
inacessível corpo em outro corpo vivo

 Na
ficção, Agustina Bessa-Luís
(1922) afirmou-se com A Sibila (1954), que cria um modo muito próprio
de narração no romance, utilizando constantes derivações em relação
ao discurso romanesco central, mas escapando à tendência
abstractivante que daí resulta, através de um regionalismo
radicalizado em atitudes psicológicas peculiares e de um estilo
centrado na subjectividade dos juízos narrativos. Na
ficção, Agustina Bessa-Luís
(1922) afirmou-se com A Sibila (1954), que cria um modo muito próprio
de narração no romance, utilizando constantes derivações em relação
ao discurso romanesco central, mas escapando à tendência
abstractivante que daí resulta, através de um regionalismo
radicalizado em atitudes psicológicas peculiares e de um estilo
centrado na subjectividade dos juízos narrativos.
Ah, rotina doce
dessa vida em comum, porém extraordinária de independência e
qualidade solitária! A fazenda progredia, iam envelhecendo as
mulheres; os cabelos que eram há pouco ainda castanhos apareciam
grisalhos, depois brancos; Joaquim abandonava de todo o seu cargo de
lavrador, raramente vigiava os moços ou escolhia o gado e até
deixava de visitar a amiga, seca e escura como um tronco castigado dos
temporais. Bebia de madrugada a sua dose de aguardente que o mantinha
numa benévola e distraída disposição durante todo o dia; tinha uma
embriaguez discreta, quase afável, e delicados sonhos povoavam-lhe a
mente.
Os
Quatro Rios, 1964

Desenvolve no seu romance uma concepção
do tempo que sublinha a sua qualidade de duração interior e de
continuidade, que prolonga até à sua ficção mais recente, em A
Corte do Norte, 1987, ou O Concerto dos Flamengos, 1994.
 Também
pela qualidade ficcional do tempo interior se destaca Maria
Judite de Carvalho [1921-1998], esplendorosa revelação
nos contos de Tanta Gente, Mariana!,1959, ou na novela romanceada
As Palavras Poupadas, 1961, onde emergem personagens de fundura
psicológica matizada de finas implicações sociais, patentes em
recortes de miúdos gestos ou de imperceptíveis atitudes e julgamentos: Também
pela qualidade ficcional do tempo interior se destaca Maria
Judite de Carvalho [1921-1998], esplendorosa revelação
nos contos de Tanta Gente, Mariana!,1959, ou na novela romanceada
As Palavras Poupadas, 1961, onde emergem personagens de fundura
psicológica matizada de finas implicações sociais, patentes em
recortes de miúdos gestos ou de imperceptíveis atitudes e julgamentos:
Levanta-se da
mesa. Lá fora, num relógio qualquer, batem duas horas. Daí a
momentos, daí a uma eternidade, levantar-se-á da mesa outra vez. E
amanhã. E depois. E daí a muitos anos. Tudo morre à noite, dizia
Claude. Mas não, a vida é longa, desliza e escorre sem uma quebra.
Uma sucessão de acontecimentos, uma corrente sem fim de palavras
ditas e de palavras poupadas. Dessas principalmente.
As
Palavras Poupadas
Decorre desta concepção narrativa uma
atenção ao desfiar do tempo quotidiano e às personagens incaracterísticas
da circunstância comum que levam a autora à prática da crónica (Seta
Despedida, 1994) e à atenção ao fragmentário que pode
concretizar-se no conto (Flores ao Telefone, 1968).

 Urbano
Tavares Rodrigues (1923) escreve regularmente desde os anos
cinquenta, durante os quais se revelou como contista talentoso (Uma
Pedrada no Charco, 1958) e como romancista receptivo ao estado da
sociedade contemporânea e à evolução da escrita literária (ex. Bastardos
do Sol, 1959, e A Hora da Incerteza, 1995). O amor, a
intervenção social e política, a cidade de Lisboa e a região do
Alentejo são os seus temas dominantes, cuja natureza e circunstância
persegue com insistência e insatisfação: Urbano
Tavares Rodrigues (1923) escreve regularmente desde os anos
cinquenta, durante os quais se revelou como contista talentoso (Uma
Pedrada no Charco, 1958) e como romancista receptivo ao estado da
sociedade contemporânea e à evolução da escrita literária (ex. Bastardos
do Sol, 1959, e A Hora da Incerteza, 1995). O amor, a
intervenção social e política, a cidade de Lisboa e a região do
Alentejo são os seus temas dominantes, cuja natureza e circunstância
persegue com insistência e insatisfação:
Almoço (a
Adriana está a reaprender as comidas alentejanas) uma fabulosa sopa
de beldroegas com queijo e ovo escalfado. É a minha infância que
regressa, quase intacta, nesse sabor. Os cílios da minha irmã a
baterem muito, interrogativos e indignados, quando lhe roubo do prato,
à sorrelfa, o bocado de queijo de ovelha, delicioso, que de direito,
direitíssimo, lhe cabia. Já está com lágrimas nos doces olhos
castanhos e eu, repeso, de colher no ar, a querer-lhe restituir o
objecto da sua mágoa.
A Hora da Incerteza

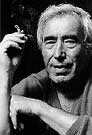 José
Cardoso Pires (1925-1998) esteve desde sempre ligado à ficção
de implicação social, por vezes aliando as concepções neo-realistas
às existencialistas (O Anjo Ancorado, 1958), e notabilizando-se
por um estilo seco e enxuto que maneja com extrema sobriedade, desde O
Hóspede de Job, 1963, a Balada da Praia dos Cães, 1982. José
Cardoso Pires (1925-1998) esteve desde sempre ligado à ficção
de implicação social, por vezes aliando as concepções neo-realistas
às existencialistas (O Anjo Ancorado, 1958), e notabilizando-se
por um estilo seco e enxuto que maneja com extrema sobriedade, desde O
Hóspede de Job, 1963, a Balada da Praia dos Cães, 1982.
Pássaros
pontilhando a ramaria, o horizonte do mar por cima da copa das árvores
e entre o céu e a linha de água uma luzinha fria a caminhar para o
crepúsculo. Um petroleiro? Elias demora-se a olhar. Tempo ao tempo. Só
no dia seguinte começará o inventário dos sinais e dos palpites,
confiado como sempre no Velhaco das Algemas. Tempo ao tempo. Mais
depressa se apanha um assassino que um morto, porque, como dizia o
outro, o morto voa a cavalo na alma e o assassino tropeça no medo.
Balada
da Praia dos Cães
Mais recentemente, Alexandra Alpha,
1987, e De Profundis - Valsa lenta, 1997 dão conta de um insanável
gosto de ficcionar a realidade mais próxima e comum no que ela, através
da percepção do ficcionista, pode revelar de inverosímil, excepcional
e inacessível ao olhar humano.

 José
Saramago (1922), embora só comece a publicar muito mais
tarde, em poesia, crónica e conto, só com os romances Levantado do
Chão, 1980, e Memorial do Convento, 1982, atinge uma
popularidade que não deixa de crescer, no plano nacional e
internacional. Ficcionaliza momentos particulares da história e da
cultura de Portugal (O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1944, História
do Cerco de Lisboa, 1989) ou entrevê períodos de distopia ucrónica
(Jangada de Pedra, 1986) e inlocalizável (Ensaio sobre a
Cegueira, 1995, Todos os Nomes, 1997) que dão conta de uma
reversão do homem ao seu confronto necessário, e nem sempre
afortunado, com a comunidade, numa escrita particularíssima que põe em
relevo uma frase longa e progressivamente elaborada por uma instância
autoral que emerge e não se demite do seu papel de seleccionar e de
julgar, assim fundamentando a ideia da criação literária. José
Saramago (1922), embora só comece a publicar muito mais
tarde, em poesia, crónica e conto, só com os romances Levantado do
Chão, 1980, e Memorial do Convento, 1982, atinge uma
popularidade que não deixa de crescer, no plano nacional e
internacional. Ficcionaliza momentos particulares da história e da
cultura de Portugal (O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1944, História
do Cerco de Lisboa, 1989) ou entrevê períodos de distopia ucrónica
(Jangada de Pedra, 1986) e inlocalizável (Ensaio sobre a
Cegueira, 1995, Todos os Nomes, 1997) que dão conta de uma
reversão do homem ao seu confronto necessário, e nem sempre
afortunado, com a comunidade, numa escrita particularíssima que põe em
relevo uma frase longa e progressivamente elaborada por uma instância
autoral que emerge e não se demite do seu papel de seleccionar e de
julgar, assim fundamentando a ideia da criação literária.
Aqui têm, disse
o escritor. A mulher do médico perguntou, Posso, sem esperar a
resposta pegou nas folhas escritas, umas vinte seriam, passou os olhos
pela caligrafia miúda, pelas linhas que subiam e desciam, pelas
palavras inscritas na brancura do papel, gravadas na cegueira. Estou
de passagem, dissera o escritor, e estes eram os sinais que ia
deixando passar. A mulher do médico pôs-lhe a mão no ombro, e ele
com as suas duas mãos foi lá buscá-la, levou-a devagar aos lábios,
Não se perca, não se deixe perder, disse, e eram palavras
inesperadas, enigmáticas, não parecia que viessem a propósito.
Ensaio
sobre a Cegueira
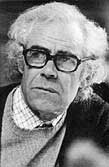 
Augusto
Abelaira (1926), ficcionista de renome durante os anos
sessenta (Cidade das Flores, 1959, As Boas Intenções,
1963), correspondeu aos anseios de uma geração que propunha a renovação
social e política num contexto cultural de consciencialização e
responsabilidade, no qual a arte e a literatura ocupavam lugar
determinante. Bolor, 1968, é um romance que manifesta a
desagregação dos sentimentos e a oscilação das convicções, numa
escrita narrativa profundamente inovadora que o seu autor continuaria a
desenvolver subsequentemente, questionando a lógica da comunicação e
da sucessão do tempo, e por isso mesmo afirmando a fidelidade a valores
fundamentais como o amor e a criatividade (O Bosque Harmonioso,
1982, Outrora Agora, 1996).
Agora, ele (ele,
o Jerónimo) ali à varanda, trinta anos depois, a gozar o sol, os
olhos no mar («la mer, toujours recommencée»). Mas lá em baixo,
acinzentado, na avenida paralela à praia, um automóvel chega e, a
curva rápida, sem hesitações, enfia-se entre dois carros -, manobra
fulminante, milimétrica. O Jerónimo tê-lo-ia arrumado mais devagar,
avaliando, atento, o estreito espaço disponível - daí a curiosidade
com que espera o aparecimento do herói (será certo que a civilização
chinesa, ao contrário da europeia, não celebrou os heróis
guerreiros, considerava-os até seres inferiores? Esparta, modelo
secreto da civilização ocidental. Herói sem penacho na cabeça,
como Heitor, o do capacete fulgente. Telefonar à Marta (esqueci-me de
pagar o telefone, o aviso ficou em cima do frigorífico).
Outrora
Agora

 Maria
Velho da Costa (1938), revelação romanesca fulgurante com
Maina Mendes, 1969, centrado na figura feminina que assume a
ancestralidade, a rebeldia, o prazer, a criação e a dor como lugares
de afirmação do ser, prolonga esta temática em Casas Pardas,
1977, que evidencia o seu modo poliédrico de compôr textos em registos
diferenciados de discurso, porém de orgânica composicional sempre
segura e coesa, e veiculando uma pungência de sensibilidade que confere
ainda mais acutilância ao seu rigor formal (igualmente afirmado
posteriormente em Missa in Albis, 1988, ou Dores, 1995).
Maria
Velho da Costa (1938), revelação romanesca fulgurante com
Maina Mendes, 1969, centrado na figura feminina que assume a
ancestralidade, a rebeldia, o prazer, a criação e a dor como lugares
de afirmação do ser, prolonga esta temática em Casas Pardas,
1977, que evidencia o seu modo poliédrico de compôr textos em registos
diferenciados de discurso, porém de orgânica composicional sempre
segura e coesa, e veiculando uma pungência de sensibilidade que confere
ainda mais acutilância ao seu rigor formal (igualmente afirmado
posteriormente em Missa in Albis, 1988, ou Dores, 1995).
Ah, digo-lhe que
há um descontentamento que contenta, o tagarela, o que pode dizer-se
com justeza e ouvir-se com gravidade, há festins de descontentamento
e que bodo temos tido a esta vocação de carpidores que logo nos toma
quando não estamos de partida. Creio mesmo que a saudade é amargor
de paragem, não de distância. E isso me bateu ontem, de novo, cada
vez mais certamente, no cais de Alcântara com as gaivotas
adormentadas como pequenos patos, quietas no baloiço das águas, que
reles somos quando não temos para onde ir.
Maina Mendes
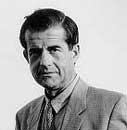 
Almeida
Faria (1943): Muito jovem, publicou dois excelentes
romances, Rumor Branco, 1962, e A Paixão, 1965 que
revelam um talento seguro na arte de narrar, praticando simultaneamente
inovações espectaculares, de desarticulação discursiva e de hibridez
de modalidades, na escrita romanesca. A sua carreira posterior tem-se
mantido regular, sublinhando os efeitos intertextuais (nomeadamente
incluindo textos da arte e da comunicação em geral) e uma aguda ironia
que afirma uma vocação satírica na observação de costumes e de
ambientes político-sociais, nomeadamente na transição do 25 de Abril
(Lusitânia, 1980, O Conquistador, 1990).
A morte os
aflorou, com sua negra asa, com seu mistério fino e arrepiante e
cavo, e então os homens viram quão sós e só entregues a si mesmos
estavam e ao seu nada; mas o perigo passou, ou pensam que passou, e as
bocas, ainda há pouco pejadas de desgraça, unem-se já para soltar
um uivo ou um soluço, o uivo de cada cão que escapou à tormenta e
sente o sabor da morte ainda em cima, o soluço de alívio e também
de tristeza daqueles que se livram dum infinito túnel.
A
Paixão

 António
Lobo Antunes (1942) foi a grande revelação do final da década
de oitenta, com dois romances de grande êxito: Memória de Elefante
e Os Cus de Judas, que traçam, numa escrita desenvolta e de
prodigiosos efeitos metafóricos, uma visão deceptiva da guerra
colonial e da geração que de forma contrafeita lhe deu corpo. De produção
romanesca regular a partir de então, tem alcançado grande projecção
internacional e mantém uma aguda consciência crítica do ambiente
contemporâneo e da memória nacional do passado recente, com Auto
dos Danados, 1985, ou Manual dos Inquisidores, 1996, ou mesmo
do passado português mais glorioso, em gesto simultâneo de homenagem e
de libelo acusatório e dolorido (As Naus, 1988). António
Lobo Antunes (1942) foi a grande revelação do final da década
de oitenta, com dois romances de grande êxito: Memória de Elefante
e Os Cus de Judas, que traçam, numa escrita desenvolta e de
prodigiosos efeitos metafóricos, uma visão deceptiva da guerra
colonial e da geração que de forma contrafeita lhe deu corpo. De produção
romanesca regular a partir de então, tem alcançado grande projecção
internacional e mantém uma aguda consciência crítica do ambiente
contemporâneo e da memória nacional do passado recente, com Auto
dos Danados, 1985, ou Manual dos Inquisidores, 1996, ou mesmo
do passado português mais glorioso, em gesto simultâneo de homenagem e
de libelo acusatório e dolorido (As Naus, 1988).
Não são só os
ratos, aliás, que moram connosco no sótão. Possuímos um jardim
zoológico completo de formigas, melgas, traças, centopeias, aranhas,
grilos, carunchos, que presumo alimentarem-se da mesma falta de comida
do que nós, sem contar as borboletas que se esmagam contra as lâmpadas,
no verão, e se reduzem de imediato a um pozinho escuro de verniz. E há
os pombos. E as rolas. E os barcos, como lesmas, no Tejo. E os
vizinhos em camisola interior, incapazes de voar, crucificados nos
craveiros das varandas. E tu e eu, cada vez mais transparentes e
magros, a prepararmos o pequeno almoço de meio grama de heroína da
injecção da manhã.
Auto
dos Danados

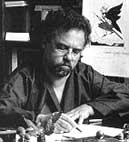 Mário
Cláudio (1941), firmando-se de início como poeta e
cultivando vários géneros literários, é sobretudo conhecido como
ficcionista desde a publicação de Um Verão Assim, 1974,
reafirmando-se com Damascena, 1983, e sendo reconhecido como um
dos grandes vultos da ficção portuguesa contemporânea a partir da sua
Trilogia da Mão (com volumes sobre Amadeo Souza-Cardoso, Guilhermina
Suggia e Rosa Ramalho). O pendor para as formas literárias de
reconstituição, aliando a capacidade de evocação de ambientes e
figuras a uma muito pessoal subjectividade de deformação criativa,
acentua-se em muitas das suas obras posteriores, como A Quinta das
Virtudes, 1990, ou As Batalhas do Caia, 1995. Mário
Cláudio (1941), firmando-se de início como poeta e
cultivando vários géneros literários, é sobretudo conhecido como
ficcionista desde a publicação de Um Verão Assim, 1974,
reafirmando-se com Damascena, 1983, e sendo reconhecido como um
dos grandes vultos da ficção portuguesa contemporânea a partir da sua
Trilogia da Mão (com volumes sobre Amadeo Souza-Cardoso, Guilhermina
Suggia e Rosa Ramalho). O pendor para as formas literárias de
reconstituição, aliando a capacidade de evocação de ambientes e
figuras a uma muito pessoal subjectividade de deformação criativa,
acentua-se em muitas das suas obras posteriores, como A Quinta das
Virtudes, 1990, ou As Batalhas do Caia, 1995.
Fora Cândida
Branca fruto de certo romance, fugacíssimo e intenso, entre um
cocheiro de mala-posta, casado e pai de outras duas raparigas, e uma
vendedeira de doces, da aldeia de Irivo, no fojo de Penafiel.
Haviam-se avistado seus progenitores, na romaria da Senhora Aparecida,
por uma longa jornada ardente, dessas que fazem desfalecer os próprios
milheirais. E, no meio das espigas, engendrara-se a pequena, crescendo
à sombra, depois, da doceira, a qual acharia, mais tarde, um rapaz de
quinta, disposto a recebê-la, por consorte.
A
Quinta das Virtudes

 Maria
Gabriela Llansol (1931-2008) é um caso ímpar na ficção contemporânea, de jorrante, inesperada e original criatividade. De estilo muito próprio, a sua forte personalidade afirmou-se desde 1957, com as narrativas de Os Pregos na Erva, consolidando-se com O
Livro das Comunidades, 1978, e com todas as suas obras posteriores,
de que poderemos salientar A Restante Vida, 1978, e Um Beijo
Dado mais tarde, 1990, e Lisboaleipzig, 1994 e 1995. Aliando
a subjectividade enunciativa a um forte pendor mítico de implicação lírica,
que funda numa visão da vida e do mundo de tipo religioso herético,
sensualista e naturalista, a sua ficção caracteriza-se por uma
hibridez de registos e de convocação, temporal e espacial de
entidades, que no entanto assume uma coesão que lhe é dada por uma
marca discursiva persistente e inconfundível. Maria
Gabriela Llansol (1931-2008) é um caso ímpar na ficção contemporânea, de jorrante, inesperada e original criatividade. De estilo muito próprio, a sua forte personalidade afirmou-se desde 1957, com as narrativas de Os Pregos na Erva, consolidando-se com O
Livro das Comunidades, 1978, e com todas as suas obras posteriores,
de que poderemos salientar A Restante Vida, 1978, e Um Beijo
Dado mais tarde, 1990, e Lisboaleipzig, 1994 e 1995. Aliando
a subjectividade enunciativa a um forte pendor mítico de implicação lírica,
que funda numa visão da vida e do mundo de tipo religioso herético,
sensualista e naturalista, a sua ficção caracteriza-se por uma
hibridez de registos e de convocação, temporal e espacial de
entidades, que no entanto assume uma coesão que lhe é dada por uma
marca discursiva persistente e inconfundível.
O texto é a única
forma de identificar o sexo e a humanidade de alguém porque, ó poeta
estranho, o sexo de alguém, é a sua narrativa. A sua, ou a que o
texto conta, no seu lugar. Assim o sexo será como for o lugar do
texto.
Quando se deseja
alguém, como tu desejas Infausta, e ela deseja Johann, é o seu lugar
cénico que se deseja,
os gestos do texto que descreve no espaço
e chamar-lhe
precioso companheiro;
de mim, direi que fui uma vez enviado,
trouxeste a frase que nunca antes leras,
o meu corpo a disse, e não reparaste que ficaste com ela escrita.
Lisboaleipzig
2

  Mário
de Carvalho (1944) e Luísa
Costa Gomes (1954), embora de idades distanciadas, são
duas personalidades literárias afirmadas durante os anos oitenta mas
confiimadas mais ou menos pelos finais da década, o primeiro com A
Paixão do Conde de Fróis, 1986, e a segunda com O Pequeno Mundo,
de 1988. Ligado às reconstituições histórico-paródicas, Mário de
Carvalho produziu uma obra de teor complexo com o seu recente Um Deus
Passeando na Brisa da tarde, 1994, romance sobre os alvores e
implicações do cristianismo e possibilidade da sua releitura actual, e
Luísa Costa Gomes deu-nos, em Olhos Verdes, 1994, uma singular
obra de simulação e crítica da publicidade e das solicitações mediáticas.
Praticando ambos uma escrita de recorte sintáctico clássico, e
assumindo uma temática colhida no comum ou mesmo no vulgar,
salientam-se pelo modo como lhe incutem cambiantes inesperados e
sentidos de intensa acutilância reflexiva e crítica. Mário
de Carvalho (1944) e Luísa
Costa Gomes (1954), embora de idades distanciadas, são
duas personalidades literárias afirmadas durante os anos oitenta mas
confiimadas mais ou menos pelos finais da década, o primeiro com A
Paixão do Conde de Fróis, 1986, e a segunda com O Pequeno Mundo,
de 1988. Ligado às reconstituições histórico-paródicas, Mário de
Carvalho produziu uma obra de teor complexo com o seu recente Um Deus
Passeando na Brisa da tarde, 1994, romance sobre os alvores e
implicações do cristianismo e possibilidade da sua releitura actual, e
Luísa Costa Gomes deu-nos, em Olhos Verdes, 1994, uma singular
obra de simulação e crítica da publicidade e das solicitações mediáticas.
Praticando ambos uma escrita de recorte sintáctico clássico, e
assumindo uma temática colhida no comum ou mesmo no vulgar,
salientam-se pelo modo como lhe incutem cambiantes inesperados e
sentidos de intensa acutilância reflexiva e crítica.
A chouto rápido,
os dois cavaleiros prosseguiam agora pela charneca, já muito
apartados da carreteiro, desandando para as bandas da raia.
Contornaram um pinheiral em redondo, hesitaram à vista do plaino nu
que a pequena elevação da praça dominava e lançaram-se num galope
acelerado, a descoberto, obliquando contra a Espanha. Em pouco se
sumiam, deixando como sinal do percurso uma mó de poeira que se ia
tornando mais e mais ténue deste lado de cá.
Mário
de Carvalho, A Paixão do Conde de Fróis
Os interesses
dele eram as empresas, os utilitários, a carpintaria artística e o
espaço. Futebol via de vez em quando. Tinha teorias sobre as coisas e
ambicionava partilhá-las com outros. Explicava-se com clareza, embora
não se pudesse considerar que fizesse sempre todo o sentido. O que o
intrigava sobremaneira era o espaço, o espaço que permeava tudo, o
ar vazio entre a secretária e a cadeira, entre o rosto e a mão,
entre o chão e o tecto. Disse que tinha a certeza de que todos os
espaços vazios tinham um significado profundo.
Luísa
Costa Gomes, Olhos Verdes

Muitos outros romancistas e poetas
enriquecem a nossa literatura e tornam difícil a sua sinopse. Os
contemporâneos são isso mesmo: o excesso em relação ao olhar do crítico,
o transbordar da vida e da sua continuidade inesgotável em relação ao
crivo do historiador.
Fiquemos, ainda, pois, com poetas como Egito
Gonçalves, Nuno Júdice,
Vasco Graça Moura, António
Franco Alexandre, João
Miguel Fernandes Jorge, Paulo
Teixeira - e o mesmo diremos dos escritores de ficção: Maria
Isabel Barreno, Maria
Teresa Horta, Hélia
Correia, Alexandre
Pinheiro Torres, Eduarda
Dionísio e tantos outros.
São todos estes, aliás, aqueles de que
não chegámos a falar e os que nem sequer nomeámos, que dão sentido
ao que aqui se escreveu, para que fique incompleto, e fazer sentir o
quanto a literatura é viva e desmedida, porque ela é antes de mais
leitura e tempo, e não fixidez, e não cabe afinal em nenhuma página:
|