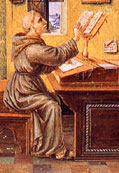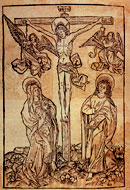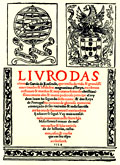|
|
|||||||||||||
A primeira referência a este termo, já anotada pelos dicionários etimológicos, vamos encontrá-la num texto proveniente do scriptorium do Mosteiro de Alcobaça e que Frei Fortunato de S. Boaventura incluiu no segundo volume da Colecção de Inéditos Portugueses (1829). Possivelmente do século XIV, as Historias d’abreviado Testamento Velho contam, seguindo o Génesis, no capítulo 79, a chegada dos irmãos de José ao Egipto em tempo de fome. Como é sabido, José, filho de Jacob, tinha sido vendido pelos irmãos, os mesmos que José agora recebe no Egipto, onde granjeara os favores do faraó. Por não pretender desvendar o parentesco que o unia aos irmãos, José utiliza os serviços do intérprete. Diz o texto:
(...) fez prender huu deles, que havia nome Symeom, e leixou os outros, e eles diziam huus contra os outros, per sua linguagem: com dereito padecemos esto, porque pecamos em nosso irmaaõ, veendo a coita da sua alma, quando nos rogava, e non o quisemos ouvir; e eles cuidavam que os non entendia Joseph, porque ele non lhe falava senon per torgimam.
Já no século XV, Frei João Álvares utiliza o termo várias vezes na sua obra Tratado da Vida e Feitos do Muito Virtuoso Senhor Infante D. Fernando. Talvez redigida durante a década de cinquenta do século XV e relatando acontecimentos recentes, presenciados pelo próprio autor, a obra de Frei João Álvares deve considerar-se como um dos documentos mais importantes para a decifração temporal do uso do termo. Será necessário referir que o autor da obra relata a vida do ‘Infante Santo’, (irmão do rei D. Duarte, de D. Pedro e de D. Henrique), de quem fora secretário e que acompanhara no cerco de Tânger em 1437. O insucesso de Tânger tornou cativos em Fez, entre outros, o Infante e o secretário.
No cativeiro viria a falecer, em 1443, D. Fernando. Devem, por conseguinte, merecer-nos toda a confiança as informações de Frei João Álvares, das quais destacamos, evidentemente, as relativas à comunicação entre ‘mouros’ e ‘cristãos’. Assim, o termo turgimão surge no momento da entrega do Infante e da sua comitiva e durante o cativeiro, uma primeira vez para situar os ‘recados’ para o Infante cativo provenientes de Çala bem Çala (‘senhor de Fez’) e, mais tarde, para descrever o modo utilizado pelo Infante para comunicar com quem o mantinha no cativeiro.
Com o Ifante nom hya a cavalo salvo Çala bem Çala e huu christãao que la vivia com ele, a que chamavam alcaide Migeel, que foy aly torgimom das entregas do Ifante. (...) E com estas razõoes concluiu e se foy. E jamais dally adiante nunca quis (Çala bem Çala, senhor de Fez) viir veer o Ifante nem falar com ell, senom enviava.lhe seus recados per huu judeu que era torgimam. (...)
Situando-nos ainda no século XV e, mais precisamente, no reinado de D. Afonso V (1448-1481), dirigimos agora a nossa atenção para a corte portuguesa e para um nome que aí desempenhou o cargo de intérprete. Uma carta da Chancelaria de D. Afonso V revela-nos o nome de Diogo Dias, que o Rei refere como “seu turgimão”. Datada de 1465, a carta não menciona o momento em que Diogo Dias foi nomeado ou quem o substituiu no cargo. De resto, a carta não lhe diz directamente respeito. Ela assinala apenas o seu empenho junto do Rei a favor do castelhano Rodrigo de Sevilha, que pretendia lhe fosse autorizado o porte de armas.
A quantos esta carta virem fazemos saber que querendo nós fazer graça e mercê a R. de Sevilha, castelhano, morador em Lisboa, pelo de Diogo Dias, nosso turgimão, que no-lo por ele pediu, temos por bem e queremos que daqui em diante ele possa trazer de noite e de dia quaisquer armas que lhe aprouver por todos nossos reinos e senhorio.
Transitamos agora para os cronistas e autores que escreveram sobre os primeiros momentos da Expansão Portuguesa. Se, até aqui, os dados apresentados revelam um único nome para designar o intérprete durante a Idade Média, os próximos indicam uma época que vê nascer outra designação. É, por conseguinte, um momento de transição aquele que ainda utiliza o termo turgimão, mas que faz já uso do novo termo - língua - e onde a utilização do termo antigo parece necessitar já de alguma explicação.
O termo preferido do cronista Gomes Eanes de Azurara é ainda o de turgimão, embora aqui e além constatemos a utilização do termo “enterpetador” na sua Crónica de Guiné. O referido momento de transição deve situar-se, por conseguinte, entre os últimos anos do reinado de D. Afonso V e o início da reinado de D. João II. Numa carta de alforria de 1477 (reinado de D. Afonso V), o Príncipe D. João, futuro rei D. João II, refere que João Garrido “fora algumas vezes por língua à Guiné”. Recordamos que há pouco mencionámos uma carta da Chancelaria de D. Afonso V onde o termo utilizado foi o de turgimão.
E se este termo aparece ainda no Cancioneiro Geral, compilado e publicado por Garcia de Resende em 1516, mas cujas composições, pelo menos para um grande número delas, datam de anos muito anteriores à data da publicação, já na obra do mesmo autor, a Crónica de João II, provavelmente escrita na década de trinta do século XVI, é o termo língua o utilizado. Damos como exemplo o trecho seguinte no qual Garcia de Resende narra a segunda viagem de Diogo Cão ao Manicongo em 1485:
O qual hindo polla dita cofta com affaz perigo, e trabalho, foy ter com a dita armada ao rio de Manicongo, (...) o qual rio, e terra de Congo he de Portugal mil e fetecentas legoas, onde por fer tão longe da outra terra de Guine já defcuberta não fe poderão entender com a gente da terra, e levando muytas lingoas nenhua entendia, nem fabia aquella lingoagem. Notemos ainda que o termo existia e era de uso corrente nesta época em castelhano, francês e italiano, com as diferenças próprias de cada língua. Introduzido pelos árabes, que o adoptaram do Caldeu, onde significava ‘expositor’, o termo (torgeman), tounou-se truchement ou trucheman na língua francesa. O italiano Cadamosto escreve turcimano; mas, curiosamente, a tradução portuguesa da sua obra (Navegações) que conhecemos emprega não só o termo turgimão, mas também o termo língua, embora no original se encontre sempre turcimano.
|
||||||||||||||
| | Número 1 | Maio 2002 | Artigo . Nomear o Intérprete - Turgimão - Língua - Jurabaça Dicionário de tradutores e intérpretes de Língua Portuguesa . João Garrido . João Rodrigues de Sá Citação . Susan Bassnett Notícias . Associação de Informação Terminológica - AiT . Revista Discursos - série "Estudos de Tradução" . Lexicografia de Língua Portuguesa . Cimeira Mundial sobre Terminologia Ligações a outros sítios . Algumas ligações úteis Coordenadores Carlos Castilho Pais Margarita Correia Números publicados N.º 1 - Maio 2002 N.º 2 - Fevereiro 2003 N.º 3 - Dezembro 2003 N.º 4 - Maio 2004 N.º 5 - Dezembro 2004 N.º 6 - Abril 2005 N.º 7 - Junho 2005 N.º 8 - Abril 2006 N.º 9 - Agosto 2006 N.º 10 - Novembro 2006 N.º 11 - Abril 2007 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||